



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




GUSTÁVIA, SÃO BARTOLOMEU
NADA DISSO TERIA ACONTECIDO se Spider Barnes não tivesse ido ao Eddy’s duas noites antes da partida do Aurora. Spider era visto como o melhor chef de cozinha de embarcações de todo o Caribe: bravo, mas também insubstituível, um gênio louco de jaleco branco e avental. Spider, sabem, tinha treinamento clássico. Ele tinha trabalhado um tempo em Paris, um tempo em Londres e também em Nova York e São Francisco, além de ter tido uma estada infeliz em Miami antes de deixar o negócio de restaurantes para sempre e ser livre no mar. Ele trabalhava em grandes iates agora, o tipo de embarcação que estrelas de cinema, rappers, bilionários e quem gosta de aparecer alugava sempre que queriam impressionar. E, quando Spider não estava atrás do fogão, estava caído sobre os melhores balcões de bar em terra firme. O Eddy’s estava entre os cinco melhores do Caribe, talvez os cinco melhores do mundo. Ele começou às sete horas aquela noite com umas cervejas, fumou um baseado no jardim escuro às nove e, às dez, estava contemplando seu primeiro copo de rum de baunilha. Tudo parecia ótimo no mundo. Spider Barnes estava tonto e no paraíso.
Mas então ele viu Verônica, e a noite fez uma curva perigosa. Ela era nova na ilha, uma garota perdida, uma europeia de procedência incerta que servia bebidas para turistas no bar de mergulhadores ao lado. Era bonita, no entanto — “bonita como um toque floral”, Spider comentou com seu companheiro de bebida — e se apaixonou por ela em dez segundos. Pediu a garota em casamento, que era a principal cantada de Spider, e quando ela recusou, ele sugeriu que fossem para a cama, então. De alguma forma, isso funcionou e os dois foram vistos cambaleando sob uma chuva torrencial à meia-noite. E essa foi a última vez que alguém o viu: à meia-noite e meia de uma noite chuvosa em Gustávia, totalmente molhado, bêbado e novamente apaixonado.
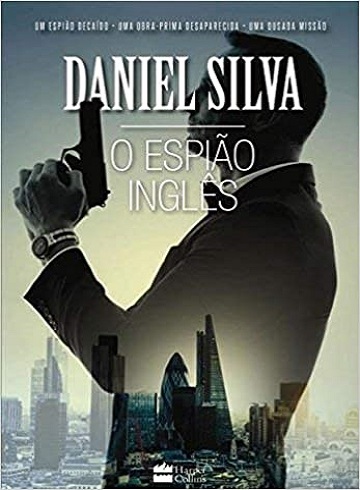
O capitão do Aurora, um iate luxuoso de 154 pés de Nassau, era um homem chamado Ogilvy — Reginald Ogilvy, ex-membro da Royal Navy, um ditador benevolente que dormia com uma cópia do regulamento no criado-mudo, junto com a Bíblia do Rei James de seu avô. Ele nunca tinha se importado com Spider Barnes, não antes das nove da manhã seguinte, quando o renomado chef não apareceu na reunião regular da equipe. Não era uma reunião comum, pois o Aurora estava sendo preparado para um convidado muito importante. Só Ogilvy conhecia sua identidade. Ele também sabia que os acompanhantes incluíam uma equipe de seguranças e que a pessoa era exigente, para dizer o mínimo, o que explicava por que ficou alarmado pela ausência de Spider.
Ogilvy informou a situação ao supervisor do porto de Gustávia, que rapidamente informou à polícia local. Dois policiais bateram à porta da pequena casa de Verônica no alto da colina, mas não havia nenhum sinal dela também. Em seguida, realizaram uma busca nos vários pontos da ilha onde os bêbados e os apaixonados tipicamente se lavavam depois de uma noite de devassidão. Um sueco com o rosto vermelho no Le Select afirmou ter pagado uma Heineken a Spider aquela manhã. Outro disse que o viu caminhando pela praia em Colombier, e houve uma informação, nunca confirmada, de uma pessoa inconsolável uivando para a lua nos bosques de Toiny.
A polícia seguiu cada uma das pistas. Reviraram a ilha de norte a sul, de popa a proa, sem encontrar nada. Alguns minutos depois do pôr do sol, Reginald Ogilvy informou à equipe do Aurora que Spider Barnes tinha desaparecido e que um substituto à altura teria de ser encontrado o mais rápido possível. A equipe se espalhou pela ilha, dos restaurantes à beira-mar de Gustávia às barracas de praia do Grand Cul-de-Sac. E, às nove da noite, em um dos lugares menos prováveis, eles encontraram seu homem.
Ele tinha chegado à ilha no auge da temporada de furacões e se estabeleceu em uma casa no fim da praia de Lorient. Não tinha bagagem a não ser uma mochila de lona, uma pilha de livros bastante folheados, um rádio de onda curtas e uma scooter velha que tinha comprado em Gustávia com umas notas encardidas e um sorriso. Os livros eram grossos, pesados e muito usados; o rádio tinha uma qualidade raramente vista hoje em dia. No final da noite, quando ele se sentava na varanda meio inclinada, lendo à luz de uma lanterna à pilha, o som da música flutuava acima do farfalhar das folhas de palmeira e o gentil ir e vir das ondas. Jazz e clássica, principalmente, e às vezes um pouco de reggae das estações de outros países. A cada hora, ele deixava o livro e ouvia atentamente as notícias da BBC. Então, quando terminava o boletim, ele procurava algo de que gostasse, e as palmeiras e o mar mais uma vez dançavam ao ritmo de sua música.
No começo, não estava claro se estava de férias, de passagem, se escondendo ou planejando viver permanentemente na ilha. Dinheiro não parecia ser um problema. De manhã, quando ia à confeitaria tomar o café da manhã, sempre dava boas gorjetas às garotas. E à tarde, quando parava no pequeno mercado perto do cemitério para comprar cerveja alemã e cigarro americano, nunca se importava com o troco que saía do dispensador automático. Seu francês era razoável, mas tingido com um sotaque que ninguém conseguia identificar. Seu espanhol, que ele falava com o dominicano que trabalhava no balcão do JoJo Burger, era muito melhor, mas ainda havia aquele sotaque. As garotas na confeitaria decidiram que ele era australiano, mas os garotos do JoJo Burger achavam que era africânder. Estavam por todo o Caribe, os africânderes. Na maior parte, gente decente, mas uns poucos deles tinham negócios escusos.
Os dias dele, apesar de indefinidos, não pareciam totalmente despropositados. Ele tomava café na confeitaria, parava na banca de jornal em Saint-Jean para comprar vários jornais ingleses e americanos do dia anterior, fazia exercícios rigorosos na praia, lia densos volumes de literatura e história com um chapéu cobrindo os olhos. E, certa vez, ele alugou um barco e passou a tarde mergulhando na ilha de Tortu. Mas sua inatividade parecia mais forçada do que voluntária. Ele parecia um soldado ferido esperando voltar ao campo de batalha, um exilado sonhando com sua terra natal, onde quer que fosse.
De acordo com Jean-Marc, oficial de aduana no aeroporto, ele tinha chegado em um voo de Guadalupe com um passaporte venezuelano válido e o peculiar nome de Colin Hernandez. Parecia ser o produto de um breve casamento entre uma mãe anglo-irlandesa e um pai espanhol. A mãe tinha brincado de ser poeta; o pai tinha feito algo suspeito com dinheiro. Colin odiava o pai, mas falava da mãe como se a canonização fosse uma mera formalidade. Carregava a foto dela em sua carteira. O menino loiro no colo dela não se parecia muito com ele, mas o tempo fazia essas coisas.
O passaporte dizia que tinha 38, o que parecia correto, e sua ocupação era “empresário”, o que podia significar qualquer coisa. As garotas da padaria achavam que era um escritor buscando inspiração. O que mais explicaria o fato de que quase nunca era visto sem um livro? Mas as garotas do mercado criaram uma louca teoria, totalmente sem base, de que ele tinha assassinado um homem em Guadalupe e estava se escondendo em São Bartolomeu até a tempestade passar. O dominicano do JoJo Burger, que estava se escondendo, achou a hipótese ridícula. Colin Hernandez, ele declarou, era apenas outro preguiçoso vivendo do dinheiro de um pai que odiava. Ele ficaria ali até se cansar, ou até o dinheiro acabar. Aí voaria para outro lugar e, em dois ou três dias, ninguém nem se lembraria do nome dele.
Finalmente, um mês depois de sua chegada, houve uma pequena mudança na rotina. Depois de almoçar no JoJo Burger, ele foi até o barbeiro em Saint-Jean, e quando saiu, sua juba negra desgrenhada estava raspada, esculpida e lustrosamente azeitada. Na manhã seguinte, quando apareceu na padaria, estava recém-barbeado e vestido com calça cáqui e uma camisa branca bem passada. Ele tomou o café de sempre — uma xícara grande de café com leite e uma fatia de pão — enquanto lia o Times de Londres do dia anterior. Aí, em vez de voltar para casa, ele subiu na scooter e foi até Gustávia. Ao meio-dia, finalmente ficou claro por que o homem chamado Colin Hernandez tinha vindo a São Bartolomeu.
Ele foi primeiro ao velho e imponente hotel Carl Gustaf, mas o chef, depois de saber que ele não tinha nenhum treinamento formal, se recusou a entrevistá-lo. Os donos do Maya’s o recusaram educadamente, assim como os gerentes do Wall House, Ocean e La Cantina. Ele tentou o La Plage, mas não se interessaram. Nem o Eden Rock, o Guanahani, La Crêperie, Le Jardin ou Le Grain de Sel, o solitário posto de frente para os pântanos de sal de Saline. Até La Gloriette, fundado por um exilado político, não quis nada com ele.
Decidido, ele tentou a sorte nas joias pouco conhecidas da ilha: o bar do aeroporto, o boteco Creole do outro lado da rua, o pequeno estabelecimento que vendia pizza e panini no estacionamento do supermercado L’Oasis. E foi ali que a sorte finalmente sorriu para ele, pois descobriu que o chef no Le Piment tinha sido despedido depois de uma longa disputa sobre horas e salário. Às quatro horas daquela tarde, depois de demonstrar suas habilidades na minúscula cozinha do Le Piment, ele foi contratado. Trabalhou seu primeiro turno aquela mesma noite. As críticas foram todas brilhantes.
Na verdade, não demorou muito para que suas proezas culinárias se espalhassem pela pequena ilha. Le Piment, antes lugar frequentado apenas por nativos e habitués, logo estava cheio de uma nova clientela, todos elogiando o novo chef misterioso com esse peculiar nome anglo-espanhol. O Carl Gustaf tentou roubá-lo, assim como o Eden Rock, o Guanahani e o La Plage, todos sem sucesso. Portanto, Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, estava pessimista quando apareceu no Le Piment sem fazer reserva, na noite posterior ao desaparecimento de Spider Barnes. Foi forçado a esperar por trinta minutos no bar antes de finalmente conseguir uma mesa. Pediu três tira-gostos e três entradas. E depois de experimentar cada um, pediu para falar com o chef. Dez minutos se passaram antes de ele aparecer.
— Com fome? — perguntou o homem chamado Colin Hernandez, olhando os pratos de comida.
— Não muito.
— Então, por que veio aqui?
— Queria ver se você era tão bom quanto todos parecem pensar que é.
Ogilvy esticou a mão e se apresentou — posto e nome, seguido pelo nome do barco. O homem chamado Colin Hernandez levantou a sobrancelha, curioso.
— O Aurora é o barco de Spider Barnes, não é?
— Conhece o Spider?
— Acho que já tomei algo com ele uma vez.
— Não foi o único.
Ogilvy olhou bem para a figura parada na frente dele. Era compacto, forte, formidável. Para o olho agudo do inglês, ele parecia um homem que tinha navegado por mares duros. Sua sobrancelha era escura e grossa; o queixo era robusto e resoluto. É um rosto, pensou Ogilvy, feito para aguentar um soco.
— Você é venezuelano — ele disse.
— Quem falou?
— Todo mundo que se recusou a contratá-lo quando estava procurando emprego.
Os olhos de Ogilvy foram do rosto para a mão descansando nas costas da cadeira. Não havia evidências de tatuagens, o que ele viu como um sinal positivo. Ogilvy via a cultura moderna da tinta como uma forma de automutilação.
— Você bebe? — ele perguntou.
— Não como o Spider.
— Casado?
— Só uma vez.
— Filhos?
— Deus, não.
— Vícios?
— Coltrane e Monk.
— Já matou alguém?
— Não que me lembre.
Disse isso com um sorriso. Reginald Ogilvy também sorriu.
— Estou me perguntando se poderia tentá-lo a deixar esse lugar — falou, olhando para o modesto salão aberto do restaurante. — Estou preparado para pagar um salário generoso. E quando não estivermos no mar, você terá muito tempo livre para fazer o que gosta de fazer quando não está cozinhando.
— Quanto generoso?
— Dois mil por semana.
— Quanto o Spider estava ganhando?
— Três — respondeu Ogilvy depois de hesitar por um momento. — Mas o Spider ficou comigo por dois anos.
— Ele não está mais com você agora, está?
Ogilvy fingiu pensar um pouco.
— Três, então — ele falou. — Mas preciso que você comece imediatamente.
— Quando você parte?
— Amanhã de manhã.
— Nesse caso — disse o homem chamado Colin Hernandez — acho que terá de me pagar quatro.
Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, olhou os pratos de comida antes se levantar.
— Oito horas — ele falou. — Não se atrase.
François, o dono do Le Piment, um marselhês bravo, não recebeu bem a notícia. Soltou uma série de xingamentos no rápido patois do sul. Houve promessas de vingança. E também uma garrafa de um Bordeaux bastante bom, vazia, quebrando-se em milhares de pedaços quando se espatifou contra a parede da pequena cozinha. Mais tarde, François negaria que tinha mirado em seu antigo chef. Mas Isabelle, uma garçonete que presenciou o incidente, iria questionar a versão dele dos eventos. François, ela jurou, tinha jogado a garrafa como se fosse uma adaga diretamente na cabeça de Monsieur Hernandez. E Monsieur Hernandez, ela se lembra, tinha se esquivado do objeto com um movimento que foi tão curto e rápido que ocorreu em um piscar de olho. Depois, ele olhou friamente por um longo tempo para François como se estivesse decidindo a melhor forma de quebrar o pescoço dele. Então, calmamente, tirou seu avental branco limpo e subiu em sua scooter.
Passou o resto da noite na varanda de sua casa, lendo sob a luz da lâmpada de querosene. E, a cada hora, ele abaixava seu livro e ouvia o noticiário da BBC com o vaivém das ondas na praia e o balanço das folhas das palmeiras com o vento noturno. De manhã, após um mergulho revigorante no mar, tomou banho, se vestiu e empacotou as coisas na mochila: roupas, livros e o rádio. Além disso, empacotou dois itens que tinham sido deixados para ele na ilha de Tortu: uma Stechkin 9mm com silenciador e um pacote retangular, trinta por cinquenta centímetros. O pacote pesava exatamente sete quilos. Ele o colocou no centro da mochila, assim ela ficaria bem equilibrada quando fosse carregada.
Deixou a praia de Lorient pela última vez às sete e meia e, com a mochila sobre o joelho, foi para Gustávia. O Aurora brilhava na ponta do porto. Ele subiu às dez para as oito e a sous-chef, uma garota inglesa magra com o nome improvável de Amelia List, mostrou qual era a cabine dele. Guardou suas posses no armário — incluindo o revólver Stechkin e o pacote de sete quilos — e vestiu as roupas de chef que tinham sido deixadas na cama para ele. Amelia List estava esperando no corredor quando ele saiu. Ela o acompanhou até a cozinha e apresentou a despensa de produtos secos, a geladeira e a adega cheia de vinhos. Foi ali, no frio escuro, que ele teve seu primeiro pensamento sexual com a garota inglesa em seu uniforme branco. Não fez nada para evitar. Estava solteiro havia tantos meses que quase nem conseguia se lembrar como era tocar o cabelo de uma mulher ou acariciar a pele de um seio indefeso.
Alguns minutos antes das dez horas veio o anúncio pelo intercomunicador do barco instruindo a todos os membros da tripulação a se apresentarem no deque posterior. O homem chamado Colin Hernandez seguiu Amelia List até o lado de fora e estava parado ao lado dela quando duas Range Rovers negras brecaram na popa do Aurora. Da primeira saíram duas garotas queimadas de sol, rindo, e um homem com o rosto rosa-claro, de cerca de quarenta e poucos anos, carregando auma sacola de praia cor-de-rosa em uma mão e o gargalo de uma garrafa aberta de champanhe na outra. Dois homens atléticos desceram do segundo Rover, seguidos um momento depois por uma mulher que parecia estar sofrendo de um caso terminal de melancolia. Usava um vestido cor de pêssego que deixava a impressão de nudez parcial, um chapéu de amplas abas que escondiam seus ombros delgados e grandes óculos escuros que cobriam boa parte de seu rosto de porcelana. Mesmo assim, ela era instantaneamente reconhecível. Seu perfil a traía, o perfil tão admirado pelos fotógrafos de moda e os paparazzi que a seguiam para aonde fosse. Não havia paparazzi naquela manhã. Dessa vez, ela conseguiu enganá-los.
A mulher subiu no Aurora como se estivesse entrando em uma tumba aberta e passou pela equipe reunida sem uma palavra ou um olhar, caminhando tão perto do homem chamado Colin Hernandez que ele precisou suprimir a vontade de tocá-la para ter certeza de que era real e não um holograma. Cinco minutos depois, o Aurora partiu do porto e ao meio-dia a encantada ilha de São Bartolomeu era um ponto verde e marrom no horizonte. Esticada e de topless no deque da frente, uma bebida na mão, sua pele perfeita tostando ao sol, estava a mulher mais famosa do mundo. E no deque embaixo, preparando uma entrada de torta de atum, pepino e abacaxi, estava o homem que ia matá-la.
2
SAINDO DAS ILHAS DE BARLAVENTO
TODO MUNDO CONHECIA A história. Até aqueles que fingiam não se importar, ou mostravam desdém por seu culto de devoção mundial, conheciam todos os detalhes sórdidos. Ela era uma garota muito tímida e bonita de classe média de Kent, que tinha conseguido entrar em Cambridge e ele era o bonito e, um pouco mais velho, futuro rei da Inglaterra. Eles tinham se conhecido em um debate no campus que tinha algo a ver com o meio ambiente e, de acordo com a lenda, o futuro rei ficou instantaneamente apaixonado. Seguiu-se um longo namoro, quieto e discreto. A garota foi aprovada pelo povo do futuro rei; o futuro rei, pelo dela. Finalmente, um dos piores tabloides conseguiu tirar uma fotografia do casal deixando o baile de verão anual do duque de Rutland no castelo Belvoir. O Palácio de Buckingham soltou um comunicado morno confirmando o óbvio: que o futuro rei e a garota de classe média sem sangue aristocrático nas veias estavam namorando. Um mês depois, com os tabloides lotados de rumores e especulações, o palácio anunciou que a garota de classe média e o futuro rei planejavam se casar.
Isso aconteceu na catedral de St. Paul em uma manhã de junho, quando os céus do sul da Inglaterra estavam tomados pela chuva. Mais tarde, quando as coisas não foram bem, uma parte da imprensa britânica iria escrever que estavam condenados desde o começo. A garota, por temperamento e criação, não estava preparada para a vida no aquário real; e o futuro rei, pelas mesmas razões, não estava preparado para o casamento. Ele tinha muitas amantes, demais para serem contadas, e a garota o puniu levando um de seus guarda-costas para a cama. O futuro rei, quando ficou sabendo do caso dela, baniu o guarda para um posto solitário na Escócia. Consternada, a garota tentou se suicidar tomando uma overdose de pílulas para dormir e foi levada à emergência do Hospital St. Anne. O Palácio de Buckingham anunciou que ela estava sofrendo de desidratação causada por um surto de gripe. Quando perguntaram por que seu marido não a visitou no hospital, disseram algo sobre um conflito de agendas. A declaração oficial levantou muito mais perguntas do que respostas.
Quando ela teve alta, ficou óbvio para aqueles que seguiam a família real que a linda esposa do futuro rei não estava nada bem. Mesmo assim, ela cumpriu seus deveres matrimoniais dando dois herdeiros a ele, um menino e uma menina, os dois nascidos depois de períodos de gravidez breves e difíceis. O rei mostrou sua gratidão voltando para a cama de uma mulher a quem já tinha proposto casamento, e a princesa retaliou alcançando um grau de celebridade global que eclipsou a santa mãe do rei. Ela viajava pelo mundo apoiando causas nobres, uma horda de repórteres e fotógrafos acompanhando cada palavra e movimento dela e, mesmo assim, ninguém parecia notar que ela estava desenvolvendo algum tipo de loucura. Finalmente, com sua bênção e quieta assistência, a história apareceu nas páginas de um livro que contava tudo: as infidelidades de seu marido, os surtos de depressão, as tentativas de suicídio, os distúrbios alimentares causados pela constante exposição à imprensa e ao público. O futuro rei, com ódio, iniciou vários vazamentos de notícias retaliatórias sobre o comportamento errático de sua esposa. Aí aconteceu o golpe de misericórdia: a gravação de uma conversa telefônica apaixonada entre a princesa e seu amante favorito. Nesse momento, a rainha chegou ao limite. Com a monarquia em perigo, ela pediu que o casal se divorciasse o mais rápido possível. Eles fizeram isso um mês depois. O Palácio de Buckingham, sem um traço de ironia, publicou uma declaração afirmando que o fim do casamento real tinha sido “amigável”.
A princesa teve a permissão para manter seus aposentos no Palácio de Kensignton, mas perdeu o título de Sua Alteza Real. A rainha ofereceu um título inferior, mas ela recusou, preferindo ser chamada pelo nome. Ela até recusou seus guarda-costas SO14, pois achava que eram mais espiões do que seguranças. O palácio acompanhava discretamente seus movimentos e associações, assim como a inteligência britânica, que a via mais como um incômodo que como uma ameaça ao reino.
Em público, ela era o rosto radiante da compaixão global, mas por trás de portas fechadas, ela bebia muito e se cercava com um séquito que um conselheiro real descreveu como “eurolixo”. Nessa viagem, no entanto, havia menos acompanhantes que o normal. As duas mulheres bronzeadas eram amigas de infância; o homem que embarcou no Aurora com uma garrafa aberta de champanhe era Simon Hastings-Clarke, o visconde absurdamente rico que bancava o estilo de vida ao qual tinha se acostumado. Foi Hastings-Clarke que a levou para voar ao redor do mundo em sua frota de jatos, e era Hastings-Clarke que pagava a conta de seus guarda-costas. Os dois homens que a acompanhavam ao Caribe eram empregados de uma empresa de segurança privada em Londres. Antes de deixar Gustávia, eles tinham feito uma inspeção superficial sobre o Aurora e sua tripulação. Sobre o homem chamado Colin Hernandez, fizeram só uma pergunta: “O que vamos almoçar?”
A pedido da ex-princesa, o bufê foi leve, apesar de nem ela nem seus acompanhantes parecessem muito interessados. Beberam muito aquela tarde, torrando o corpo no forte sol, até que uma tempestade fez com que entrassem rindo em seus quartos. Ficaram lá até às nove da noite, quando saíram vestidos e penteados como se fossem a uma festa no jardim de Somerset. Tomaram coquetéis e comeram canapés no deque e depois foram até o salão principal para jantar: salada com trufas ao vinagrete, seguida de risoto de lagosta e costelas de cordeiro com alcachofra, limão forte, abobrinha e piment d’argile. A ex-princesa e seus acompanhantes declaram que a refeição tinha sido magnífica e exigiram a presença do chef. Quando ele finalmente apareceu, foi recebido com um aplauso infantil.
— O que vai nos fazer amanhã à noite? — perguntou a ex-princesa.
— É uma surpresa — ele respondeu, com seu peculiar sotaque.
— Ah, ótimo — ela disse, com o mesmo sorriso que ele já tinha visto em incontáveis capas de revistas. — Adoro surpresas.
Era uma equipe pequena, oito ao todo, e era responsabilidade do chef e da sua assistente cuidar da porcelana, das taças, da prataria e das panelas, além dos utensílios de cozinha. Eles ficaram lado a lado na pia muito depois que a ex-princesa e seus acompanhantes tinham saído, suas mãos ocasionalmente se tocando debaixo da água quente com sabão, o quadril ossudo dela pressionando a coxa dele. E, uma vez, quando passaram um atrás do outro no gabinete apertado, os bicos duros dos seios dela traçaram duas linhas nas costas dele, enviando uma descarga de eletricidade e sangue para o meio das pernas dele. Foram cada um para sua cabine, mas alguns minutos depois ele ouviu uma batida leve em sua porta. Ela o agarrou sem fazer nenhum som. Era como fazer amor com uma muda.
— Talvez tenha sido um erro — ela sussurrou no ouvido dele quando terminaram.
— Por que você está falando isso?
— Porque vamos trabalhar juntos por muito tempo.
— Não tanto.
— Você não está planejando ficar?
— Isso depende.
— Do quê?
Ele não falou mais nada. Ela deitou a cabeça no peito dele e fechou os olhos.
— Você não pode ficar aqui — ele disse.
— Eu sei — ela respondeu meio adormecida. — Só um pouco mais.
Ele ficou imóvel por muito tempo, com Amelia List dormindo em seu peito, o Aurora subindo e descendo debaixo dele e sua mente trabalhando sobre os detalhes do que iria acontecer. Finalmente, às três horas, ele saiu da cama e caminhou nu pela cabine até o armário. Em silêncio, vestiu sua calça preta, um suéter de lã e um casaco escuro à prova d’água. Tirou o envoltório do pacote — que media trinta por cinquenta centímetros e pesava exatamente sete quilos — e conectou a fonte de energia e o relógio do detonador. Colocou o pacote de volta no armário e ia pegar o revólver Stechkin quando ouviu a garota se mexer atrás dele. Virou-se lentamente e olhou para ela no escuro.
— O que era aquilo? — ela perguntou.
— Volte a dormir.
— Vi uma luz vermelha.
— Era meu rádio.
— Por que está ouvindo rádio às três da manhã?
Antes que ele pudesse responder, o abajur se acendeu. Os olhos dela correram pela roupa escura antes de pararem na arma com silenciador que ainda estava nas mãos dele. Ela abriu a boca para gritar, mas ele colocou sua palma sobre o rosto dela antes que qualquer som pudesse escapar. Enquanto ela lutava para se livrar da mão dele, o homem sussurrou baixinho no ouvido dela.
— Não se preocupe, meu amor — ele estava falando. — Só vai doer um pouco.
Os olhos se abriram com terror. Então ele girou a cabeça dela violentamente para a esquerda, quebrando sua coluna vertebral e a segurou gentilmente enquanto ela morria.
Não era costume de Reginald Ogilvy acordar logo cedo, mas a preocupação com a segurança de sua famosa passageira o levou à ponte de comando do Aurora nas primeiras horas daquela manhã. Estava verificando a previsão do tempo no computador de bordo, uma xícara de café fresco na mão, quando o homem chamado Colin Hernandez apareceu no alto da escada, vestido totalmente de preto. Ogilvy levantou a vista e perguntou:
— O que você está fazendo aqui? — Mas não recebeu nenhuma resposta a não ser dois tiros da Stechkin silenciada, que furaram seu uniforme e atingiram o coração.
A xícara de café caiu no chão; Ogilvy, instantaneamente morto, desabou pesado ao lado dela. Seu assassino caminhou calmamente pelo console, fez um ligeiro ajuste na direção do barco, e desceu a escada. O deque principal estava deserto, nenhum outro membro da tripulação estava de serviço. Ele baixou um dos botes no mar escuro, subiu e soltou a corda.
Deixou o bote livre, debaixo de um céu cheio de diamantes brancos, enquanto olhava o Aurora navegar para o leste em direção às linhas de barcos do Atlântico, sem piloto, um barco fantasma. Verificou seu relógio de pulso, que brilhava. Então, quando ele marcou zero, olhou para cima de novo. Mais 15 segundos se passaram, tempo suficiente para considerar a remota possibilidade de que a bomba tinha algum defeito. Finalmente, houve uma explosão no horizonte — a luz branca cegante do explosivo, seguida pelo laranja-amarelado da explosão secundária e do fogo.
O som era como um rumor de um trovão distante. Depois disso, só se ouvia o mar batendo contra a lateral do bote e o vento. Apertando um botão, ele ligou o motor de popa e ficou olhando enquanto o Aurora começava sua jornada para o fundo do mar. Então, direcionou o bote para o oeste e acelerou.
3
CARIBE — LONDRES
O PRIMEIRO INDICADOR DE PROBLEMAS veio quando o Pegasus Global Charters de Nassau informou que uma mensagem de rotina a um de seus barcos, o luxuoso iate de 47 metros, o Aurora, não tinha sido respondida. O centro de operações Pegasus imediatamente solicitou assistência de todos os barcos comerciais e de turismo na vizinha das Ilhas de Barlavento e, em poucos minutos, a tripulação de um petroleiro com bandeira liberiana informou que tinham visto uma luz estranha na área aproximadamente às 3h45 daquela manhã. Logo depois, a tripulação de um container viu um dos botes do Aurora flutuando vazio e sem rumo aproximadamente a cem milhas ao sudoeste de Gustávia. Simultaneamente, um barco particular encontrou coletes salva-vidas e outros restos flutuando algumas milhas ao oeste. Temendo o pior, a gerência da Pegasus ligou para o Alto Comissariado Britânico, em Kingston, e informou ao cônsul honorário que o Aurora estava desaparecido e possivelmente perdido. A gerência então enviou uma cópia da lista de passageiros, que incluía o nome da ex-princesa.
— Diga que não é ela — pediu o cônsul honorário, incrédulo, mas a gerência do Pegasus confirmou que a passageira era realmente a ex-esposa do futuro rei.
O cônsul imediatamente ligou para seus superiores no Foreign Office, em Londres, e os superiores determinaram que a situação era suficientemente grave para acordar o primeiro-ministro Jonathan Lancaster, e foi quando a crise realmente começou.
O primeiro-ministro deu a notícia ao futuro rei por telefone, à uma e meia, mas esperou até às nove para informar ao povo britânico e ao mundo. Parado na frente da porta preta do número 10 da Downing Street, o rosto triste, ele contou os fatos que eram conhecidos no momento. A ex-esposa do futuro rei tinha viajado ao Caribe na companhia de Simon Hastings-Clarke e duas amigas de longa data. Na ilha paradisíaca de São Bartolomeu, o grupo tinha subido ao luxuoso iate Aurora para um cruzeiro de uma semana. Todo contato com o barco tinha sido perdido e restos da embarcação foram encontrados espalhados pelo mar.
— Esperamos e oramos para que a princesa seja encontrada viva — disse o primeiro-ministro, solene. — Mas devemos nos preparar para o pior.
O primeiro dia de busca não foi bem-sucedido em encontrar sobreviventes ou pistas. Nem o segundo ou o terceiro. Depois de se reunir com a rainha, o primeiro-ministro Lancaster anunciou que seu governo estava trabalhando com a suposição de que a adorada princesa estava morta. No Caribe, as equipes de busca concentraram seus esforços em encontrar restos do barco em vez de corpos. Não seria uma longa busca. Na verdade, apenas 48 horas depois, um submarino automático operado pela marinha francesa descobriu o Aurora debaixo de dois mil pés de água salgada. Um especialista que viu as imagens de vídeo disse que era evidente que o barco tinha sofrido algum tipo de problema cataclísmico, quase certamente uma explosão.
— A pergunta é — ele disse —: foi um acidente ou foi intencional?
A maioria das pessoas do país — diziam pesquisas confiáveis — se recusava a acreditar que a ex-princesa tinha realmente morrido. Eles mantinham a esperança de que somente um dos dois botes do Aurora tinha sido encontrado. Claro, argumentavam, ela estava perdida no mar aberto ou tinha sido levada pela correnteza até uma ilha deserta. Um site pouco sério chegou a informar que ela foi vista em Montserrat. Outro disse que estava vivendo tranquila à beira-mar, em Dorset. Teóricos da conspiração de todos os tipos criaram histórias sensacionalistas sobre um plano para matar a princesa que foi concebido pelo Conselho Privado da Rainha e realizado pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânico, mais conhecido como MI6. Havia muita pressão para que seu chefe, Graham Seymour, fizesse uma declaração negando as alegações, mas ele se recusou.
— Isso não são alegações — ele disse ao secretário de relações exteriores durante uma tensa reunião na enorme sede do serviço ao lado do rio. — São fantasias criadas por pessoas com problemas mentais, e não vou me rebaixar a dar uma resposta a elas.
Em particular, no entanto, Seymour já tinha chegado à conclusão de que a explosão a bordo do Aurora não tinha sido um acidente. Da mesma forma que sua contraparte no DGSE, o bastante eficiente serviço de inteligência francês. Um analista francês,vendo o vídeo dos destroços, tinha determinado que o Aurora fora destruído por uma bomba detonada no deque inferior. Mas quem tinha levado a bomba para dentro do barco? E quem tinha ligado o detonador? O principal suspeito do DGSE era o homem que tinha sido contratado para substituir o chef desaparecido do Aurora na noite antes da partida do iate. Os franceses enviaram ao MI6 um vídeo granulado de sua chegada ao aeroporto de Gustávia, junto com algumas fotos de baixa qualidade capturada por câmeras de segurança de algumas lojas. Mostrava um homem que não se importava em aparecer em fotos.
— Ele não me parece o cara que afundaria um barco — Seymour disse em uma reunião de sua equipe. — Ele está solto por aí, em algum lugar. Descubram quem ele é e onde está se escondendo, preferencialmente antes dos franceses.
Ele era um sussurro em uma capela meio acesa, um fio perdido na bainha de uma roupa descartada. Eles verificaram as fotografias nos computadores. E, quando os computadores não encontraram uma combinação, procuraram por ele da forma antiga, com sapatos de couro e envelopes cheios de dinheiro — dinheiro norte-americano, claro, pois nas regiões inferiores do mundo da espionagem, os dólares continuavam a ser a moeda comum. O homem do MI6 em Caracas não encontrou nenhum traço dele. Nem conseguiram encontrar alguma pista de uma mãe anglo-irlandesa com um coração poético, ou um pai empresário espanhol. O endereço de seu passaporte terminou sendo uma favela em Caracas; seu último número conhecido há muito estava desconectado. Um informante pago dentro da polícia secreta venezuelana disse que tinha ouvido um rumor sobre uma ligação com Castro, mas uma fonte perto da inteligência cubana murmurou algo sobre os cartéis colombianos.
— Talvez antes — disse um policial incorruptível em Bogotá —, mas ele se afastou dos grandes traficantes há muito tempo. A última coisa que ouvi é que estava vivendo no Panamá com uma das antigas amantes de Noriega. Tinha muitos milhões guardados em um banco panamenho sujo e um condomínio em Playa Farallón.
A antiga amante negou conhecê-lo e o gerente do banco em questão, depois de aceitar um suborno de dez mil dólares, não conseguiu encontrar nenhum registro de conta em nome dele. Quanto ao condomínio na praia em Farallón, um vizinho quase não conseguia se lembrar de sua aparência, só da voz dele.
— Ele falava com um sotaque peculiar — disse. — Parecia que era da Austrália. Ou seria da África do Sul?
Graham Seymour monitorou a busca pelo suspeito do conforto de seu escritório, o melhor de todo o mundo da espionagem, com um jardim inglês no vestíbulo, uma enorme mesa de mogno usada por todos os chefes antes dele, janelas enormes voltadas para o rio Tâmisa e o imponente relógio de seu avô construído por ninguém menos que Sir Mansfield Smith Cumming, o primeiro “C” do Serviço Secreto Britânico. O esplendor do que tinha ao seu redor deixava Seymour inquieto. Em seu distante passado, ele tinha sido um homem de campo de alguma reputação — não no MI6, mas no MI5, o serviço de segurança interno menos glamoroso da Grã-Bretanha, onde havia servido com distinção antes de fazer a curta viagem da Thames House a Vauxhall Cross. Havia alguns no MI6 que se ressentiam da indicação de alguém de fora, mas a maioria via “a transferência”, como tinha ficado conhecida no meio, como um tipo de volta para casa. O pai de Seymour foi um lendário oficial do MI6, enganando nazistas, com importante participação em vários eventos no Oriente Médio. E agora seu filho, no auge da vida, se sentava atrás da mesa na qual Seymour pai tinha se apresentado para receber ordem.
Com o poder, no entanto, geralmente vem um sentimento de desamparo. E Seymour, o espiocrata, o espião de sala de reuniões, caiu vítima dele. Com busca cada vez mais infrutífera, e com a pressão de Downing Street e do palácio crescendo, seu mau humor ia piorando. Ele mantinha uma foto do alvo em sua mesa, perto do tinteiro vitoriano e da caneta-tinteiro Parker que usava para marcar documentos com seu criptograma pessoal. Algo no rosto era familiar. Seymour suspeitava que, em algum lugar — em outro campo de batalha, em outra terra —, seus caminhos tinham se cruzado. Não importava que os bancos de dados do serviço não afirmassem isso. Seymour confiava em sua memória mais do que na memória de qualquer computador do governo.
E assim, com as mãos em campo levando a falsas pistas e a poços vazios, Seymour conduzia uma busca própria a partir da gaiola dourada no alto de Vauxhall Cross. Ele começou esquadrinhando sua prodigiosa memória, e quando não deu certo, pediu acesso a uma pilha de casos antigos do MI5 e procurou ali também. Novamente não encontrou nenhuma pista. Finalmente, na manhã do décimo dia, o telefone na mesa de Seymour tocou levemente. O tom diferente mostrou que quem ligava era Uzi Navot, o chefe do tão falado serviço de inteligência de Israel. Seymour hesitou, depois levantou o telefone de forma cautelosa. Como sempre, o chefe dos espiões israelense não se importou em alguma troca de amabilidade.
— Acho que podemos ter encontrado o homem que você está procurando.
— Quem é ele?
— Um velho amigo.
— Seu ou nosso?
— Seu — disse o israelense. — Não temos nenhum amigo.
— Pode nos dizer o nome dele?
— Não pelo telefone.
— Quão rapidamente pode chegar a Londres?
A linha ficou muda.
4
VAUXHALL CROSS, LONDRES
UZI NAVOT CHEGOU A Vauxhall Cross pouco antes das onze da noite e foi levado à suíte executiva pelo elevador. Estava usando um terno cinza que parecia apertado para os ombros fortes, uma camisa branca aberta em seu grosso pescoço e óculos sem aro que marcavam a ponte de seu nariz de pugilista. À primeira vista, poucos presumiam que Navot era israelense, ou mesmo judeu, um traço que tinha funcionado bem durante sua carreira. Uma vez, ele tinha sido um katsa, o termo usado por seu serviço para descrever agentes de campo disfarçados. Armado com bom conhecimento de vários idiomas e uma pilha de falsos passaportes, Navot tinha penetrado em redes de terror e recrutado vários espiões e informantes espalhados pelo mundo. Em Londres, ficou conhecido como Clyde Bridges, o diretor de marketing europeu de uma obscura empresa de software. Tinha dirigido várias operações bem-sucedidas em solo britânico na época, quando era responsabilidade de Seymour evitar essas atividades. Seymour não guardava rancor, pois essa era a natureza dos relacionamentos entre espiões: adversários um dia, aliados no outro.
Um frequente visitante em Vauxhall Cross, Navot não comentou nada sobre a beleza do grande escritório de Seymour. Nem se dedicou à fofoca profissional que precedia a maioria dos encontros entre habitantes do mundo secreto. Seymour sabia os motivos do humor taciturno do israelense. O primeiro mandato de Navot como chefe estava terminando, e o primeiro-ministro tinha pedido que ele saísse para que outro homem assumisse, um lendário agente com quem Seymour tinha trabalhado em diversas ocasiões. Havia boatos de que a lenda tinha feito um acordo para que Navot continuasse. Era algo pouco ortodoxo permitir que seu predecessor continuasse no serviço, mas a lenda raramente se preocupava com a ortodoxia. A disposição para correr riscos era sua maior força — e às vezes, pensou Seymour, sua ruína.
Na forte mão direita de Navot estava pendurada uma maleta de aço inoxidável com trava de combinação. Dela, tirou uma fina pasta, que colocou sobre a mesa de mogno. Dentro havia um documento, uma página; os israelenses se orgulhavam da brevidade de seus arquivos. Seymour leu a linha de assunto. Aí olhou para a fotografia ao lado de seu tinteiro e xingou baixinho. Do lado oposto da mesa imponente, Uzi Navot se permitiu um breve sorriso. Não era comum que conseguissem contar ao diretor-geral do MI6 algo que ele ainda não sabia.
— Quem é a fonte da informação? — perguntou Seymour.
— É possível que seja um iraniano — respondeu Navot, vagamente.
— O MI6 tem acesso regular a seu produto?
— Não — respondeu Navot. — Ele é exclusivamente nosso.
O MI6, a CIA e a inteligência israelense trabalharam juntos durante mais de uma década para evitar que os iranianos chegassem a ter armas nucleares. Os três serviços tinham operado conjuntamente contra a rede de suprimentos nuclear iraniana e compartilharam grande quantidade de dados técnicos e de inteligência. Era reconhecido que os israelenses tinham as melhores fontes humanas em Teerã e, para contrariedade dos norte-americanos e britânicos, eles as protegiam com todo cuidado. Julgando pelo escrito no relatório, Seymour suspeitava de que o espião de Navot trabalhava para o VEVAK, o serviço de inteligência iraniano. As fontes do VEVAK eram famosas pela dificuldade de trato. Às vezes a informação que trocavam por dinheiro ocidental era genuína. Outras vezes estava a serviço da taqiyya, a prática persa de mostrar uma intenção enquanto abrigava outra.
— Acredita nele? — perguntou Seymour.
— Não estaria aqui se não acreditasse. — Navot fez uma pausa e acrescentou: — E algo me diz que você acredita também.
Quando Seymour não respondeu, Navot tirou um segundo documento da maleta e colocou na mesa, perto dele.
— É uma cópia de um relatório que enviamos ao MI6 há três anos — ele explicou. — Sabíamos sobre sua conexão com os iranianos já naquela época. Também sabíamos que estava trabalhando com Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda e qualquer um que pagasse.
Navot acrescentou:
— Seu amigo não discrimina muito com quem ele anda.
— Foi antes da minha época — respondeu Seymour.
— Mas agora é seu problema. — Navot apontou para uma passagem perto do final do documento. — Como consegue ver, fizemos a proposta de uma operação para tirá-lo de circulação. Até nos apresentamos como voluntários para fazer o serviço. E como você acha que seu predecessor respondeu a nossa generosa oferta?
— Obviamente, ele recusou.
— Com extremo preconceito. Na verdade, ele nos disse em termos bem claros que não deveríamos colocar um dedo nele. Estava com medo de que isso abriria uma caixa de Pandora. — Navot balançou a cabeça lentamente. — E, agora, aqui estamos nós.
A sala estava silenciosa, exceto pelo tique-taque do velho relógio do avô de C. Finalmente, Navot perguntou com a voz baixa:
— Onde você estava naquele dia, Graham?
— Que dia?
— Cinco de agosto, mil novecentos e noventa e oito.
— O dia da bomba?
Navot assentiu.
— Sabe muito bem onde eu estava — respondeu Seymour. — Estava no Cinco.
— Você era o chefe de contraterrorismo.
— É.
— O que significa que era sua responsabilidade.
Seymour não falou nada.
— O que aconteceu, Graham? Como ele conseguiu?
— Foram cometidos erros. Sérios erros. Sérios o suficiente para arruinar carreiras, até hoje. — Seymour juntou os dois documentos e os devolveu a Navot. — Sua fonte iraniana contou por que ele fez isso?
— É possível que ele tenha voltado a uma antiga briga. Também é possível que estivesse agindo em nome de outros. De qualquer forma, é preciso lidar com ele, antes que seja tarde demais.
Seymour não respondeu.
— Nossa oferta ainda está de pé, Graham.
— Que oferta?
— Vamos cuidar dele — respondeu Navot. — E depois vamos enterrá-lo em um buraco tão fundo que ninguém da época dos conflitos vai conseguir recuperá-lo.
Seymour ficou em um silêncio contemplativo.
— Só existe uma pessoa a quem eu confiaria um trabalho como esse — ele falou, finalmente.
— Isso poderia ser difícil.
— A gravidez?
Navot assentiu.
— Quando ela vai ter?
— Infelizmente isso é informação confidencial.
Seymour deu um breve sorriso.
— Você acha que ele poderia ser persuadido a aceitar essa missão?
— Tudo é possível — respondeu Navot, sem querer se comprometer. — Eu ficaria feliz em falar com ele em seu nome.
— Não — falou Seymour. — Eu faço isso.
— Há mais um problema — falou Navot depois de um momento.
— Só um?
— Ele não conhece muito essa parte do mundo.
— Eu conheço alguém que pode servir como guia.
— Ele não vai trabalhar com alguém que não conhece.
— Na verdade, eles são bons amigos.
— Ele é do MI6?
— Não — respondeu Seymour. — Ainda não.
5
AEROPORTO FIUMICINO, ROMA
– POR QUE VOCÊ ACHA que meu voo está atrasado? — perguntou Chiara.
— Pode ser um problema mecânico — respondeu Gabriel.
— Pode ser — ela repetiu sem convicção.
Estavam sentados em um canto silencioso da sala de espera da primeira classe. Não importava a cidade, pensou Gabriel, eram todos iguais. Jornais abandonados, garrafas quentes de pinot grigio suspeito, a CNN International silenciosa em uma televisão grande de tela plana. Pelos seus cálculos, Gabriel tinha passado um terço de sua carreira em lugares assim. Ao contrário da sua esposa, ele era extraordinariamente bom em esperar.
— Vá perguntar à garota bonita no balcão de informações por que meu voo ainda não começou a embarcar — ela disse.
— Não quero falar com a garota bonita no balcão de informações.
— Por que não?
— Porque ela não sabe nada e vai simplesmente falar algo que acha que quero ouvir.
— Por que você sempre precisa ser tão fatalista?
— Evita que me desaponte depois.
Chiara sorriu e fechou os olhos; Gabriel olhava a televisão. Um repórter britânico com capacete e colete à prova de balas estava falando sobre os últimos ataques aéreos contra Gaza. Gabriel se perguntou por que a CNN tinha ficado tão apaixonada pelos jornalistas britânicos. Ele achava que era o sotaque. As notícias sempre pareciam mais fortes quando dadas com um sotaque britânico, mesmo se fossem completas mentiras.
— O que ele está falando? — perguntou Chiara.
— Você realmente quer saber?
— Vai ajudar a passar o tempo.
Gabriel apertou os olhos para ler as legendas.
— Diz que um avião israelense atacou uma escola onde várias centenas de palestinos estavam se escondendo da batalha. Diz que pelo menos 15 pessoas foram mortas e várias dezenas seriamente feridas.
— Quantas eram mulheres e crianças?
— Todas elas, aparentemente.
— A escola era o verdadeiro alvo do ataque aéreo?
Gabriel digitou uma breve mensagem no BlackBerry e enviou com segurança para o Boulevard Rei Saul, o quartel-general do serviço de inteligência de Israel. Tinha um nome comprido e enganador que tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os funcionários chamavam de Escritório e nada mais.
— O verdadeiro alvo — ele falou, os olhos no BlackBerry— era uma casa do outro lado da rua.
— Quem vive na casa?
— Muhammad Sarkis.
— O Muhammad Sarkis?
Gabriel assentiu.
— Muhammad ainda está entre os vivos?
— Aparentemente, não.
— E a escola?
— Não foi atingida. As únicas vítimas foram Sarkis e membros de sua família.
— Talvez alguém deveria contar a verdade ao jornalista.
— Em que isso ajudaria?
— Mais fatalismo — disse Chiara.
— Nenhum desapontamento.
— Por favor, descubra por que meu voo está atrasado.
Gabriel digitou outra mensagem no BlackBerry. Um momento depois, chegou a resposta.
— Um dos foguetes do Hamas caiu perto do Ben-Gurion.
— Muito perto? — perguntou Chiara.
— Perto o suficiente para causar desconfortos.
— Você acha que a garota bonita no balcão de informações sabe que meu destino está sendo atacado por foguetes?
Gabriel ficou em silêncio.
— Tem certeza de que quer continuar com isso? — perguntou Chiara.
— Com o quê?
— Não me obrigue a falar em voz alta.
— Está perguntando se eu ainda quero ser chefe em um momento como esse?
Ela assentiu.
— Em um momento como esse — ele falou, vendo as imagens de combate e explosões na tela —, eu gostaria de poder ir até Gaza e lutar junto com nossos rapazes.
— Achei que você tinha odiado o exército.
— Odiei.
Ela virou a cabeça para ele e abriu os olhos. Eram cor de caramelo com toques de ouro. O tempo não tinha deixado nenhuma marca em seu lindo rosto. Não fosse pela barriga inchada e o anel dourado no dedo, ela poderia ser a mesma garota jovem que ele tinha encontrado há muito tempo, no antigo gueto de Veneza.
— Combina, não?
— O quê?
— Que os filhos de Gabriel Allon nasçam em tempo de guerra.
— Com um pouco de sorte, a guerra vai terminar quando eles nascerem.
— Não estou tão segura disso. — Chiara olhou para o quadro de embarque. A situação do voo 386 para Tel Aviv ainda aparecia a mesma. — Se meu avião não partir logo, eles vão nascer aqui na Itália.
— Sem chance.
— O que tem de errado com isso?
— Tínhamos um plano. E vamos continuar com ele.
— Na verdade — ela disse, com astúcia —, o plano era que voltássemos a Israel juntos.
— É verdade — disse Gabriel, sorrindo. — Mas houve a intervenção de eventos.
— Eles sempre fazem isso.
Setenta e duas horas antes, em uma igreja comum perto do lago Como, Gabriel e Chiara tinham descoberto um dos quadros roubados mais famosos do mundo: a Natividade com São Francisco e São Lourenço, de Caravaggio. A pintura, bastante danificada, agora estava no Vaticano, onde esperava restauração. Era intenção de Gabriel realizar os primeiros estágios, ele mesmo. Essa era sua combinação única de talentos. Ele era restaurador de arte, espião e assassino, uma lenda que tinha participado de algumas das maiores operações na história da inteligência israelense. Logo seria pai de novo e depois se tornaria o chefe. Não escrevem histórias sobre chefes, ele pensou. Escrevem histórias sobre os homens que os chefes mandam a campo para fazer o trabalho sujo.
— Não sei por que você é tão cabeça-dura em relação àquele quadro — disse Chiara.
— Eu encontrei, eu quero restaurá-lo.
— Na verdade, nós encontramos. Mas isso não muda o fato de que não existe uma maneira possível de terminá-lo antes que as crianças nasçam.
— Não importa se vou conseguir terminar ou não. Só queria...
— Deixar sua marca nele?
Ele assentiu lentamente.
— Poderia ser o último quadro que tenho a chance de restaurar. Além disso, tenho uma dívida com ele.
— Quem?
Ele não respondeu; estava lendo as legendas na televisão.
— O que estão falando agora? — Chiara perguntou.
— Sobre a princesa.
— O que tem?
— Parece que a explosão que afundou o barco foi um acidente.
— Acredita nisso?
— Não.
— Então por que eles falariam algo assim?
— Acho que querem ter um pouco de tempo e espaço.
— Para quê?
— Para encontrar o homem que estão procurando.
Chiara fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dele. O cabelo escuro dela, com tons ruivos e luzes castanhas, tinha um delicioso cheiro de baunilha. Gabriel beijou o cabelo dela e sentiu o perfume. De repente, não queria que ela subisse sozinha no avião.
— O que o painel de embarque está mostrando sobre meu voo? — ela perguntou.
— Atrasado.
— Não pode fazer algo para acelerar as coisas?
— Você superestima meus poderes.
— Falsa modéstia não combina com você, querido.
Gabriel digitou outra breve mensagem no BlackBerry e enviou para o Boulevard Rei Saul. Um momento depois, o aparelho vibrou levemente com a resposta.
— E então? — perguntou Chiara.
— Olha o painel.
Chiara abriu os olhos. O status do voo 386 da El Al ainda mostrava ATRASADO. Trinta segundos depois, mudou para EMBARCANDO.
— Pena que você não consegue acabar com a guerra tão facilmente — disse Chiara.
— Só o Hamas pode parar a guerra.
Ela juntou a bagagem de mão e uma pilha de revistas de moda e se levantou cuidadosamente.
— Seja um bom menino — ela falou. — E se alguém pedir um favor, lembre-se das três adoráveis palavras.
— Encontre outra pessoa.
Chiara sorriu. Então beijou Gabriel com uma urgência surpreendente.
— Venha para casa, Gabriel.
— Logo.
— Não — ela falou. — Venha para casa agora.
— É melhor correr, Chiara. Ou vai perder o voo.
Ela o beijou pela última vez. Então se afastou sem outra palavra e entrou no avião.
Gabriel esperou até o voo de Chiara estar seguro no ar antes de deixar o terminal e caminhar pelo caótico estacionamento do Fiumicino. Seu anônimo sedan alemão estava no canto da terceira plataforma, com a frente virada para fora, caso ele tivesse motivos para fugir da garagem apressadamente. Como sempre, ele olhou embaixo do carro para ver se havia explosivos escondidos antes de entrar atrás do volante e ligar o carro. Uma canção pop italiana começou a tocar no rádio, uma das músicas bobinhas que Chiara estava sempre cantando quando achava que ninguém estava ouvindo. Gabriel mudou para a BBC, mas estava cheia de notícias sobre a guerra, então, ele abaixou o volume. Haveria tempo suficiente para a guerra mais tarde, pensou. Nas próximas semanas só haveria o Caravaggio.
Gabriel cruzou o Tibre sobre a ponte Cavour e entrou na via Gregoriana. O velho apartamento seguro do Escritório estava no final da rua, perto do alto das escadarias da praça da Espanha. Estacionou o sedan em um espaço vazio ao longo do meio-fio e tirou a Beretta 9 mm do porta-luvas antes de descer. O ar frio da noite tinha cheiro de alho frito e folhas molhadas, o cheiro de Roma no outono. Algo nisso sempre fazia Gabriel pensar em morte.
Passou a entrada do seu edifício, o toldo do hotel Hassler Villa Medici e foi até a igreja de Trinità dei Monti. Um momento depois, quando determinou que não estava sendo seguido, voltou ao prédio. Uma única lâmpada de baixo consumo iluminava um pouco o vestíbulo; ele caminhou debaixo da esfera de luz e subiu a escada escura. Quando pisou no terceiro andar, parou. A porta do apartamento estava entreaberta e de dentro vinha o som de gavetas abrindo e fechando. Calmamente, ele tirou a Beretta das costas e usou o cano para lentamente empurrar a porta. No começo, não conseguiu ver nenhum sinal do invasor. Então, a porta se abriu mais um centímetro e ele viu Graham Seymour parado na pia da cozinha, uma garrafa fechada de Gavi em uma mão e um saca-rolha na outra. Gabriel enfiou a arma no bolso do casaco e entrou. E, em sua cabeça, ele estava pensando nas três adoráveis palavras.
Encontre outra pessoa...
6
VIA GREGORIANA, ROMA
– TALVEZ SEJA MELHOR QUE eu faça isso, Gabriel. Ou alguém vai acabar machucado.
Seymour entregou a garrafa de vinho e o saca-rolha, encostando-se na pia da cozinha. Estava usando calça de flanela cinza, uma jaqueta espinha de peixe e uma camisa azul com punho francês. A ausência de ajudantes pessoais ou segurança sugeria que tinha viajado a Roma usando um passaporte falso. Era um mau sinal. O chefe do MI6 viajava clandestinamente só quando tinha um problema sério.
— Como você entrou aqui? — perguntou Gabriel.
Seymour puxou uma chave do bolso de sua calça. Presa a ela estava o medalhão preto tão amado pela Organização Interna, a divisão do Escritório que procurava e gerenciava propriedades seguras.
— Onde conseguiu isso?
— Uzi me deu ontem em Londres.
— E o código do alarme? Suponho que ele tenha dado também.
Seymour recitou o número de oito dígitos.
— É uma violação do protocolo do Escritório.
— Houve circunstâncias atenuantes. Além disso — acrescentou Seymour —, depois de todas as operações que fizemos juntos, sou praticamente membro da família.
— Até membros da família batem antes de entrar em um aposento.
— É você quem está dizendo.
Gabriel tirou a rolha da garrafa, serviu duas taças e entregou uma a Seymour. O inglês levantou a taça meio centímetro e disse:
— À paternidade.
— Dá azar beber por crianças que ainda não nasceram, Graham.
— Então pelo que vamos beber?
Quando Gabriel não respondeu, Seymour foi até a sala de estar. De sua janela era possível ver a torre da igreja e o alto das escadarias. Ele ficou ali por um momento olhando os tetos como se estivesse admirando, do terraço de sua casa, as colinas de sua cidade natal. Com suas mechas cor de chumbo e queixo robusto, Graham Seymour era o típico funcionário público britânico, um homem que tinha nascido, sido criado e educado para liderar. Ele era bonito, mas não muito; era alto, mas não muito. Fazia os outros se sentirem inferiores, principalmente os norte-americanos.
— Sabe — ele disse, finalmente —, você realmente deveria encontrar outro lugar para ficar quando está em Roma. Todo mundo conhece esse apartamento seguro, o que significa que não é nada seguro.
— Gosto da vista.
— Dá para ver o motivo.
Seymour voltou seu olhar para os tetos escuros. Gabriel sentiu que algo o preocupava. Ele falaria sobre isso em algum momento. Sempre chegava.
— Ouvi dizer que sua esposa saiu da cidade hoje — falou finalmente.
— Que outra informação privilegiada o chefe do meu serviço compartilhou com você?
— Ele mencionou algo sobre um quadro.
— Não é um quadro qualquer, Graham. É o...
— Caravaggio — falou Seymour, terminando a sentença.
Então, sorriu e acrescentou:
— Você tem jeito para encontrar coisas, não?
— Isso deveria ser um elogio?
— Acho que sim.
Seymour bebeu. Gabriel perguntou por que Uzi Navot tinha ido a Londres.
— Ele tinha uma informação que queria me mostrar. Tenho de admitir — acrescentou Seymour —, ele parecia bem para um homem em sua posição.
— Que posição é essa?
— Todo mundo no meio sabe que Uzi está saindo — respondeu Seymour. — E está deixando para trás uma grande confusão. Todo o Oriente Médio está pegando fogo e vai piorar bastante antes de melhorar.
— Não foi o Uzi que fez a bagunça.
— Não — concordou Seymour —, foram os norte-americanos que fizeram. O presidente e seus conselheiros foram muito rápidos em se afastar dos árabes fortes. Agora o presidente enfrenta um mundo que ficou louco e ele não tem ideia do que fazer.
— E se você estivesse aconselhando o presidente, Graham?
— Diria para ressuscitar os árabes fortes. Funcionou antes, pode funcionar de novo.
— Todos os cavalos do rei, e todos os homens do rei.
— O que quer dizer?
— A velha ordem está destruída e não pode ser recuperada. Além disso — acrescentou Gabriel —, foi a velha ordem que criou Bin Laden e os jihadistas em primeiro lugar.
— E quando os jihadistas tentarem expulsar o Estado judeu da Casa do Islã?
— Eles estão tentando, Graham. E caso você não tenha notado, o Reino Unido não tem muita utilidade para eles também. Goste ou não, estamos nessa juntos.
O BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa.
— O que foi? — perguntou Seymour.
— Outro cessar fogo.
— Quanto tempo vai durar esse?
— Acho que até o Hamas decidir rompê-lo. — Gabriel colocou o BlackBerry na mesa de café e, curioso, olhou para Seymour. — Você estava a ponto de me dizer o que está fazendo no meu apartamento.
— Tenho um problema.
— Qual é o nome dele?
— Quinn — respondeu Seymour. — Eamon Quinn.
Gabriel passou o nome pelo banco de dados de sua memória, mas não encontrou nada.
— Irlandês? — ele perguntou.
Seymour assentiu.
— Republicano?
— Do pior tipo.
— Então, qual é o problema?
— Há muito tempo cometi um erro e pessoas morreram.
— E Quinn foi o responsável?
— Quinn acendeu o pavio, mas, em última análise, eu fui o responsável. É a parte maravilhosa de nosso negócio. Nossos erros sempre voltam para nos assombrar, e no final todas as dívidas são pagas. — Seymour levantou sua taça. — Podemos brindar por isso?
7
VIA GREGORIANA, ROMA
O CÉU TINHA FICADO ASSUSTADOR a tarde toda. Finalmente, às dez e meia, uma chuva torrencial transformou, por um tempo, a via Gregoriana em um canal de Veneza. Graham Seymour estava parado na janela vendo como gotas grossas de chuva caíam no terraço, mas estava pensando no otimista verão de 1998. A União Soviética era uma memória. As economias da Europa e dos Estados Unidos estavam rugindo. Os jihadistas da Al-Qaeda eram objetos de estudo em seminários incrivelmente chatos sobre ameaças futuras.
— Nós nos enganamos ao pensar que tínhamos chegado ao fim da história — ele estava dizendo. — Havia alguns no Parlamento que realmente estavam propondo acabar com os Serviços de Segurança e o MI6, e nos queimar na fogueira. — Olhou sobre o ombro. — Eram os dias de vinho e rosas. Foram os dias da ilusão.
— Não para mim, Graham. Eu estava fora do negócio na época.
— Eu lembro.
Seymour se afastou de Gabriel e ficou olhando a chuva batendo no vidro.
— Estava vivendo na Cornualha na época, não estava? Naquela pequena casa no rio Helford. Sua primeira esposa estava no hospital psiquiátrico em Stafford e você a mantinha limpando quadros para Julian Isherwood. E havia aquele rapaz que vivia na casa ao lado. Não lembro o nome dele.
— Peel — falou Gabriel. — O nome dele era Timothy Peel.
— Ah, sim, o jovem mestre Peel. Nunca conseguimos entender por que você passava tanto tempo com ele. Então, percebemos que ele tinha exatamente a mesma idade do filho que você perdeu para uma bomba em Viena.
— Achei que estivessemos falando de você, Graham.
— Estamos — respondeu Seymour.
Ele, então, lembrou a Gabriel, desnecessariamente, de que no verão de 1998 ele era chefe de contraterrorismo no MI5. Dessa forma, era o responsável por proteger a Grã-Bretanha dos terroristas do IRA, o Exército Republicano Irlandês. E, mesmo em Ulster, cena de um conflito secular entre protestantes e católicos, havia sinais de esperança. Os eleitores da Irlanda do Norte tinham ratificado os acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e o IRA Provisório estava aderindo aos termos do cessar fogo. Só o IRA Autêntico, um pequeno grupo de dissidentes de linha dura, continuava com a luta armada. Seu líder era Michael McKevitt, ex-intendente geral do IRA. Sua esposa, Bernadette Sands-McKevitt, dirigia a ala política: o Movimento pela Soberania dos 32 Condados. Era irmã de Bobby Sands, o membro do IRA Provisório que fez uma greve de fome até a morte na prisão de Maze, em 1981.
— E então — falou Seymour — havia Eamon Quinn. Quinn planejava as operações. Quinn construía as bombas. Infelizmente, ele era bom. Muito bom.
Um trovão fez o prédio tremer. Seymour se encolheu um pouco antes de continuar.
— Quinn tinha certa genialidade para construir bombas bastante eficientes e entregá-las em seus alvos. Mas o que ele não sabia — acrescentou Seymour — era que eu tinha um agente na cola dele.
— Quanto tempo ele ficou?
— Minha agente era uma mulher — respondeu Seymour. — E ela estava desde o começo.
Administrar a agente e sua inteligência, continuou Seymour, provou ser algo delicado para equilibrar. Como a agente tinha um alto posto dentro da organização, ela geralmente tinha conhecimento avançado dos ataques, incluindo o alvo, a hora e o tamanho da bomba.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour. — Impedir os ataques e colocar a agente em risco? Ou permitir que os ataques acontecessem e tentar garantir que ninguém fosse morto?
— O segundo — respondeu Gabriel.
— Você fala como um verdadeiro espião.
— Não somos policiais, Graham.
— Graças a Deus.
— Na maior parte do tempo — disse Seymour —, a estratégia funcionou. Vários carros-bombas foram desarmados, e vários outros explodiram com poucos estragos, apesar de que um praticamente nivelou a High Street de Portadown, uma fortaleza legalista, em fevereiro de 1998. Aí, seis meses depois, a espiã do MI5 informou que o grupo estava planejando um grande ataque. Algo grande, ela avisou. Algo que iria explodir em pedaços o processo de paz da Sexta-Feira Santa.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour.
Do lado de fora, o céu explodiu com um raio. Seymour esvaziou sua taça e contou a Gabriel o resto da história.
Na noite de 13 de agosto de 1998, um Vauxhall Cavalier marrom, placa 91 DL 2554, desapareceu de uma casa em Carrickmacross, na República da Irlanda. Foi levado até uma fazenda isolada na fronteira, onde colocaram placas falsas da Irlanda do Norte. Então Quinn colocou a bomba: 220 quilos de fertilizante, uma vareta feita à máquina com fortes explosivos, um detonador, uma fonte escondida em um recipiente plástico para alimentos, um interruptor no porta-luvas. Na manhã de domingo, 15 de agosto, ele dirigiu o carro pela fronteira até Omagh e estacionou na frente da loja de departamentos S.D. Kells, em Lower Market Street.
— Obviamente — falou Seymour —, Quinn não entregou a bomba sozinho. Havia outro homem no Vauxhall, mais dois no carro acompanhante e outro que dirigia o carro de fuga. Eles se comunicavam por celular. E estávamos ouvindo cada palavra.
— O Serviço de Segurança?
— Não — respondeu Seymour. — Nossa capacidade de monitorar ligações telefônicas não se estendia além das fronteiras do Reino Unido. A conspiração de Omagh nasceu na República da Irlanda, então tivemos de confiar no GCHQ para fazer as escutas para nós.
O Government Communications Headquarters (GCHQ), o quartel-general de comunicações do governo, era a versão britânica da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos EUA. Às 14h20 tinha interceptado uma ligação de um homem que parecia Eamon Quinn. Ele falou cinco palavras: “Os tijolos estão na parede.” O MI5 sabia por experiências passadas que a frase significava que a bomba estava no lugar. Doze minutos depois, a Ulster Television recebeu um aviso telefônico anônimo: “Há uma bomba, tribunal, Omagh, rua principal, duzentos e vinte quilos, explosão em trinta minutos.” O Royal Ulster Constabulary começou a evacuar as ruas ao redor do tribunal de Omagh e a procurar pela bomba. O que não perceberam era que estavam olhando o lugar errado.
— O aviso por telefone era incorreto — disse Gabriel.
Seymour assentiu lentamente.
— O Vauxhall não estava nem perto do tribunal. Estava a várias centenas de metros mais para baixo, na Lower Market Street. Quando o RUC começou a evacuação, eles sem querer levaram as pessoas na direção da bomba em vez de afastá-las.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Era exatamente o que Quinn queria. Queria que pessoas morressem, então deliberadamente estacionou o carro no lugar errado. Ele enganou a própria organização.
Dez minutos depois das três, a bomba detonou. Vinte e nove pessoas foram mortas, outras duzentas ficaram feridas. Foi o ataque terrorista mais mortal na história do conflito. A oposição foi tão poderosa que o IRA Autêntico sentiu-se obrigado a divulgar um pedido de desculpas. De alguma forma, o processo de paz foi mantido. Depois de trinta anos de sangue e bombas, o povo da Irlanda do Norte finalmente se cansou.
— E, então, a imprensa e as famílias das vítimas começaram a fazer perguntas desconfortáveis — disse Seymour. — Como o IRA Autêntico conseguiu plantar uma bomba no meio de Omagh sem o conhecimento da polícia e dos serviços de segurança? E por que ninguém foi preso?
— O que você fez?
— Fizemos o que sempre fazemos. Fechamos as fileiras, queimamos nossos arquivos e esperamos a tempestade passar.
Seymour se levantou, carregou sua taça até a cozinha e tirou a garrafa de Gavi da geladeira.
— Você tem algo mais forte que isso?
— Como o quê?
— Algo destilado.
— Eu prefiro tomar acetona a bebidas destiladas.
— Acetona com alguma coisa poderia funcionar. — Seymour serviu um pouco de vinho em sua taça e colocou a garrafa na pia.
— O que aconteceu com Quinn depois de Omagh?
— Quinn começou a trabalhar sozinho. Quinn se tornou internacional.
— Que tipo de trabalho ele faz?
— O de sempre — respondeu Seymour. — Trabalho de segurança para bandidos e ditadores, clínicas de fabricação de bombas para revolucionários e dementes religiosos. Conseguimos encontrá-lo de vez em quando, mas na maior parte do tempo ele voa abaixo do nosso radar. Então, o chefe da inteligência iraniana o convidou a ir a Teerã, e foi quando o Boulevard Rei Saul entrou em cena.
Seymour abriu as travas de sua maleta, tirou uma única folha de papel e colocou sobre a mesinha. Gabriel olhou para o documento e franziu a testa.
— Outra violação do protocolo do Escritório.
— O quê?
— Carregar documentos confidenciais do Escritório em uma maleta insegura.
Gabriel pegou o documento e começou a ler. Afirmava que Eamon Quinn, ex-membro do IRA Autêntico, organizador do ataque terrorista de Omagh, tinha sido retido pela inteligência iraniana para desenvolver bombas muito letais para serem usadas contra forças britânicas e norte-americanas no Iraque. O mesmo Eamon Quinn tinha realizado um serviço parecido para o Hezbollah, no Líbano; e o Hamas, na Faixa de Gaza. Além disso, tinha viajado ao Iêmen, onde ajudou a Al-Qaeda, na península arábica, a construir uma pequena bomba líquida que poderia ser colocada dentro de um avião norte-americano. Ele era, dizia o relatório em seu parágrafo de conclusão, um dos homens mais perigosos do mundo e precisava ser eliminado imediatamente.
— Você deveria aceitar o conselho do Uzi.
— É fácil ver isso agora — respondeu Seymour. — Mas eu não seria tão superficial. Afinal, Uzi teria provavelmente dado o trabalho para você.
Gabriel metodicamente rasgou o documento em pequenos pedaços.
— Isso não é suficiente — disse Seymour.
— Vou queimar mais tarde.
— Faça um favor e queime Eamon Quinn junto.
Gabriel ficou em silêncio por um momento.
— Meus dias no campo terminaram — disse ele, finalmente. — Trabalho no escritório agora, Graham, como você. Além disso, a Irlanda do Norte nunca foi minha praia.
— Então acho que teremos de encontrar um parceiro para você. Alguém que conhece o lugar. Alguém que pode passar por residente se for necessário. Alguém que realmente conhece Eamon Quinn pessoalmente.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição?
— Não — falou Gabriel enfaticamente.
— Eu conheço — respondeu Seymour. — Mas tem um pequeno problema.
— Qual?
Seymour sorriu e disse:
— Ele está morto.
8
VIA GREGORIANA, ROMA
– ESTARÁ MESMO?
Seymour retirou duas fotografias de sua maleta e colocou uma na mesa de café. Mostrava um homem de altura e corpo médios caminhando pelo controle de passaporte no aeroporto de Heathrow, em Londres.
— Você o reconhece? — perguntou Seymour.
Gabriel não falou nada.
— É você, claro. — Seymour apontou para a hora na base da imagem. — Foi tirada no inverno passado durante o caso Madeline Hart. Você entrou no Reino Unido sem ser anunciado para fazer algumas pesquisas.
— Eu estava lá, Graham. Lembro bem.
— Então você também vai lembrar que começou sua pesquisa para Madeline Hart na ilha da Córsega, um ponto de início lógico porque foi onde ela desapareceu. Logo depois da sua chegada, você foi ver um homem chamado Anton Orsati. Dom Orsati dirige a família do crime organizado mais poderosa da ilha, uma família que se especializou em matar por encomenda. Ele entregou a você uma informação valiosa sobre os sequestradores dela. Também permitiu que você pegasse emprestado o melhor assassino dele. — Seymour sorriu. — Isso o faz lembrar algo?
— Obviamente, estavam me espionando.
— De uma distância discreta. Afinal, você estava procurando a amante do primeiro-ministro britânico para mim.
— Ela não era só a amante dele, Graham. Era...
— Esse assassino da Córsega é uma pessoa interessante — interrompeu Seymour. — Na verdade, ele não é da Córsega, apesar de conseguir falar com o sotaque de um local. É inglês, ex-membro do Special Air Service que escapou do campo de batalha no Iraque, em janeiro de 1991, depois de um incidente envolvendo fogo amigo. Os militares britânicos acreditam que está morto. Infelizmente, os pais dele também acham. Mas, claro, você já sabia disso.
Seymour colocou a segunda fotografia na mesinha. Como a primeira, mostrava um homem caminhando no aeroporto de Heathrow. Ele era vários centímetros mais alto que Gabriel, com cabelo loiro curto, pele da cor de couro e ombros quadrados e fortes.
— Foi tirada no mesmo dia da primeira foto, alguns minutos depois. Seu amigo entrou no país com um passaporte francês falso, um dos muitos que ele possui. Nesse dia em especial, ele era Adrien Leblanc. Seu nome verdadeiro é...
— Eu já entendi o que você quer, Graham.
Seymour juntou as duas fotos e entregou a Gabriel.
— O que devo fazer com elas?
— Guarde como lembrança da sua amizade.
Gabriel rasgou as fotos no meio e colocou-as perto dos pedaços do memorando do Escritório.
— Há quanto tempo você sabe?
— A inteligência britânica ouve rumores há anos sobre um inglês trabalhando na Europa como assassino profissional. Nunca conseguimos descobrir seu nome. E nunca, em nossos sonhos mais loucos, imaginamos que ele poderia ser um membro pago do Escritório.
— Ele não é um membro pago.
— Como você o descreveria?
— Um velho adversário que agora é um amigo.
— Adversário?
— Um consórcio de banqueiros suíços já o contratou para me matar.
— Considere-se afortunado — falou Seymour. — Christopher Keller raramente falha em cumprir seus contratos. Ele é muito bom no que faz.
— Ele fala muito bem de você também, Graham.
Seymour ficou sentado em silêncio enquanto uma sirene tocava e desaparecia na rua lá embaixo.
— Keller e eu éramos próximos — ele falou finalmente. — Eu lutava contra o IRA do conforto da minha mesa e Keller estava do lado mais duro. Ele fazia tudo que fosse necessário para manter a Grã-Bretanha segura. E, no final, pagou um preço terrível por isso.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Vou deixar que o Keller conte essa parte da história. Não tenho certeza se posso contar melhor que ele.
Uma rajada de vento fez a chuva bater forte contra a janela. As luzes da sala piscaram.
— Não concordei com nada ainda, Graham.
— Mas vai. Ou — acrescentou Seymour — vou arrastar seu amigo de volta à Grã-Bretanha preso e entregá-lo ao Governo de Sua Majestade para ser processado.
— Com que acusações?
— É desertor e assassino profissional. Tenho certeza de que vamos pensar em alguma coisa.
Gabriel apenas sorriu.
— Um homem em sua posição não deveria fazer ameaças vazias.
— Não estou fazendo.
— Christopher Keller sabe muito sobre a vida privada do primeiro-ministro britânico para que o HMG tente processá-lo por deserção ou qualquer outra coisa. Além disso, suspeito que você tenha outros planos para ele.
Seymour não falou nada. Gabriel perguntou:
— O que você tem na sua maleta?
— Um arquivo grosso do histórico de Eamon Quinn.
— O que quer que a gente faça?
— O que deveríamos ter feito há muitos anos. Tirá-lo do mercado o mais rápido possível. E, falando nisso, descubra quem ordenou e financiou a operação para matar a princesa.
— Talvez Quinn tenha voltado à luta.
— A luta por uma Irlanda unida? — Seymour balançou a cabeça. — Essa luta terminou. Se eu tivesse que adivinhar, ele a matou em nome de alguns de seus patrões. E nós dois conhecemos a regra fundamental quando se trata de assassinatos. Não é importante quem puxa o gatilho, mas quem paga a bala.
Outra rajada de vento bateu contra a janela. As luzes diminuíram e depois morreram. Os dois espiões ficaram sentados na escuridão por vários minutos, nenhum dos dois falou nada.
— Quem falou isso? — Gabriel perguntou finalmente.
— Falou o quê?
— Essa coisa da bala.
— Acho que foi o Ambler.
Houve um silêncio.
— Tenho outros planos, Graham.
— Eu sei.
— Minha esposa está grávida. Muito grávida.
— Então você vai ter de trabalhar rápido.
— Acho que o Uzi já aprovou.
— Foi ideia dele.
— Lembre-me de dar uma tarefa horrível ao Uzi assim que eu assumir como chefe.
Um raio iluminou o riso de Seymour. Então, a escuridão voltou.
— Acho que vi umas velas na cozinha quando estava procurando o saca-rolha.
— Gosto da escuridão — falou Gabriel. — Clareia meu pensamento.
— No que você está pensando?
— Estou pensando no que vou dizer para minha esposa.
— Algo mais?
— Sim — falou Gabriel. — Estou pensando como Quinn sabia que a princesa estaria naquele barco.
9
BERLIM — CÓRSEGA
O HOTEL SAVOY ESTAVA EM uma região meio decadente de uma das ruas que estavam mais na moda em Berlim. Um tapete vermelho se esticava de sua entrada; mesas vermelhas ficavam debaixo de guarda-sóis vermelhos na frente da fachada. Na tarde anterior, Keller tinha visto um ator famoso tomando café ali, mas agora, quando saiu do hotel, as mesas estavam desertas. As nuvens estavam baixas e pesadas, havia um vento frio arrancando as últimas folhas das árvores alinhadas na calçada. O breve outono de Berlim estava acabando. Logo seria inverno de novo.
— Táxi, monsieur?
— Não, obrigado.
Keller colocou uma nota de cinco euros na mão esticada do manobrista e saiu caminhando. Ele tinha se registrado no hotel com um nome francês — a gerência tinha a impressão de que era um jornalista freelancer que escrevia sobre cinema — e ficou só uma noite. Ele tinha passado a noite anterior em um hotel modesto chamado Seifert e, antes disso, ficara acordado à noite em uma triste pensão chamada Bella Berlin. Os três estabelecimentos tinham uma coisa em comum: estavam perto do hotel Kempinski, que era o destino de Keller. Ali, ele ia encontrar um homem, um líbio, antigo funcionário de Kadafi que tinha fugido para a França com duas malas cheias de dinheiro e joias depois da revolução. O líbio tinha investido dois milhões de dólares com alguns empresários franceses depois de receber garantias de um lucro substancial. Os empresários franceses já estavam preocupados com sua associação com o líbio. Estavam preocupados também com sua reputação de violência no passado, pois diziam que o líbio costumava gostar de enfiar pregos nos olhos dos oponentes do regime. Os empresários franceses tinham procurado a ajuda de Dom Anton Orsati e ele tinha dado a tarefa a seu assassino mais eficiente. Keller teve de admitir que ficou animado. Ele nunca gostou do agora falecido ditador líbio ou dos capangas que tinham mantido seu regime no poder. Kadafi tinha permitido que todo tipo de terrorista treinasse em seus campos no deserto, incluindo os membros do IRA Provisório. Também tinha fornecido armas e explosivos ao IRA. Na verdade, quase todo Semtex usado nas bombas do IRA tinha vindo diretamente da Líbia.
Keller cruzou a Kantstrasse e desceu a rampa de um estacionamento no subsolo. No segundo nível, em uma parte da garagem sem câmeras de segurança, havia uma BMW preta deixada para ele por um membro da organização Orsati. No porta-malas havia uma pistola Heckler & Koch 9mm com um silenciador; no porta-luvas havia um cartão que abriria a porta de qualquer quarto no hotel Kempinski. O cartão tinha sido adquirido por cinco mil euros de um gambiano que trabalhava na lavanderia do hotel. O gambiano tinha garantido ao homem da organização que o cartão continuaria operacional por outras 48 horas. Depois disso, os códigos passavam por uma mudança de rotina, e a segurança do hotel daria novos cartões a todos os principais funcionários. Keller esperava que o gambiano estivesse falando a verdade. Ou haveria logo uma vaga na lavanderia do Kempinski.
Keller enfiou a arma e o cartão na maleta. Então colocou a mochila no porta-malas da BMW e subiu a rampa de volta para a rua. O Kempinski ficava a cerca de cem metros seguindo pela Fasanenstrasse; um grande hotel com luzes brilhantes estilo Las Vegas na entrada e um café estilo francês de frente para a Kurfürstendamm. Em uma das mesas estava sentado o líbio. Estava acompanhado de um homem de uns sessenta anos e uma mulher que já tinha sido bonita, com cabelo bem escuro e maquiagem estilo Cleópatra. O homem parecia um velho camarada da corte de Kadafi; a mulher parecia muito bem cuidada e bastante entediada. Keller presumiu que pertencia ao amigo, pois o líbio gostava de suas mulheres loiras, profissionais e caras.
Keller entrou no hotel, sabendo que várias câmeras de segurança o observavam. Não importava; ele estava usando uma peruca escura e óculos falsos. Cinco hóspedes do hotel, recém-chegados, julgando pelo jeito deles, estavam esperando um elevador. Keller permitiu que entrassem no primeiro disponível e depois subiu ao quinto andar sozinho, a cabeça baixa de uma forma que a câmera de vigilância não pudesse capturar claramente os traços de seu rosto. Quando as portas se abriram, ele saiu do elevador com o ar de um homem que não estava contente por voltar à solidão de outro quarto de hotel. Um empregado de limpeza o cumprimentou, mas fora isso o corredor estava vazio. O cartão agora estava no bolso de seu casaco. Ele o tirou quando se aproximou do quarto 518 e inseriu na porta. Brilhou uma luz verde, a trava eletrônica abriu. O gambiano iria viver mais um dia.
O quarto tinha sido recentemente arrumado. Mesmo assim, o cheiro da horrível colônia do líbio persistia. Keller foi até a janela e olhou para a rua. O líbio e seus dois acompanhantes ainda estavam na mesa deles no café, apesar de a mulher parecer cansada. Desde que Keller tinha passado por eles, haviam tirado seus pratos e o café tinha sido servido. Dez minutos, ele pensou. Talvez menos.
Ele se afastou da janela e calmamente revisou o quarto. O Kempinski se achava superior, mas era realmente bastante comum: uma cama dupla, uma mesinha, um aparelho de televisão, um guarda-roupas. As paredes eram grossas o suficiente para abafar todo som dos quartos adjacentes, apesar de que não seriam grossas o suficiente para aguentar uma bala normal, mesmo uma bala que tivesse penetrado um corpo humano. Como resultado, a HK de Keller estava usando balas de ponta côncava de 124 grãos que se expandiam na hora do impacto. Qualquer bala que acertasse o alvo ficaria ali. E na improvável hipótese de que Keller errasse, a bala iria se alojar tranquilamente na parede com um barulho fraco.
Ele voltou à janela e viu que o líbio e seus dois acompanhantes estavam de pé. O homem de talvez sessenta anos estava apertando a mão do líbio; a mulher que já tinha sido bonita com cabelo escuro estava olhando com esperanças para as lojas exclusivas alinhadas na Ku-Damm. Keller puxou as cortinas pesadas, se sentou na poltrona azul-marinho, e tirou a HK da maleta. Do corredor veio o barulho do carrinho da mulher da limpeza. Então, tudo ficou em silêncio. Ele olhou para o relógio e marcou o tempo. Cinco minutos, pensou. Talvez menos.
Um sol benevolente brilhava forte sobre a ilha da Córsega quando a balsa noturna de Marselha entrou no porto de Ajaccio. Keller saiu do barco com os outros passageiros e caminhou até o estacionamento onde tinha deixado sua velha van Renault. Havia muita poeira cobrindo as janelas e o capô. Keller pensou que a poeira era um mau sinal. O mais provável é que o sirocco tivesse trazido do norte da África. Instintivamente, ele tocou o pequeno coral vermelho pendurado ao redor de seu pescoço por um fio de couro. Quem é da Córsega acredita que o talismã tem o poder de afastar o occhju, o mau-olhado. Keller acreditava também, apesar da presença de poeira do norte da África no carro aquela manhã depois de ter matado o líbio sugerisse que o talismã não tinha conseguido protegê-lo. Havia uma velha na sua vila, uma signadora, que tinha o poder de retirar o mal do corpo dele. Keller não queria vê-la, pois a velha também tinha o poder de olhar tanto o passado quanto o futuro. Era uma das poucas pessoas na ilha que sabiam a verdade sobre ele. Conhecia sua longa litania de pecados e erros, e até afirmava saber quais serão a hora e as circunstâncias de sua morte. Era uma das coisas que se recusava a contar.
— Não devo fazer isso — ela sussurrava para ele sob a luz da vela. — Além disso, saber como a vida termina só poderia arruinar a história.
Keller sentou atrás do volante do Renault e desceu para a costa ocidental acidentada da ilha, o mar azul turquesa à sua direita, os altos picos do interior à sua esquerda. Para passar o tempo, ele ouvia as notícias no rádio. Não havia nada sobre um líbio morto em um hotel de luxo em Berlim. Keller duvidava que o corpo já tivesse sido encontrado. Ele tinha cometido o ato em silêncio e, ao deixar o quarto, havia pendurado a plaquinha de “Não Perturbe” na maçaneta. Em algum momento, a gerência do Kempinski teria de bater à porta. E, depois de não receber nenhuma resposta, teriam de entrar no quarto e encontrar um valioso hóspede com dois buracos de bala no coração e um terceiro no centro da testa. A gerência imediatamente ligaria para a polícia, claro, e uma busca ligeira iria começar por um homem de cabelo escuro e bigode que tinha sido visto entrando no quarto. Eles conseguiriam rastrear seus movimentos imediatamente depois do assassinato, mas a pista esfriaria na tristeza arborizada do Tiergarten. A polícia nunca conseguiria estabelecer sua identidade. Alguns suspeitariam que fosse líbio como sua vítima, mas poucos dos veteranos mais espertos especulariam que era o mesmo profissional muito caro que há anos matava na Europa. E, então lavariam suas mãos, pois sabiam que assassinatos cometidos por assassinos profissionais raramente eram resolvidos.
Keller seguiu a costa até a cidade de Porto e depois virou para o interior. Era domingo; as estradas estavam calmas e, nas cidades de colinas, tocavam os sinos das igrejas. No centro da ilha, perto do seu ponto mais alto, estava o pequeno vilarejo dos Orsati. Estava ali, era o que diziam, desde a época dos vândalos, quando as pessoas da costa subiram às colinas por segurança. O tempo parecia ter parado naquele lugar. As crianças brincavam nas ruas sempre porque não havia predadores. Nem havia nenhum narcótico ilegal, pois nenhum traficante se arriscaria a sentir a ira dos Orsati por colocar drogas na vila deles. Nunca acontecia nada ali, e às vezes não havia muito trabalho. Mas era limpa, bonita e segura, e os habitantes pareciam contentes em comer bem, beber vinho e passar tempo com seus filhos e seus idosos. Keller sempre sentia falta deles quando ficava muito tempo longe da Córsega. Ele se vestia como eles, falava o dialeto local e, à noite, quando jogava boules com os homens na praça da vila, balançava a cabeça com desgosto sempre que alguém falava dos franceses ou, Deus perdoe, dos italianos. No passado, as pessoas da vila o chamavam de “Inglês”. Agora ele era somente Christopher. Era um deles.
A histórica propriedade do clã Orsati estava pouco além da vila, em um pequeno vale de oliveiras que produzia o melhor azeite da ilha. Dois guardas armados cuidavam da entrada; eles tocaram seus chapéus típicos respeitosamente quando Keller cruzou o portão e começou a longa subida até a casa. Pinheiros-larício cobriam a entrada, mas no jardim murado a luz brilhante do sol iluminava a longa mesa que tinha sido colocada para o tradicional almoço de domingo da família. Por enquanto, a mesa estava vazia. O clã ainda estava na missa, e o Dom, que não pisava mais na igreja, estava no andar de cima, em seu escritório. Ele estava sentado em uma grande mesa de madeira, olhando um livro aberto com capa de couro, quando Keller entrou. Perto de seu cotovelo havia uma garrafa decorativa do azeite de oliva Orsati — azeite de oliva era o negócio legítimo através do qual o Dom lavava os lucros da morte.
— Como estava Berlim? — ele perguntou sem levantar a cabeça.
— Fria — respondeu Keller. — Mas produtiva.
— Alguma complicação?
— Não.
Orsati sorriu. A única coisa que ele detestava mais que complicações eram os franceses. Fechou o livro e olhou para o rosto de Keller. Como sempre, Dom Orsati estava vestido com uma camisa branca bem passada, calças folgadas de algodão claro e sandálias de couro que pareciam ter sido compradas no mercado local, o que era verdade. Seu bigode pesado tinha sido aparado e sua cabeça com cabelos escuros e toques grisalhos brilhava com gel. O Dom sempre cuidava muito de sua aparência aos domingos. Ele não acreditava mais em Deus, mas insistia em manter o descanso sagrado. Evitava palavrões no dia do Senhor, tentava pensar em coisas boas e, mais importante, proibia que seus taddunaghiu, seus matadores, cumprissem os contratos. Mesmo Keller, que tinha sido criado como anglicano e era, por isso, considerado um herege, seguia as regras do Dom. Recentemente, ele tinha sido forçado a passar mais uma noite em Varsóvia porque Dom Orsati não deu permissão para que matasse o alvo, um mafioso russo, no dia de descanso.
— Você vai ficar para almoçar — o Dom estava falando.
— Obrigado, Dom Orsati — disse Keller formalmente —, mas não quero incomodar.
— Você? Incomodar? —O homem fez um gesto com a mão.
— Estou cansado — falou Keller. — Foi uma viagem complicada.
— Você não dormiu na balsa?
— Evidentemente — disse Keller —, você não viajou em uma balsa recentemente.
Era verdade. Anton Orsati raramente se aventurava além das paredes bem guardadas de sua propriedade. O mundo o procurava com seus problemas, e ele os resolvia — por um valor substancial, claro. Pegou um envelope grosso e colocou na frente de Keller.
— O que é isso?
— Considere um bônus de Natal.
— É outubro.
Dom deu de ombros. Keller levantou a aba do envelope e olhou dentro. Estava cheio de maços de notas de cem euros. Abaixou a aba e empurrou o envelope para o centro da mesa.
— Aqui na Córsega — disse Dom, franzindo a testa —, é falta de educação recusar um presente.
— O presente não é necessário.
— Aceite, Christopher. Você merece.
— Você me fez ser rico, Dom Orsati, mais rico do que achei que seria possível.
— Mas?
Keller ficou sentado em silêncio.
— Em boca fechada não entra mosca nem comida — disse Dom, citando um provérbio da Córsega, dos muitos que conhecia.
— O que quer dizer?
— Fale, Christopher. Conte-me o que o incomoda.
Keller estava olhando o dinheiro, conscientemente evitando o olhar do Dom.
— Está chateado com seu trabalho?
— Não é isso.
— Talvez você devesse dar uma parada. Poderia concentrar suas energias no lado legítimo do negócio. Há muito dinheiro para ganhar aí.
— Azeite de oliva não é a resposta, Dom Orsati.
— Então há um problema.
— Não falei isso.
— Não precisa. — Dom olhou para Keller cuidadosamente. — Quando você arrancar o dente, Christopher, vai parar de doer.
— A menos que tenha um péssimo dentista.
— A única coisa pior que um péssimo dentista é uma péssima companhia.
— É melhor estar sozinho — falou Keller filosoficamente — do que ter péssimas companhias.
Dom sorriu.
— Você pode ter nascido inglês, Christopher, mas tem alma de corso.
Keller se levantou. O Dom empurrou o envelope pela mesa.
— Tem certeza de que não quer ficar para almoçar?
— Tenho planos.
— Quaisquer que forem — disse Dom —, terão de esperar.
— Por quê?
— Tem um visitante.
Keller não precisou perguntar o nome do visitante. Havia poucas pessoas no mundo que sabiam que ele ainda estava vivo e só uma que ousaria aparecer sem avisar antes.
— Quando ele chegou?
— Ontem à noite — respondeu Dom.
— O que ele quer?
— Não tinha liberdade para contar. — Dom olhou para Keller analisando-o profundamente. — É minha imaginação — perguntou finalmente — ou seu humor melhorou de repente?
Keller saiu sem responder. Dom Orsati ficou olhando-o se afastar. Então, olhou para a mesa e xingou baixinho. O inglês tinha se esquecido de levar o envelope.
10
CÓRSEGA
CHRISTOPHER KELLER SEMPRE TINHA muito cuidado com seu dinheiro. Pelos próprios cálculos, ele ganhara mais de vinte milhões de dólares trabalhando para Dom Anton Orsati e, através de investimentos prudentes, tinha se tornado muito rico. A maior parte de sua fortuna estava em bancos em Genebra e Zurique, mas havia também contas em Mônaco, Liechtenstein, Bruxelas, Hong Kong e nas Ilhas Caimã. Ele até mantinha uma pequena quantidade de dinheiro em um banco com boa reputação em Londres. Seu gerente de conta britânico acreditava que era um residente recluso da Córsega que, como Dom Orsati, pouco saía da ilha. O governo da França tinha a mesma opinião. Keller pagava impostos de seus ganhos legítimos e de um respeitável salário que recebia da Orsati Olive Oil Company, onde era diretor de vendas para a Europa central. Votava nas eleições francesas, doava a instituições de caridade francesas, torcia por times franceses e, de vez em quando, tinha sido forçado a utilizar os serviços da saúde pública francesa. Nunca tinha sido acusado de nenhum tipo de crime, uma conquista importante para um homem do sul, e seu registro no departamento de trânsito era impecável. No geral, com uma exceção significativa, Christopher Keller era um cidadão-modelo.
Esquiador e montanhista habilidoso, foi o dono silencioso de um chalé nos Alpes franceses por algum tempo. No momento, ele mantinha uma única residência, uma casa de campo de proporções modestas em um local depois do vale dos Orsati. A casa tinha paredes exteriores marrom-amareladas, telhado de telhas vermelhas, uma grande piscina e um amplo terraço que recebia o sol de manhã e, à tarde, ficava protegido pelos pinheiros. Dentro, os quartos largos eram confortavelmente decorados com móveis rústicos em branco, bege e amarelo. Havia muitas estantes cheias de livros sérios — Keller tinha estudado brevemente história militar em Cambridge e era um leitor voraz de política e questões contemporâneas — e nas paredes havia pendurada uma coleção modesta de quadros modernos e impressionistas. O trabalho mais valioso era uma pequena paisagem de Monet, que Keller, através de um intermediário, tinha comprado em um leilão da Christie’s, em Paris. Parado na frente dele agora, uma mão descansando no queixo, a cabeça meio de lado, estava Gabriel. Ele lambeu a ponta do dedo, esfregou na superfície e balançou a cabeça lentamente.
— Algo errado? — perguntou o inglês.
— A superfície está coberta de sujeira. Você realmente deveria me deixar limpá-lo. Só vai demorar uns...
— Gosto dele assim.
Gabriel limpou o dedo em seu jeans e se virou para Keller. O inglês era dez anos mais jovem que Gabriel, dez centímetros mais alto, e 13 quilos mais pesado, especialmente em ombros e braços, onde carregava uma quantidade letal de força e massa bem esculpidas. Seu cabelo curto era loiro desbotado pelo mar; sua pele era muito bronzeada pelo sol. Ele tinha olhos azuis brilhantes, rosto quadrado, e um queixo grosso com um furo no centro. Sua boca parecia fixada permanentemente em um sorriso debochado. Keller era um homem sem lealdade, sem medo e sem moral, exceto quando se tratava de questões de amizade e amor. Tinha vivido segundo as próprias regras e de certa forma tinha saído ganhando.
— Achei que estaria em Roma — ele falou.
— Eu estava — respondeu Gabriel. — Mas Graham Seymour apareceu na cidade. Ele tinha algo que queria me mostrar.
— O que era?
— A fotografia de um homem caminhando pelo aeroporto de Heathrow.
O meio sorriso de Keller desapareceu, seus olhos azuis se entrecerraram.
— Quanto ele sabe?
— Tudo, Christopher.
— Estou em perigo?
— Isso depende.
— Do quê?
— De você concordar em fazer um trabalho para ele.
— O que ele quer?
Gabriel sorriu.
— O que você faz melhor.
Do lado de fora, o sol ainda dominava o terraço de Keller. Eles se sentaram em duas cadeiras de jardim confortáveis, uma pequena mesa de ferro forjado entre eles. Sobre ela, o grosso arquivo de Graham Seymour acerca dos trabalhos de Eamon Quinn. Keller ainda não tinha aberto ou olhado. Estava ouvindo, interessado, Gabriel contar do papel de Quinn no assassinato da princesa.
Quando Gabriel terminou, Keller pegou a fotografia de sua recente passagem pelo aeroporto de Heathrow.
— Você me deu sua palavra — ele falou. — Jurou que nunca ia contar a Graham que estávamos trabalhando juntos.
— Não precisei contar. Ele já sabia.
— Como?
Gabriel explicou.
— Bastardo desonesto— murmurou Keller.
— Ele é britânico — falou Gabriel. — É algo natural.
Keller olhou cuidadosamente para Gabriel por um momento.
— É engraçado — ele falou —, mas você não parece muito chateado com a situação.
— É uma oportunidade interessante para você, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava o meio-dia. Keller colocou a fotografia em cima do arquivo e acendeu um cigarro.
— Você precisa? — perguntou Gabriel, afastando a fumaça com a mão.
— Que escolha eu tenho?
— Você pode parar de fumar e acrescentar vários anos à sua vida.
— Em relação ao Graham — disse Keller, exasperado.
— Acho que pode ficar aqui na Córsega e esperar que ele não decida contar sobre você aos franceses.
— Ou?
— Pode me ajudar a encontrar Eamon Quinn.
— E depois?
— Pode voltar para casa, Christopher.
Keller apontou o vale com a mão e disse:
— Esta é a minha casa.
— Não é real, Christopher. É uma fantasia. É uma invenção.
— Você também é.
Gabriel sorriu, mas não disse nada. O sino da igreja tinha ficado em silêncio; as sombras da tarde estavam se juntando na beira do terraço. Keller esmagou o cigarro e olhou para o arquivo fechado.
— Leitura interessante? — ele perguntou.
— Bastante.
— Reconhece alguém?
— Um homem do MI5 chamado Graham Seymour — falou Gabriel — e um oficial da SAS que é chamado somente por seu codinome.
— Qual é?
— Mercador.
— Sugestivo.
— Também achei.
— O que fala sobre ele?
— Diz que operou em segredo em Belfast Oeste por cerca de um ano no final dos anos oitenta.
— Por que parou?
— Seu disfarce foi descoberto. Aparentemente, houve uma mulher envolvida.
— Menciona o nome dela? — perguntou Keller.
— Não.
— O que aconteceu em seguida?
— Mercador foi sequestrado pelo IRA e levado a uma fazenda remota para ser interrogado e executado. A fazenda era no condado de Armagh. Quinn estava lá.
— Como terminou?
— Mal.
Uma rajada de vento dobrou o pinheiro. Keller olhou para o vale corso como se estivesse escapando de seu controle. Aí, acendeu outro cigarro e contou a Gabriel o resto da história.
11
CÓRSEGA
FOI A HABILIDADE DE Keller com idiomas que o destacou — não idiomas estrangeiros, mas as várias formas em que o Inglês é falado nas ruas de Belfast e nos seis condados da Irlanda do Norte. As sutilezas dos sotaques locais fizeram com que fosse quase impossível para os oficiais da SAS trabalharem sem serem detectados dentro das pequenas e muito conectadas comunidades da província. Como resultado, a maioria dos homens da SAS era forçada a usar os serviços de um Fred — o termo do regimento para um ajudante local — quando seguiam membros do IRA ou realizavam vigilância nas ruas. Mas não Keller. Ele desenvolveu a capacidade de imitar os vários dialetos de Ulster com a velocidade e a confiança de um nativo. Ele podia até mudar de sotaque de repente — um católico de Armagh um minuto, um protestante da Shankill Road de Belfast no seguinte, depois um católico de Ballymurphy. Suas habilidades linguísticas foram notadas por seus superiores. Nem demorou muito para eles perceberem um ambicioso oficial de inteligência que dirigia o MI5 na Irlanda do Norte.
— Presumo— falou Gabriel — que o jovem oficial do MI5 era Graham Seymour.
Keller assentiu. Então, explicou que Seymour, no final dos anos oitenta, estava insatisfeito com o nível das informações que estava recebendo dos informantes do MI5 na Irlanda do Norte. Ele queria inserir o próprio agente nas fileiras do IRA de Belfast Oeste para informar sobre os movimentos e associações de conhecidos comandantes e voluntários do IRA. Não era um trabalho para um oficial comum do MI5. O agente teria de saber como se virar em um mundo onde um passo em falso, um olhar errado, poderia matar um homem. Keller se encontrou com Seymour em uma casa segura em Londres e aceitou a missão. Dois meses depois, ele estava de volta a Belfast fingindo ser Michael Connelly, um católico. Alugou um apartamento de dois quartos na Divis Tower, em Falls Road. Seu vizinho era membro da brigada do IRA de Belfast Oeste. O exército britânico mantinha um posto de observação no telhado e usava os dois últimos andares como escritório e depósito. Quando os conflitos estavam no auge, os soldados entravam e saíam de helicóptero.
— Era uma loucura — disse Keller, balançando a cabeça devagar. — Loucura total.
Enquanto boa parte de Belfast Oeste estava desempregada e recebendo seguro-desemprego, Keller logo encontrou trabalho como entregador de uma lavanderia em Falls Road. O emprego permitia que se movesse livremente pela vizinhança e enclaves de Belfast Oeste sem levantar suspeitas, e dava acesso às casas e roupas de conhecidos membros do IRA. Era uma conquista impressionante, mas não foi por acaso. A lavanderia era propriedade da inteligência britânica, que a operava.
— Era uma das operações mais controladas — disse Keller. — Nem o primeiro-ministro sabia dela. Tínhamos uma pequena frota de vans, equipamento de escuta e um laboratório nos fundos. Testávamos toda roupa que chegava em nossas mãos buscando traços de explosivos. E, se tínhamos um positivo, colocávamos o dono e sua casa sob vigilância.
Gradualmente, Keller começou a fazer amizades com membros da disfuncional comunidade ao redor dele. Seu vizinho do IRA o convidou para jantar, e, uma vez, em um bar do IRA em Falls Road, um recrutador fez um convite não tão sutil, o qual Keller recusou educadamente. Ele ia regularmente à missa na igreja de S. Paul — como parte de seu treinamento, tinha aprendido os rituais e doutrinas do catolicismo — e, em um domingo úmido em Lent, conheceu uma linda jovem chamada Elizabeth Conlin. Seu pai era Ronnie Conlin, um comandante de campo do IRA em Ballymurphy.
— Um personagem sério— disse Gabriel.
— O mais sério.
— Você decidiu investir na relação.
— Não tive muita escolha na questão.
— Estava apaixonado por ela.
Keller assentiu lentamente.
— Como você se encontrava com ela?
— Costumava entrar escondido em seu quarto. Ela pendurava um lenço violeta na janela se fosse seguro. Era uma casa com terraço e paredes finas como papel. Eu conseguia ouvir o pai dela no quarto ao lado. Era...
— Uma loucura — disse Gabriel.
Keller não falou nada.
— Graham sabia?
— Claro.
— Contou a ele?
— Não precisei. Eu estava sob constante vigilância do MI5 e da SAS.
— Presumo que ele mandou você romper com ela.
— Em termos bem diretos.
— O que você fez?
— Concordei — respondeu Keller. — Com uma condição.
— Quis vê-la uma última vez.
Keller ficou em silêncio e, quando finalmente falou, sua voz tinha mudado. Usava as vogais alongadas e os toques duros da classe trabalhadora de Belfast Oeste. Ele não era mais Christopher Keller, era Michael Connelly, o entregador de roupas de Falls Road que tinha se apaixonado pela linda filha de um chefe do IRA de Ballymurphy. Em sua última noite em Ulster, ele deixou a van em Springfield Road e escalou o muro do jardim da casa de Conlin. O lenço violeta estava pendurado no lugar de sempre, mas o quarto de Elizabeth estava escuro. Keller levantou a janela sem fazer barulho, abriu as cortinas e entrou. Instantaneamente, recebeu um golpe na cabeça, como se fosse a ponta de um machado e começou a perder a consciência. A última coisa que se lembra antes de desmaiar foi o rosto de Ronnie Conlin.
— Estava falando comigo — disse Keller. — Estava dizendo que eu ia morrer.
Keller foi amarrado, amordaçado, encapuzado e enfiado no porta-malas de um carro. Foi levado dos bairros pobres de Belfast Oeste a uma fazenda em Armagh. Lá foi para um celeiro e apanhou muito. Então, foi amarrado a uma cadeira para ser interrogado e julgado. Quatro homens da famosa brigada localdo IRA seriam os jurados. Eamon Quinn seria o promotor, juiz e executor. Ele planejava realizar a sentença com uma faca que tinha roubado de um soldado britânico morto. Quinn era o melhor fabricante de bombas do IRA, um mestre na técnica mas, quando se tratava de assassinato pessoal, ele preferia a faca.
— Ele me falou que se eu cooperasse, minha morte seria razoável. Se não, ele iria me cortar em pedaços.
— O que aconteceu?
— Tive sorte — falou Keller. — Fizeram um péssimo trabalho com as cordas e eu os cortei em pedaços. Foi tão rápido que nem souberam o que os acertou.
— Quantos?
— Dois — respondeu Keller. — Então, consegui pegar uma das armas e atirei em outros dois.
— O que aconteceu com Quinn?
— Quinn sabiamente fugiu. Ele viveu para lutar outro dia.
Na manhã seguinte, o exército britânico anunciou que quatro membros da Brigada de South Armagh tinham sido mortos em uma operação na remota casa segura do IRA. A contagem não fazia nenhuma menção a um oficial da SAS disfarçado chamado Christopher Keller. Nem mencionou um serviço de lavanderia em Falls Road secretamente dirigido pela inteligência britânica. Keller foi levado de volta à Inglaterra para tratamento; a lavanderia foi fechada discretamente. Foi uma grande derrota para os esforços britânicos na Irlanda do Norte.
— E Elizabeth? — perguntou Gabriel.
— Encontraram seu corpo dois dias depois. Rasparam seu cabelo. A garganta foi cortada.
— Quem fez isso?
— Ouvi dizer que foi o Quinn — disse Keller. — Aparentemente, ele insistiu em fazer isso.
Depois de sair do hospital, Keller voltou ao quartel-general da SAS em Hereford para descansar e se recuperar. Ele fazia longas e autopunitivas caminhadas em Brecon Beacons e treinava novos recrutas na arte de matar em silêncio, mas era claro a seus superiores que a experiência em Belfast tinha mudado sua cabeça. Então, em agosto de 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuait. Keller voltou a seu antigo esquadrão Sabre e foi deslocado para o Oriente Médio. Na noite de 28 de janeiro de 1991, enquanto procurava os lançadores de mísseis Scud no deserto ocidental do Iraque, sua unidade foi atacada por uma aeronave da coalizão em um trágico caso de fogo amigo. Só Keller sobreviveu. Com ódio, ele abandonou o campo de batalha e, disfarçado de árabe, cruzou a fronteira para a Síria. De lá, caminhou para o ocidente cruzando Turquia, Grécia e Itália, até finalmente terminar na costa da Córsega, onde caiu nos braços de Dom Anton Orsati.
— Já procurou por ele?
— Quinn?
Gabriel assentiu.
— Dom proibiu.
— Mas isso não o impediu, não é?
— Digamos que segui sua carreira de perto. Sabia que tinha ido com o IRA Autêntico depois dos acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e sabia que foi ele quem plantou aquela bomba no meio de Omagh.
— E quando fugiu da Irlanda?
— Fiz perguntas educadas sobre seu paradeiro. Perguntas mal-educadas, também.
— Alguma delas deu resultado?
— Certamente.
— Mas você nunca tentou matá-lo?
— Não — falou Keller, balançando a cabeça. — Dom proibiu.
— Mas agora você tem uma chance.
— Com a bênção do Serviço Secreto de Sua Majestade. — Keller deu um breve sorriso. — Bastante irônico, não acha?
— Como assim?
— Quinn me tirou do jogo e agora está me levando de volta. — Keller olhou sério para Gabriel por um momento. — Tem certeza de que quer se envolver nisso?
— Por que não iria querer?
— Porque é pessoal — respondeu Keller. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
— Eu me envolvo em coisas pessoais o tempo todo.
— Confusas, também. — As sombras estavam tomando o terraço. O vento fazia ondas na superfície da piscina de Keller. — E se eu fizer isso? — ele perguntou. — E aí?
— Graham vai dar a você uma nova identidade britânica. Um emprego, também. — Gabriel parou.— Se estiver interessado.
— Um emprego fazendo o quê?
— Use sua imaginação.
Keller franziu a testa.
— O que você faria se fosse eu?
— Aceitaria a proposta.
— E desistir de tudo isso?
— Não é real, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava uma hora.
— O que vou dizer ao Dom? — perguntou Keller.
— Infelizmente não posso ajudá-lo com isso.
— Por quê?
— Porque é pessoal — respondeu Gabriel. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
Havia uma balsa partindo de Nice às seis, àquela tarde. Gabriel embarcou às cinco e meia, bebeu um café na cafeteria e foi até o deque de observação para esperar por Keller. Às 17h45 ele não tinha chegado. Mais cinco minutos se passaram sem sinal dele. Então, Gabriel viu um Renault maltratado entrando no estacionamento e um momento depois viu Keller subindo a rampa correndo com uma mochila pendurada nos poderosos ombros. Eles ficaram lado a lado na grade olhando as luzes de Ajaccio diminuindo ao longe. O gentil vento noturno tinha cheiro de macchia, a densa vegetação rasteira de quermes, alecrim e lavanda que cobria boa parte da ilha. Keller respirou fundo antes de acender um cigarro. A brisa carregou sua primeira exalação de fumaça sobre o rosto de Gabriel.
— Você precisa?
Keller não falou nada.
— Estava começando a pensar que tinha mudado de ideia.
— E deixar que você vá sozinho atrás do Quinn?
— Não acha que consigo fazer isso?
— Eu falei isso?
Keller fumou em silêncio por um momento.
— O que o Dom achou?
— Ele recitou muitos provérbios corsos sobre a ingratidão dos filhos. E depois concordou em me deixar partir.
As luzes da ilha estavam ficando mais opacas; o vento tinha cheiro apenas de mar. Keller pegou seu casaco, tirou um talismã corso e entregou a Gabriel.
— Um presente da signadora.
— Não acreditamos nessas coisas.
— Eu aceitaria se fosse você. A velha sugeriu que a coisa poderia ficar feia.
— Feia?
Keller não falou nada. Gabriel aceitou o talismã e o colocou no pescoço. Uma a uma, as luzes da ilha desapareceram. Até a última.
12
DUBLIN
TECNICAMENTE, A OPERAÇÃO EM que Gabriel e Christopher embarcaram no dia seguinte era um trabalho conjunto entre o Escritório e o MI6. O papel britânico era tão secreto, no entanto, que só Graham Seymour sabia dele. Portanto, foi o Escritório que fez os arranjos de viagem e alugou o sedan Škoda que estava esperando no estacionamento do aeroporto de Dublin. Gabriel revisou a parte de baixo antes de entrar no veículo. Keller sentou no banco do passageiro e, franzindo a testa, fechou a porta.
— Não dava para ter conseguido algo melhor que um Škoda?
— É um dos carros mais populares da Irlanda, o que quer dizer que não vai se destacar.
— E as armas?
— Abra o porta-luvas.
Keller abriu. Dentro havia uma Beretta 9mm, carregada, com um pente extra e um silenciador.
— Só uma?
— Não estamos entrando em uma guerra, Christopher.
— É o que você acha.
Keller fechou o porta-luvas, Gabriel enfiou a chave na ignição. O motor hesitou, tossiu e finalmente ligou.
— Ainda acha que deveriam ter alugado um Škoda? — perguntou Keller.
Gabriel colocou o carro em movimento.
— Por onde começamos?
— Ballyfermot.
— Bally onde?
Keller apontou para a placa de saída e disse:
— Bally, para aquele lado.
A República da Irlanda já foi uma terra quase sem crimes violentos. Até o final dos anos sessenta, a força policial da Irlanda, a Garda Síochána, só tinha uns sete mil policiais, e em Dublin havia somente sete carros de patrulha. A maioria dos crimes era leve: arrombamento, batedor de carteira, um ou outro roubo mais violento. E, quando havia violência envolvida, era normalmente alimentada por paixão, álcool ou uma combinação dos dois.
Isso mudou com o início dos conflitos na fronteira com a Irlanda do Norte. Desesperados por dinheiro e armas para lutar contra o exército britânico, o IRA Provisório começou a roubar bancos no sul. Os ladrões pequenos dos bairros pobres de Dublin aprenderam com as táticas dos provos, como eram conhecidos os membros do IRA, e começaram a realizar assaltos à mão armada. A Gardaí, com poucos homens e em situação inferior, foi rapidamente superada pelas ameaças do IRA e dos criminosos locais. Em 1970, a Irlanda não era mais tranquila. Era uma terra de ninguém, onde criminosos e revolucionários operavam com impunidade.
Em 1979, dois eventos improváveis longe da costa da Irlanda aceleraram a decadência do país em um caos social. O primeiro foi a revolução iraniana. O segundo foi a invasão soviética do Afeganistão. Os dois resultaram em uma invasão de heroína barata nas ruas das cidades da Europa ocidental. A droga entrou nos bairros pobres do sul de Dublin em 1980. Um ano depois arrasava os guetos do lado norte. Vidas foram destruídas, famílias foram abaladas e as taxas de crimes aumentaram quando viciados desesperados tentavam alimentar seu hábito. Comunidades inteiras se tornaram terras destroçadas distópicas, onde junkies se drogavam abertamente nas ruas e os traficantes eram reis.
O milagre econômico dos anos noventa transformou a Irlanda de um dos países mais pobres da Europa em um dos mais ricos mas, com a prosperidade, veio um apetite ainda maior por drogas, especialmente cocaína e ecstasy. Os velhos chefes criminosos abriram caminho a uma nova geração de líderes que realizaram guerras sangrentas para dominar territórios e porções do mercado. Onde os mafiosos irlandeses antes usavam armas de cano serrado para impor a vontade deles, os novos membros da gangue se armavam com AK-47 e outros armamentos pesados. Corpos cheios de balas começaram a aparecer nas ruas dos bairros pobres. De acordo com uma estimativa da Garda, em 2012, 25 gangues de tráfico violentas faziam seu comércio mortal na Irlanda. Várias tinham estabelecido conexões lucrativas com grupos criminosos organizados do exterior, inclusive remanescentes do IRA Autêntico.
— Achei que eram contra as drogas — disse Gabriel.
— Isso pode ser verdade lá em cima — disse Keller, apontando para o norte —, mas aqui embaixo, na República, a história é outra. No fundo, o IRA Autêntico é outra gangue de traficantes. Às vezes negociam diretamente. Às vezes gerenciam redes de proteção. Principalmente, tiram dinheiro de traficantes.
— O que LiamWalsh faz?
— Um pouco de tudo.
A chuva embaçava os faróis de trânsito da hora do rush à noite. O tráfego estava mais leve do que Gabriel tinha esperado. Ele achou que era a economia. A Irlanda tinha caído mais do que todos. Até os traficantes estavam com problemas.
— Walsh era republicano em suas veias — Keller estava falando. — Seu pai era do IRA, assim como seus tios e irmãos. Ele foi com o IRA Autêntico depois da grande divisão, e quando a guerra efetivamente terminou, ele veio a Dublin ganhar sua fortuna no negócio das drogas.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Omagh. — Keller apontou para a direita e disse: — Você tem que virar aqui.
Gabriel guiou o carro até Kennelsfort Road. Havia casas de dois andares com terraços dos dois lados da rua. Não era exatamente o milagre irlandês, mas não era uma favela também.
— Aqui é Ballyfermot?
— Palmerstown.
— Para que lado?
Com um movimento de mão, Keller instruiu Gabriel a continuar em frente. Eles saíram em um parque industrial de armazéns cinzentos baixos e de repente estavam em Ballyfermot Road. Após um tempo, chegaram a uma série de pequenas lojas tristonhas: um outlet, uma loja de roupa de cama, uma ótica, uma lanchonete. Do outro lado da rua havia um supermercado Tesco e próximo a ele havia uma casa de apostas. Quatro homens de casacos de couro preto cuidavam da entrada. Liam Walsh era o menor do grupo. Estava fumando um cigarro; estavam todos fumando. Gabriel entrou no estacionamento do Tesco e ocupou uma vaga. Tinha uma clara visão da casa de apostas.
— Talvez você devesse deixar o motor ligado — falou Keller.
— Por quê?
— Poderia não voltar a ligar.
Gabriel desligou o motor e apagou o farol. A chuva batia forte contra o vidro. Depois de uns segundos, Liam Walsh desapareceu em um caleidoscópio borrado de luz. Então, Gabriel ligou o limpador de para-brisa e Walsh reapareceu. Uma comprida Mercedes preta tinha parado em frente à casa de apostas. Era a única Mercedes na rua, provavelmente a única no bairro. Walsh estava conversando com o motorista pela janela aberta.
— Parece um verdadeiro pilar da comunidade — falou Gabriel em voz baixa.
— É como gosta de se mostrar.
— Então por que está parado em frente a uma casa de apostas?
— Quer que as outras gangues saibam que ele está cuidando da área. Um rival tentou matá-lo nesse mesmo lugar no ano passado. Se você olhar de perto, consegue ver os buracos das balas na parede.
A Mercedes foi embora. Liam Walsh voltou a seu abrigo na entrada.
— Quem são esses rapazes de aparência tão boa com ele?
— Os dois à esquerda são os guarda-costas dele. O outro é o seu segundo em comando.
— IRA Autêntico?
— Até os ossos.
— Armados?
— Certamente.
— Então o que você propõe?
— Vamos esperar que ele se mova.
— Aqui?
Keller balançou a cabeça.
— Se nos virem sentados em um carro estacionado, vão achar que somos da Garda ou membros de uma gangue rival. E, se acharem isso, estamos mortos.
— Então talvez não devêssemos nos sentar aqui.
Keller apontou para a lanchonete do outro lado da rua e saiu. Gabriel o seguiu. Eles caminharam lado a lado na beira da rua, as mãos nos bolsos, cabeças abaixadas por causa da chuva, esperando para atravessar.
— Estão olhando para nós — disse Keller.
— Você notou isso também?
— É difícil não notar.
— Walsh conhece seu rosto?
— Conhece agora.
O trânsito parou; eles cruzaram a estrada e foram até a entrada da lanchonete.
— É melhor você não falar — disse Keller. — Esse não é o tipo de bairro que recebe muitos visitantes de terras exóticas.
— Eu falo um inglês perfeito.
— Esse é o problema.
Keller abriu a porta e entrou primeiro. Era uma sala apertada com um piso de linóleo quebrado e paredes descascando. O ar era pesado com gordura, amido e um cheiro de algodão molhado. Havia uma garota bonita atrás do balcão e uma mesa vazia encostada na janela. Gabriel se sentou de costas para a rua enquanto Keller foi até o balcão e fez seu pedido comum sotaque de alguém do sul de Dublin.
— Muito impressionante — murmurou Gabriel quando Keller se sentou. — Por um minuto pensei que você fosse começar a cantar When Irish Eyes Are Smiling.
— Para aquela garota linda, sou tão irlandês quanto ela.
— É — falou Gabriel, duvidando. — E eu sou o Oscar Wilde.
— Não acha que posso fingir ser irlandês?
— Talvez um que passou umas férias muito longas sob o sol.
— Essa é a minha história.
— Onde você estava?
— Maiorca — respondeu Keller. — Os irlandeses adoram Maiorca, especialmente os mafiosos irlandeses.
Gabriel olhou ao redor do interior do café.
— Eu imagino por quê.
A garota foi até à mesa e depositou um prato de batatas e dois copos de isopor com chá e leite. Quando ela estava se afastando, a porta se abriu e dois homens muito pálidos de vinte e poucos anos entraram. Uma mulher com um casaco úmido e sapatos velhos entrou um momento depois. Os dois homens se sentaram a uma mesa perto de Keller e Gabriel e começaram a falar em um dialeto que Gabriel achou quase impenetrável. A mulher se sentou no fundo da lanchonete. Ela só pediu chá e estava lendo um livro bastante usado.
— O que está acontecendo do lado de fora? — perguntou Gabriel.
— Quatro homens parados na frente de uma casa de apostas. Um homem parece que já está cansado da chuva.
— Onde ele mora?
— Não muito longe — respondeu Keller. — Gosta de morar entre o povo.
Gabriel bebeu um pouco do chá e fez uma careta. Keller empurrou o prato de batatas.
— Coma um pouco.
— Não.
— Por que não?
— Quero viver o suficiente para ver meus filhos nascerem.
— Boa ideia.
Keller sorriu, depois acrescentou:
— Homens da sua idade realmente deveriam se preocupar com o que comem.
— Olha quem fala.
— Quantos anos você tem, exatamente?
— Não consigo me lembrar.
— Problemas de perda de memória?
Gabriel bebeu um pouco do chá. Keller mordiscou as batatas.
— Não são tão boas quanto as fritas do sul da França — falou.
— Pegou o recibo?
— Para que eu precisaria de recibo?
— Ouvi que os contadores do MI6 são muito exigentes.
— Não vamos continuar com isso do MI6 ainda. Não tomei nenhuma decisão.
— Às vezes nossas melhores decisões acontecem sozinhas.
— Você parece o Dom. — Keller comeu outra batata. — É verdade isso dos contadores do MI6?
— Só estava puxando conversa.
— São duros?
— Os piores.
— Mas não com você.
— Não muito.
— Então por que não conseguiram algo melhor que um Škoda para você?
— O Škoda está ótimo.
— Espero que ele caiba no porta-malas.
— Podemos bater a porta na cabeça dele algumas vezes se for preciso.
— E a casa segura?
— Tenho certeza de que é adorável, Christopher.
Keller não parecia convencido. Pegou outra batata, pensou melhor e jogou-a no prato.
— O que está acontecendo atrás de mim? — ele perguntou.
— Dois caras estão falando um idioma desconhecido. Uma mulher está lendo.
— O que está lendo?
— Acho que é John Banville.
Keller assentiu, pensativo, os olhos na Ballyfermot Road.
— O que você está vendo? — perguntou Gabriel.
— Um homem parado em frente a uma casa de apostas. Três homens entrando em um carro.
— Que tipo de carro?
— Mercedes preta.
— Melhor que um Škoda.
— Muito melhor.
— Então, o que vamos fazer?
— Deixamos as batatas e levamos o chá.
— Quando?
Keller se levantou.
13
BALLYFERMOT, DUBLIN
ELES JOGARAM OS COPOS de isopor em uma lata de lixo no estacionamento do Tesco e subiram no Škoda. Dessa vez, Keller dirigiu; era sua área. Ele entrou na Ballyfermot Road e cruzou o trânsito até que houvesse apenas dois carros separando-os da Mercedes. Dirigia calmamente, uma mão se equilibrando no alto do volante, a outra descansando no câmbio automático. Os olhos estavam fixos à frente. Gabriel estava controlando o espelho lateral e estava olhando o trânsito atrás deles.
— Então? — perguntou Keller.
— Você é muito bom, Christopher. Vai ser um ótimo agente do MI6.
— Eu estava perguntando se estávamos sendo seguidos.
— Não estamos.
Keller tirou a mão do câmbio e a usou para tirar um cigarro do bolso do casaco. Gabriel bateu no aviso preto e amarelo no visor e disse:
— É proibido fumar neste carro.
Keller acendeu o cigarro. Gabriel baixou o vidro uns centímetros para ventilar a fumaça.
— Estão parando — ele disse.
— Eu vi.
A Mercedes entrou em um estacionamento na frente de uma banca de jornal. Por alguns segundos ninguém saiu. Então Liam Walsh desceu da porta de trás do lado do passageiro e entrou na loja. Keller dirigiu mais uns cinquenta metros e estacionou em frente a uma pizzaria. Apagou as luzes, mas deixou o motor ligado.
— Acho que ele precisava pegar umas coisas a caminho de casa.
— Como o quê?
— Um Herald— sugeriu Keller.
— Ninguém mais lê jornais, Christopher. Não ouviu falar?
Keller olhou para a pizzaria.
— Talvez você devesse entrar e comprar uma pizza.
— Como eu peço sem falar o idioma?
— Vai pensar em algo.
— Qual sabor de pizza você quer?
— Vá — respondeu Keller.
Gabriel desceu do carro e entrou no lugar. Havia três pessoas na fila na frente dele. Ele ficou ali esperando em meio ao cheiro de queijo quente e fermento. Então, ouviu uma breve buzinada e, virando-se, viu a Mercedes preta entrando rápido na Ballyfermot Road. Gabriel saiu e entrou no banco do passageiro. Keller deu a volta, entrou na rua e acelerou lentamente.
— Ele comprou algo? — perguntou Gabriel.
— Uns jornais e um maço de Winston.
— Como ele estava quando saiu?
— Como se realmente não precisasse de jornal ou cigarro.
— Imagino que a Garda o vigia regularmente?
— Espero que sim.
— O que significa que está acostumado a ser seguido de vez em quando por homens em carros comuns.
— Eu pensaria isso.
— Está virando — falou Gabriel.
— Eu vi.
O carro entrou em uma rua escura de pequenas casas com terraço. Nenhum trânsito, nenhuma loja, nenhum lugar onde dois caras de fora poderiam ter algo a fazer. Keller parou no meio-fio e apagou os faróis. Cem metros à frente na rua, a Mercedes entrou em uma casa. As luzes do carro se apagaram. Quatro portas se abriram, quatro homens desceram.
— Casa de Walsh? — perguntou Gabriel.
Keller assentiu.
— Casado?
— Não é mais.
— Namorada?
— Pode ter.
— E um cachorro?
— Tem algum problema com cachorros?
Gabriel não respondeu. Em vez disso, ficou olhando os quatro homens se aproximarem da casa e desaparecerem pela porta da frente.
— O que fazemos agora? — ele perguntou.
— Acho que poderíamos passar os próximos dias esperando uma oportunidade melhor.
— Ou?
— Pegamos ele agora.
— Há quatro deles e dois nossos.
— Um — respondeu Keller. — Você não vai.
— Por que não?
— Porque o futuro chefe do Escritório não pode se envolver em algo assim. Além disso — acrescentou Keller, batendo na protuberância debaixo da jaqueta —, só temos uma arma.
— Quatro contra um — disse Gabriel depois de um momento. — Não é uma boa aposta.
— Na verdade, com meu histórico, eu gosto das minhas chances.
— Como você pretende fazer?
— Da mesma forma que costumávamos fazer na Irlanda do Norte — respondeu Keller. — Jogo de gente grande, regras de gente grande.
Keller desceu sem falar nada e fechou a porta sem fazer barulho. Gabriel passou uma perna sobre o console do centro e deslizou atrás do volante. Ele ligou o para-brisas e olhou Keller caminhando pela rua, as mãos no bolso do casaco, os ombros inclinados pelo vento. Verificou seu BlackBerry. Eram 20h27 em Dublin, 22h27 em Jerusalém. Pensou em sua linda esposa sentada sozinha no apartamento deles na rua Narkiss, e em seus dois filhos descansando confortavelmente no útero dela. E aqui estava ele em uma rua deserta no sul de Dublin, sentinela de outra vigília, esperando um amigo cobrar uma velha dívida. A chuva batia contra o vidro, a rua escura foi se enchendo de água. Gabriel ligou o para-brisa uma segunda vez e viu Keller passar por uma esfera de luz amarela. E, quando ligou pela terceira vez, Keller tinha desaparecido.
A casa estava localizada no número 48 da Rossmore Road. Seu exterior era cinzento, com uma janela de marcos brancos no térreo e outras duas no andar de cima. A entrada estreita tinha espaço suficiente para um carro. Ao lado da entrada havia um portão com um caminho e um pedaço de grama bordeada por uma sebe baixa. Era respeitável, exceto pelo homem que vivia ali.
Como todas as casas no final da rua, o número 48 tinha um quintal no fundo, que dava para os campos esportivos de uma escola católica para garotos. A entrada da escola virava a esquina em Le Fanu Road. O portão principal estava aberto; parecia que estava ocorrendo uma reunião na sala principal. Keller passou pelo portão sem ser notado e cruzou uma quadra marcada para diversos tipos de jogos. De repente, estava de volta à terrível escola em Surrey para onde seus pais o enviaram aos dez anos. Esperavam muito dele — uma boa família, um excelente estudante, um líder natural. Os garotos mais velhos nunca tocavam nele porque tinham medo. O diretor não usava castigos físicos contra ele porque secretamente o diretor também tinha medo.
Na beira da quadra havia uma fileira de árvores. Keller passou por baixo dos galhos secos e cruzou as quadras escuras. Junto ao lado norte havia um muro de aproximadamente dois metros de altura coberto de videiras. Além dele estavam os jardins de fundo das casas da Rossmore Road. Keller foi até o canto mais distante do campo e contou 57 passos precisamente. Então, silenciosamente, escalou o muro e pulou para o outro lado. Quando seus sapatos caíram sobre a terra úmida, tirou a Beretta com silenciador e apontou para a porta do fundo da casa. Havia luzes lá dentro; sombras se moviam contra as cortinas fechadas. Keller segurava a arma, vendo, ouvindo. Jogo de gente grande, ele pensou. Regras de gente grande.
Dez minutos depois das nove, o BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele o levou ao ouvido, escutou, e depois desligou. A chuva tinha dado lugar a uma névoa; Rossmore Road estava vazia de trânsito e pedestres. Dirigiu até a casa de número 48, estacionou na rua e desligou o motor. Novamente seu BlackBerry vibrou, mas dessa vez ele não atendeu. Em vez disso, tirou um par de luvas de borracha coloridas, desceu e abriu o porta-malas modesto. Dentro havia uma maleta deixada pelo mensageiro da Estação de Dublin. Gabriel a tirou e carregou até o jardim. A porta da frente abriu com seu toque; ele entrou e a fechou. Keller estava no hall de entrada, a Beretta em sua mão. O ar tinha cheiro de cordite e, levemente, de sangue. Era um cheiro muito familiar a Gabriel. Ele passou por Keller sem falar nada e entrou na sala de estar. Havia uma nuvem de fumaça no ar. Três homens, cada um com um buraco de bala no centro da testa, um quarto com um nariz quebrado e um queixo que parecia ter sido deslocado com um martelo. Gabriel se abaixou e viu se tinha pulso. Depois de ver que estava vivo, abriu a mala e começou a trabalhar.
A mala continha três rolos de fita adesiva grossa, uma dúzia de algemas flexíveis descartáveis, uma bolsa de nylon capaz de envolver um homem de 1,80m, um capuz preto, um agasalho azul e branco, duas mudas de roupa, um kit de primeiros socorros, fones de ouvido, sedativo, seringas, álcool e uma cópia do Corão. O Escritório se referia ao conteúdo da mala como pacote móvel do detido. Entre os agentes de campo veteranos, no entanto, era conhecido como um kit de viagem do terrorista.
Depois de determinar que Walsh não corria risco de morrer, Gabriel o mumificou com fita adesiva. Ele não se importou com as algemas de plástico; em questão de arte e restrição física, era um tradicionalista por natureza. Enquanto estava aplicando as últimas faixas de fita na boca e nos olhos de Walsh, o irlandês começou a recuperar a consciência. Gabriel aplicou uma dose do sedativo. Então, com a ajuda de Keller, colocou Walsh na sacola de lona e fechou o zíper.
A casa não tinha garagem, o que significava que não tinham escolha a não ser tirar Walsh pela porta da frente, à vista dos vizinhos. Gabriel encontrou a chave do Mercedes no corpo de um dos mortos. Moveu o carro para a rua e colocou o Škoda na entrada. Keller carregou Walsh para fora sozinho e o depositou no porta-malas aberto. Então subiu no banco do passageiro e deixou que Gabriel dirigisse. Foi o melhor. Na experiência de Gabriel, era pouco inteligente permitir que um homem que tinha acabado de matar três pessoas operasse um veículo motorizado.
— Você apagou as luzes?
Keller assentiu.
— E as portas?
— Estão trancadas.
Keller tirou o silenciador e o pente da Beretta e colocou tudo no porta-luvas. Gabriel saiu para a rua e começou o caminho de volta para Ballyfermot Road.
— Quantas balas você usou? — ele perguntou.
— Três — respondeu Keller.
— Quanto tempo antes que a Garda encontre os corpos?
— Não é com a Garda que deveríamos nos preocupar.
Keller jogou o cigarro na escuridão da rua. Gabriel viu faíscas explodindo pelo espelho.
— Como se sente? — ele perguntou.
— Como se nunca tivesse ido embora.
— Esse é o problema com a vingança, Christopher. Nunca faz a gente se sentir melhor.
— É verdade — disse Keller, acendendo outro cigarro. — E eu só estou começando.
14
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
A CASA ESTAVA NO MEIO da Doonen Road, no alto de uma colina com vista para as águas escuras do Salt Lake. Tinha três quartos, uma cozinha grande com utensílios modernos, uma sala de jantar formal, uma pequena biblioteca e um escritório, e um porão com paredes de pedra. O dono, um advogado de Dublin bem-sucedido, quis mil euros por uma semana. A Organização Interna tinha feito a proposta de mil e quinhentos por duas, e o advogado, que raramente recebia ofertas no inverno, aceitou. O dinheiro apareceu em sua conta bancária na manhã seguinte. Veio de algo chamado Taurus Global Entertainment, uma empresa de produção televisiva com sede na cidade suíça de Montreux. Falaram ao advogado que os dois homens que iam ficar em sua casa eram executivos da Taurus que estavam indo à Irlanda para trabalhar em um projeto que era de natureza delicada. Isso, pelo menos, era verdade.
A casa estava distante da Doonen Road por pelo menos uns cem metros. Havia um portão de alumínio frágil que devia ser aberto e fechado à mão e um caminho de pedras que subia pela colina atravessando a vegetação. No ponto mais alto da terra havia três árvores muito antigas derrubadas pelo vento que soprava do Atlântico norte e que se estreitava pela baía de Clifden. O vento era frio e sem remorso. Balançava as janelas da casa, agarrava as telhas e rondava os quartos sempre que uma porta se abria. O pequeno terraço era inabitável, uma terra de ninguém. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Doonen Road não era uma estrada de verdade, mas uma faixa estreita de asfalto, suficiente para um carro, com uma faixa de grama verde no centro. As pessoas de férias viajavam para lá ocasionalmente, mas ela servia basicamente como a porta dos fundos da vila de Clifden. Era uma cidade jovem pelos padrões irlandeses, fundada em 1814 por um dono de terras e xerife chamado John d’Arcy, que queria criar uma ilha de ordem dentro da violenta e sem lei Connemara. D’Arcy construiu um castelo para si e para os moradores da vila, uma linda cidade com ruas pavimentadas, praças e um par de igrejas com torres que podiam ser vistas de longe. O castelo agora estava em ruínas, mas a vila, que já tinha quase desaparecido por causa da Grande Fome, estava entre as mais vibrantes do oeste da Irlanda.
Um dos homens que estava na casa alugada, o menor dos dois, caminhava até a vila todos os dias, normalmente no final da manhã, vestindo um casaco verde-escuro, carregando uma mochila no ombro e usando um chapéu mole puxado sobre a testa. Ele comprava umas poucas coisas no supermercado e uma ou duas garrafas na Ferguson Fine Wines, italianos normalmente, às vezes franceses. E então, tendo comprado suas provisões, ele passeava pelas vitrines da Main Street com o ar de alguém preocupado com questões mais importantes. Em uma ocasião, ele entrou na Lavelle Art Gallery para dar uma olhada rápida no que tinham. O proprietário ia se lembrar depois que ele parecia conhecer muito sobre quadros e isso chamou sua atenção. Era difícil saber de onde era seu sotaque. Talvez alemão, talvez outra coisa. Não importava; para o povo de Connemara, todo mundo tinha sotaque.
No quarto dia, sua caminhada pela Main Street era mais superficial do que o normal. Ele entrou em apenas um lugar, na banca de jornal, e comprou quatro maços de cigarro norte-americano e uma cópia do The Independent. A primeira página estava cheia de notícias de Dublin, sobre três membros do IRA Autêntico que tinham sido encontrados mortos em uma casa em Ballyfermot. Outro homem estava desaparecido e supostamente tinha sido sequestrado. A Garda estava procurando por ele. Também os membros do IRA Autêntico.
— Gangue de traficantes — murmurou o homem atrás do balcão.
— Terrível — concordou o visitante com o sotaque que ninguém conseguia localizar.
Ele enfiou o jornal na mochila e, com alguma relutância, o cigarro. Aí caminhou de novo para a casa do advogado de Dublin, que, na realidade era odiado pelos residentes de Clifden. O outro homem, que tinha a pele curtida como couro, estava ouvindo atentamente as notícias do meio-dia na RTÉ.
— Estamos perto— foi tudo que ele disse.
— Quando?
— Talvez essa noite.
O menor dos dois homens foi até o terraço enquanto o outro fumava. Uma nuvem escura estava sobre Clifden e o vento parecia estar cheio de lascas. Cinco minutos foi tudo que ele aguentou. Então entrou, para a fumaça e a tensão da espera. Não sentiu vergonha. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Em toda sua carreira, Gabriel tinha tido o desprazer de conhecer vários terroristas: terroristas palestinos, egípcios, sauditas; terroristas motivados pela fé, motivados por uma perda; que tinham nascido nas piores favelas do mundo árabe; terroristas que tinham sido criados no conforto material do ocidente. Geralmente, ele imaginava o que esses homens poderiam ter conseguido se tivessem escolhido outro caminho. Muitos eram bastante inteligentes, e em seus olhos impiedosos, via curas de doenças nunca encontradas, softwares nunca criados, músicas nunca compostas e poemas nunca escritos. Liam Walsh, no entanto, não causou nenhuma impressão. Walsh era um assassino sem remorso ou boa educação, que não tinha ambição a não ser a destruição de vidas e propriedades. Em seu caso, uma carreira no terrorismo, até pelos reduzidos padrões dos republicanos irlandeses conservadores, era o melhor que ele poderia ter conseguido.
Ele não tinha medo, no entanto, e possuía uma obstinação natural que o tornava difícil de quebrar. Nas primeiras 48 horas foi deixado em total isolamento no frio do porão, olhos vendados, amordaçado, com fones de ouvido, imobilizado por fita adesiva. Não ofereceram comida, apenas água, que ele recusou. Keller o levou ao banheiro, mas suas necessidades eram mínimas por causa de sua dieta restritiva. Quando necessário, ele falava com Walsh com o sotaque de um protestante da classe trabalhadora de Belfast oriental. O irlandês não recebeu nenhuma oferta para sair de sua situação e não pediu nada. Tendo visto três de seus companheiros mortos num piscar de olhos, parecia resignado ao seu destino. Como a SAS, os terroristas e traficantes irlandeses jogavam com as regras de gente grande.
Na manhã do terceiro dia, louco de sede, ele aceitou um pouco de água à temperatura ambiente. Ao meio-dia bebeu chá com leite e açúcar, e à noite recebeu mais chá e uma única torrada. Foi então que Keller falou com ele pela primeira vez.
— Você está atolado em problemas, Liam — disse em seu sotaque de Belfast oriental. — E a única forma de sair é me contar o que quero saber.
— Quem é você? — perguntou Walsh com dor no queixo quebrado.
— Isso depende inteiramente de você — respondeu Keller. — Se falar comigo, serei seu melhor amigo no mundo. Se não, vai terminar como seus três amigos.
— O que quer saber?
— Omagh — foi tudo que Keller disse.
Na manhã do quarto dia, Keller tirou os fones do ouvido de Walsh e a mordaça de sua boca, falando sobre a situação em que se encontrava o irlandês agora. Keller afirmou que era membro de um pequeno grupo vigilante de protestantes procurando justiça pelas vítimas do terrorismo republicano. Sugeriu que tinha ligações com o Ulster Volunteer Force, o grupo paramilitar legalista que tinha matado pelo menos quinhentas pessoas, principalmente civis católicos romanos, durante o pior dos problemas na Irlanda do Norte. O UVF aceitou um cessar-fogo em 1994, mas seus murais, com imagens de homens mascarados e armados, ainda estavam nos muros dos bairros protestantes e nas cidades em Ulster. Muitos dos murais tinham o mesmo slogan: “Preparados para a paz, prontos para a guerra.” O mesmo poderia ser dito de Keller.
— Estou procurando quem montou a bomba — ele explicou. — Você sabe de que bomba estou falando, Liam. A bomba que matou 29 pessoas inocentes em Omagh. Você estava lá aquele dia. Estava no carro com ele.
— Não sei do que você está falando.
— Você estava lá, Liam — repetiu Keller. — E esteve em contato com ele depois que o movimento deu em merda. Ele veio aqui para Dublin. Você cuidou dele até que ficou complicado demais.
— Não é verdade. Nada disso é verdade.
— Ele voltou a circular, Liam. Conte-me onde posso encontrá-lo.
Walsh não falou nada por um tempo.
— E se eu contar? — ele perguntou finalmente.
— Vai passar algum tempo preso, um longo tempo, mas vai viver.
— Mentira — cuspiu Walsh.
— Não estamos interessados em você, Liam — respondeu Keller calmamente. — Só nele. Diga onde podemos encontrá-lo e vamos deixar você viver. Tente dar uma de esperto e vou matar você. E não vai ser uma bela bala na cabeça. Vai doer, Liam. Vai doer muito.
Naquela tarde, uma tempestade caiu em toda Connemara. Gabriel se sentou ao lado do fogo lendo um livro de Fitzgerald enquanto Keller dirigia pela região procurando atividades incomuns da Garda. Liam Walsh permaneceu isolado no porão, amarrado, amordaçado, com os olhos e os ouvidos cobertos. Ele não recebeu bebida ou comida. Naquela noite, estava tão fraco de fome e desidratação que Keller quase teve de carregá-lo ao banheiro.
— Quanto tempo? — perguntou Gabriel no jantar.
— Estamos perto— disse Keller.
— Foi o que você falou antes.
Keller ficou em silêncio.
— Tem algo que possamos fazer para acelerar as coisas? Gostaria de sair daqui antes que a Garda venha bater à porta.
— Ou o IRA Autêntico — acrescentou Keller.
— Então?
— Ele está imune à dor nesse ponto.
— E água?
— Água é sempre bom.
— Ele sabe?
— Ele sabe.
— Você precisa de ajuda?
— Não — falou Keller, se levantando. — É pessoal.
Quando Keller saiu, Gabriel foi até o terraço e ficou sob a chuva. Só demorou cinco minutos. Mesmo um homem duro como Liam Walsh não podia aguentar a água por muito tempo.
15
THAMES HOUSE, LONDRES
A CADA NOITE DE SEXTA-FEIRA, normalmente às seis horas, mas às vezes um pouco mais tarde se Londres ou o mundo estivesse em crise, Graham Seymour tomava uma bebida com Amanda Wallace, diretora-geral do MI5. Era, sem dúvida, sua reunião menos agradável da semana. Wallace era a antiga chefe de Seymour. Eles entraram no MI5 no mesmo ano e tinham avançado em suas carreiras de forma paralela; Seymour no departamento de contraterrorismo, Wallace no de contraespionagem. No final, foi Amanda quem venceu a corrida para a sala do DG. Mas agora, bastante inesperadamente e no fim de sua carreira, Seymour tinha recebido o melhor prêmio de todos. Amanda o odiava por isso, pois ele agora era o espião mais poderoso de Londres. Em silêncio, ela trabalhava para miná-lo sempre que podia.
Como Seymour, Amanda Wallace tinha espionagem em seu DNA. Sua mãe trabalhara muito na sala de arquivos do registro do MI5 durante a guerra e, ao se formar em Cambridge, Amanda nunca tinha considerado outra carreira a não ser na inteligência. A linhagem comum deles deveria tê-los tornado aliados. Em vez disso, Amanda tinha imediatamente colocado Seymour no papel de rival. Ele era o canalha bonitão para quem o sucesso tinha chegado muito facilmente e ela era a garota estranha, até tímida, que iria derrubá-lo. Eles se conheciam havia trinta anos e juntos tinham chegado aos dois postos mais importantes da inteligência britânica e, mesmo assim, a dinâmica básica do relacionamento deles nunca tinha mudado.
Na sexta-feira anterior, Amanda tinha ido a Vauxhall Cross, o que significava que sob as regras do relacionamento deles, era a vez de Seymour viajar. Ele não via isso como uma imposição; sempre gostava de voltar a Thames House. Seu Jaguar oficial entrou no estacionamento do subsolo às 17h55 e, dois minutos depois, o elevador de Amanda o deixou no andar mais alto. O corredor principal estava muito silencioso. Seymour supôs que a equipe sênior estava misturada com as tropas em um dos dois bares privativos do prédio. Como sempre, ele parou para dar uma olhada dentro de seu velho escritório. Miles Kent, seu sucessor como vice-diretor, estava olhando para o computador. Parecia que não dormia há uma semana.
— Como ela está? — perguntou Seymour, cauteloso.
— Brava e agitada. Mas é melhor você correr — acrescentou Kent. — Não deve deixar a rainha esperando.
Seymour continuou pelo corredor até a sala da DG. Um membro da equipe toda masculina de Amanda o cumprimentou na antessala e imediatamente abriu a porta do escritório dela. Estava parada contemplando uma janela que dava para o Parlamento. Virando-se, ela consultou o relógio. Amanda valorizava a pontualidade acima de todos os outros atributos.
— Graham — ela falou, tranquila, como se estivesse lendo o nome dele em um dos densos documentos de briefing que sua equipe sempre preparava antes de uma reunião importante. Então deu um sorriso eficiente. Parecia que tinha aprendido a fazer a expressão praticando em frente ao espelho. — Que bom que veio.
Uma bandeja com bebidas tinha sido deixada na longa e brilhante mesa de reuniões. Ela preparou um gim-tônica para Seymour e, para si mesma, um martini seco com azeitonas e cebolas em conserva. Ela se orgulhava da habilidade para preparar sua bebida, uma habilidade que, em sua opinião, era obrigatória para um espião. Era uma de suas poucas qualidades amáveis.
— Saúde — disse Seymour, levantando o copo um centímetro, mas novamente Amanda só sorriu. A BBC estava sintonizada e silenciada em uma grande televisão de tela plana. Um oficial sênior da Garda Síochána estava parado em frente a uma pequena casa em Ballyfermot onde três homens, todos da gangue de traficantes do IRA Autêntico, tinham sido encontrados mortos.
— Bastante horrível — disse Amanda.
— Uma guerra por território, aparentemente — murmurou Seymour sobre o copo.
— Nossos amigos na Garda têm dúvidas sobre isso.
— Do que eles sabem?
— Nada, na verdade, e é por isso que estão preocupados. Os telefones normalmente tocam com muitos dedos-duros depois de um grande assassinato entre gangues, mas não dessa vez. E também — ela acrescentou — a forma como eles foram mortos. Normalmente, esses mafiosos destroem toda a sala com armas automáticas. Mas quem fez isso foi muito preciso. Três tiros, três corpos. A Garda está convencida de que estão lidando com profissionais.
— Têm alguma ideia de onde está Liam Walsh?
— Estão trabalhando com a suposição de que ele está em algum lugar da República, mas não têm ideia de onde. — Ela olhou para Seymour e levantou uma sobrancelha. — Ele não está amarrado em uma cadeira em alguma casa segura do MI6, está, Graham?
— Infelizmente, não.
Seymour olhou para a televisão. A BBC tinha passado para a próxima notícia. O primeiro-ministro Jonathan Lancaster estavam em Washington para uma reunião com o presidente norte-americano. Não tinha ido tão bem quanto ele esperava. A Grã-Bretanha não estava muito em voga em Washington no momento, pelo menos não na Casa Branca.
— Seu amigo — disse Amanda friamente.
— O presidente norte-americano?
— Jonathan.
— Seu também — respondeu Seymour.
— Minha relação com o primeiro-ministro é cordial — disse Amanda deliberadamente —, mas não chega perto da sua. Você e Jonathan são muito ligados.
Estava claro que Amanda queria falar mais sobre a conexão especial de Seymour com o primeiro-ministro. Em vez disso, serviu mais uma bebida para ele enquanto contava uma fofoca sobre a esposa de certo embaixador de um emirado árabe rico em petróleo. Seymour também contou sobre um relatório que tinha recebido de um homem com sotaque britânico que estava comprando mísseis antitanque portáteis no bazar de armas na Líbia. Depois disso, com o gelo sendo rompido, eles continuaram conversando do jeito que só dois espiões experientes poderiam. Compartilharam, revelaram, se aconselharam e em duas ocasiões chegaram a rir. Na verdade, por alguns minutos parecia que a rivalidade entre eles não existia. Eles conversaram sobre a situação no Iraque e na Síria, sobre a China, sobre a economia global e seu impacto na segurança e também sobre o presidente norte-americano, a quem culparam por muitos dos problemas do mundo. Em algum momento, conversaram sobre os russos. Naqueles dias, eles sempre conversavam.
— Os cyberguerreiros deles — disse Amanda — estão atacando nossas instituições financeiras com tudo que têm em suas pequenas caixinhas-surpresa. Também estão atrás de nossos sistemas governamentais e das redes de computadores das maiores empresas de defesa.
— Estão atrás de algo específico?
— Na verdade — ela respondeu —, eles não parecem estar procurando alguma coisa. Só estão tentando causar os maiores danos possíveis. Há uma imprudência como nunca tínhamos visto antes.
— Alguma mudança na postura deles aqui em Londres?
— D4 notou um aumento importante na atividade da Estação Londres. Não temos certeza do que isso significa, mas está claro que estão envolvidos em algo grande.
— Maior do que plantar uma russa ilegal na cama do primeiro-ministro?
Amanda levantou a sobrancelha e girou uma azeitona na borda do copo. O rosto da princesa apareceu na televisão. Sua família tinha anunciado a criação de um fundo para apoiar as causas de que ela gostava. Jonathan Lancaster tinha tido a permissão para fazer a primeira doação.
— Ouviu algo novo? — perguntou Amanda.
— Sobre a princesa?
Ela assentiu.
— Nada. Você?
Ela colocou sua bebida na mesa e olhou Seymour por um momento, em silêncio. Finalmente, perguntou:
— Por que não me contou que foi Eamon Quinn?
Amanda bateu com as unhas no braço da cadeira enquanto esperava uma resposta, o que nunca era um bom sinal. Seymour decidiu que não tinha escolha a não ser contar a verdade, ou pelo menos uma versão dela.
— Não contei — ele disse finalmente — porque não queria envolvê-la.
— Porque não confia em mim?
— Porque não quero que você seja contaminada de nenhuma forma.
— Por que eu seria contaminada? Afinal, Graham, você era o chefe do contraterrorismo na época da bomba de Omagh, não eu.
— E é por isso que você se tornou DG do Serviço de Segurança.
Ele fez uma pausa, depois acrescentou:
— E não eu.
Um silêncio pesado caiu entre eles. Seymour queria ir embora, mas não podia. A questão tinha de ter alguma resolução.
— Quinn estava agindo em nome do IRA Autêntico — perguntou Amanda finalmente — ou de alguém mais?
— Devemos ter uma resposta para isso em algumas horas.
— Assim que Liam Walsh contar?
Seymour não deu nenhuma resposta.
— É uma operação do MI6 autorizada?
— Por fora.
— Sua especialidade.— Disse Amanda, cáustica. — Acho que está trabalhando com os israelenses. Afinal, eles queriam tirar Quinn de circulação há muito tempo.
— E deveríamos ter aceitado a oferta.
— Quanto Jonathan sabe?
— Nada.
Ela xingou baixinho, algo que raramente fazia.
— Vou dar a você muita liberdade de ação nisso — ela falou, finalmente. — Não por você, entenda, mas pelo bem do Serviço de Segurança. Mas espero um aviso antecipado se sua operação entrar em solo britânico. E se algo explodir, vou garantir que seja o seu pescoço na guilhotina, não o meu. — Ela sorriu. — Para que tudo fique claro.
— Eu não teria esperado outra coisa.
— Muito bem, então. — Ela olhou para o relógio. — Infelizmente preciso ir, Graham. Próxima semana no seu escritório?
— Estarei esperando. — Seymour se levantou e esticou a mão. — Sempre um prazer, Amanda.
16
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
ELES O LEVARAM PARA cima e, com os olhos ainda vendados pela fita adesiva, permitiram que tomasse um banho pela primeira vez. Então colocaram o casaco azul e branco e deram um pouco de comida e um chá com leite para beber. Ajudou um pouco sua aparência. Com o rosto inchado, a pele branca e o aspecto geral muito magro, ele parecia um cadáver que se levantou do caixão.
Quando a refeição foi terminada, Keller repetiu seu conselho. O irlandês seria tratado bem desde que respondesse corretamente as perguntas de Keller e em uma voz normal. Se ele mentisse, gritasse ou fizesse alguma tentativa estúpida de fugir, voltaria ao porão e as condições de seu confinamento seriam muito menos agradáveis do que antes. Gabriel não falou, mas Walsh, com os sentidos auditivos ampliados pela escuridão e pelo medo, estava claramente consciente de sua presença. Gabriel preferia dessa forma. Ele não queria deixar Walsh com a impressão equivocada de que estava sob o controle de um único homem, mesmo se esse homem fosse um dos mais mortais do mundo.
Keller não tinha treinamento formal nas técnicas de interrogatório, mas como todos os bons interrogadores, estabeleceu em Walsh o hábito de responder perguntas corretamente e sem hesitar ou se evadir. Eram perguntas simples no começo, perguntas com respostas que eram facilmente verificáveis. Data de nascimento. Local de nascimento. Nomes dos pais e irmãos. As escolas que tinha estudado. Seu recrutamento pelo Exército Republicano Irlandês. Walsh declarou que tinha nascido em Ballybay, condado de Monaghan, em 16 de outubro de 1972. O lugar de seu nascimento era significativo, pois era a três quilômetros da Irlanda do Norte, na tensa região da fronteira. Seu nascimento era significativo, também; era o mesmo de Michael Collins, o líder revolucionário irlandês. Ele frequentou escolas católicas até os 18 anos, quando entrou no IRA. Seu recrutador não fez nenhuma tentativa de glamourizar a vida que Walsh tinha escolhido. Ele teria um salário ridículo e viveria sempre perto do perigo. O mais provável é que passasse vários anos na prisão. As chances eram grandes de que ele morreria violentamente.
— E o nome do recrutador? — perguntou Keller em seu sotaque de Ulster.
— Não tenho a liberdade de dizer.
— Agora você tem.
— Era Seamus McNeil — disse Walsh depois de um momento de hesitação. — Ele era...
— Membro da Brigada South Armagh — Keller cortou. — Foi morto em uma emboscada por soldados britânicos e enterrado com honras pelo IRA, que descanse em paz.
— Na verdade — disse Walsh —, ele morreu durante um tiroteio com a SAS.
— Só caubóis e gangsters fazem tiroteio — respondeu Keller. — Mas você estava a ponto de me contar sobre seu treinamento.
Foi o que Walsh fez. Ele foi mandado a um remoto campo na República para treinamento de armas leves e lições na manufatura e entrega de bombas. Disseram para parar de beber e evitar socializar com pessoas que não eram membros do IRA. Finalmente, seis meses depois de seu recrutamento, foi designado a uma unidade de serviço ativo de elite do IRA. Sua militância era junto com um mestre na confecção de bombas e planejador operacional chamado Eamon Quinn. Quinn era vários anos mais velho que Walsh e já era uma lenda. Nos anos oitenta, fora enviado a um campo no deserto da Líbia para treinamento. Mas, no final, disse Walsh, Quinn mais ensinou que aprendeu com os líbios. Na verdade, Eamon foi quem deu aos líbios o design para a bomba que derrubou o voo 103 da Pan Am em Lockerbie, na Escócia.
— Mentira — respondeu Keller.
— Se não quiser acreditar... — respondeu Walsh.
— Quem mais estava no campo com ele?
— Eram da OLP, principalmente, e alguns caras de uma das organizações que se separaram.
— Qual?
— Acredito que era a Frente Popular para a Libertação da Palestina.
— Você conhece os grupos terroristas da Palestina...
— Temos muito em comum com os palestinos.
— Por quê?
— Os dois estão ocupados por potências coloniais racistas.
Keller olhou para Gabriel, que estava olhando, impassível, para as mãos. Walsh, ainda vendado, parecia sentir a tensão na sala. Do lado de fora, o vento atacava as portas e janelas da casa, como se estivesse procurando um ponto de entrada.
— Onde estou? — perguntou Walsh.
— Inferno — respondeu Keller.
— O que tenho de fazer para sair?
— Continue falando.
— O que quer saber?
— Os detalhes da sua primeira operação.
— Foi em 1993.
— Que mês?
— Abril.
— Ulster ou Inglaterra?
— Inglaterra.
— Que cidade?
— A única cidade que importa.
— Londres?
— É.
— Bishopsgate?
Walsh assentiu. Bishopsgate...
O caminhão, um basculante Ford Iveco, roubado de Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, em março. Eles o levaram a um armazém alugado e o pintaram de azul. Então, Quinn colocou a bomba, um aparato de combustível/nitrato de amônia de uma tonelada que ele montou em South Armagh e levou escondido até a Inglaterra. Na manhã de 24 de abril, Walsh dirigiu o caminhão até Londres e estacionou em frente ao 99 da Bishospgate, uma torre de escritórios ocupada exclusivamente pelo HSBC. A explosão destruiu mais de quinhentas toneladas de vidro, derrubou uma igreja e matou um fotojornalista. O governo britânico respondeu cercando o distrito financeiro de Londres em um cordão de segurança chamado de “anel de aço”. Sem medo, o IRA voltou a Londres, em fevereiro de 1996, com outro caminhão-bomba criado e montado por Eamon Quinn. Dessa vez, o alvo era Canary Wharf, em Docklands. A explosão foi tão forte que destruiu janelas a oito quilômetros de distância. Os primeiros-ministros da Grã-Bretanha e da Irlanda rapidamente anunciaram a retomada das negociações de paz. Dezoito meses depois, em julho de 1997, o IRA aceitou o cessar-fogo.
— Foi um desastre do caralho — disse Walsh.
— E quando o IRA se dividiu mais tarde, naquele outono — disse Keller —, você foi com McKevitt e Bernadette Sands?
— Não. — respondeu Walsh. — Eu fui com Eamon Quinn.
Desde o princípio, Walsh continuou, o IRA Autêntico estava cheio de informantes do MI5 e da Crime e Segurança, uma divisão secreta da Garda Síochána que operava fora dos escritórios oficiais, no bairro de Phoenix Park, em Dublin. Mesmo assim, o grupo conseguiu realizar uma série de ataques de bomba, incluindo um devastador, em Banbridge em primeiro de agosto de 1998. A bomba pesava 225 quilos e estava escondida dentro de um Vauxhall Cavalier vermelho. Os avisos telefônicos codificados eram imprecisos — sem localização, sem tempo de detonação. Como resultado, 33 pessoas ficaram seriamente feridas, incluindo dois oficiais do Royal Ulster Constabulary. Pedaços do Vauxhall foram encontrados a mais de quinhentos metros de distância. Foi, disse Walsh, uma prévia das próximas atrações.
— Omagh — falou Keller, em voz baixa.
Walsh não falou nada.
— Você foi parte da equipe operacional?
Walsh assentiu.
— Que carro? — perguntou Keller. — Bomba, escolta ou fuga.
— Bomba.
— Motorista ou passageiro?
— Deveria ser o motorista, mas houve uma mudança no último minuto.
— Quem dirigiu?
Walsh hesitou, depois falou:
— Quinn.
— Por que a mudança?
— Ele falou que estava mais nervoso do que o costume antes de uma operação. Disse que dirigir ia ajudar a acalmar.
— Mas essa não era a verdadeira razão, era, Liam? Quinn queria ele mesmo resolver os problemas. Quinn queria colocar um prego no caixão do processo de paz.
— Uma bala na cabeça era como ele descrevia.
— Ele deveria deixar a bomba no tribunal?
— Esse era o plano.
— Ele procurou um lugar para estacionar?
— Não — disse Walsh, balançando a cabeça. — Foi direto para a Lower Market Street e estacionou em frente à S.D. Kells.
— Por que você não fez nada?
— Tentei convencê-lo, mas ele não me ouviu.
— Deveria ter tentado mais, Liam.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
— Onde estava o carro de fuga?
— No estacionamento do supermercado.
— E quando você entrou?
— A chamada foi para o outro lado da fronteira.
— Os tijolos estão na parede.
Walsh assentiu.
— Por que você não contou a ninguém que a bomba estava no lugar errado?
— Se eu tivesse aberto minha boca, Quinn teria me matado. Além disso — acrescentou Walsh —, já era muito tarde.
— E quando a bomba explodiu?
— A cidade virou uma merda.
A morte e a devastação causaram revolta nos dois lados da fronteira e no mundo todo. O IRA Autêntico divulgou um pedido de desculpas e anunciou um cessar-fogo, mas era tarde demais; o movimento tinha sofrido danos irreparáveis. Walsh se estabeleceu em Dublin para cuidar dos interesses do IRA Autêntico no crescente comércio de drogas. Quinn se escondeu.
— Onde?
— Espanha.
— O que ele fez?
— Ele viveu na praia até que o dinheiro acabou.
— E depois?
— Ele ligou para um velho amigo e disse que queria voltar ao jogo.
— Quem era o amigo?
Walsh hesitou, depois falou:
— Muamar Kadafi.
17
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
NÃO FOI REALMENTE KADAFI, Walsh acrescentou rapidamente. Foi alguém de confiança da inteligência líbia que Quinn tinha conhecido quando estava no campo de treinamento de terrorismo no deserto. Quinn pediu ajuda e o homem da inteligência líbia, depois de consultar o dirigente, concordou em permitir que Quinn fosse para o país. Ele vivia em uma casa protegida em um bairro chique de Trípoli, e fazia alguns trabalhos para os serviços de segurança da Líbia. Também era um visitante frequente do bunker subterrâneo de Kadafi, onde ia entreter o líder com histórias da luta contra os britânicos. Com o tempo, Kadafi dividiu Quinn com alguns de seus aliados regionais menos sofisticados. Ele desenvolveu contatos com cada vilão do continente: ditadores, senhores da guerra, mercenários, traficantes de diamantes, militantes islâmicos de todos os tipos. Também fez amizade com um negociante de armas que estava enviando armamentos e munição para toda a guerra civil e insurgência na África subsaariana. O traficante de armas concordou em mandar um pequeno container de AK-47 e explosivos plásticos para o IRA Autêntico. Walsh entregou a encomenda em Dublin.
— Lembra-se do nome do homem da inteligência líbia? — perguntou Keller.
— Ele se chamava Abu Muhammad.
Keller olhou para Gabriel, que assentiu lentamente.
— E o traficante de armas russo? — perguntou Keller.
— Era Ivan Kharkov, o que foi morto em Saint-Tropez alguns anos atrás.
— Tem certeza, Liam? Tem certeza de que era Ivan?
— Quem mais poderia ser? Ivan controlava o comércio de armas na África e ele matava qualquer um que tentasse fazer negócios lá.
— E a casa em Trípoli? Sabe onde era?
— Era em um bairro que chamavam de Al-Andalus.
— A rua?
— Via Canova. Número 27 — acrescentou Walsh. — Mas não perca seu tempo. Quinn deixou a Líbia há vários anos.
— O que aconteceu?
— Kadafi decidiu limpar sua barra. Desistiu dos programas de armas e disse aos norte-americanos e europeus que queria normalizar as relações. Tony Blair apertou a mão dele em uma tenda nos arredores de Trípoli. A BP ganhou o direito de explorar o solo líbio. Lembra?
— Eu lembro, Liam.
Aparentemente, falou Walsh, o MI6 sabia que Quinn estava vivendo secretamente em Trípoli. O chefe do MI6 exigiu que Kadafi expulsasse Quinn e ele concordou. Pediu a alguns de seus amigos na África, mas ninguém o aceitou. Então ligou para um de seus melhores amigos no mundo e a mudança foi organizada. Uma semana depois, Kadafi deu a Quinn uma cópia autografada de seu Livro verde e o colocou em um avião.
— E o amigo que concordou em receber Quinn?
— Três palpites — disse Walsh. — Os dois primeiros não contam.
O amigo era Hugo Chávez, presidente da Venezuela, aliada da Rússia, de Cuba e dos mulás de Teerã, um problema para os Estados Unidos. Chávez se via como líder do movimento revolucionário do mundo, e operava um campo de treinamento não tão secreto para terroristas e rebeldes esquerdistas na Ilha Margarita. Quinn logo se tornou uma atração. Trabalhava com todo mundo, do Sendero Luminoso ao Hamas e Hezbollah, compartilhando os truques mortais que tinha descoberto durante sua longa carreira de conflitos com os britânicos. Chávez, como Kadafi antes dele, tratou-o bem. Deu a ele uma casa perto do mar e um passaporte diplomático para viajar pelo mundo. Até deu a ele um novo rosto.
— Quem fez o trabalho?
— O médico de Kadafi.
— O brasileiro?
Walsh assentiu.
— Ele foi a Caracas e realizou a cirurgia em um hospital ali. Fez uma total reconstrução em Quinn. As velhas fotos são inúteis agora. Eu quase não consegui reconhecê-lo.
— Você o viu quando estava na Venezuela?
— Duas vezes.
— Foi até o campo?
— Nunca.
— Por que não?
— Não tinha autorização. Eu o vi no continente.
— Continue falando, Liam.
Um ano depois que Quinn chegou à Venezuela, um alto oficial do VEVAK, o serviço de inteligência iraniano, fez uma visita à ilha. Não estava ali para ver seus aliados do Hezbollah; estava para ver Quinn. O homem do VEVAK ficou na ilha por uma semana. E, quando voltou a Teerã, Quinn foi com ele.
— Por quê?
— Os iranianos queriam que Quinn construísse uma arma.
— Que tipo de arma?
— Uma arma que o Hezbollah poderia usar contra os tanques israelenses e veículos blindados no sul do Líbano.
Keller olhou para Gabriel, que parecia estar contemplando uma rachadura no teto. Walsh, sem saber a verdadeira identidade de sua pequena audiência, ainda estava falando.
— Os iranianos colocaram Quinn em uma fábrica de armas em um subúrbio de Teerã chamado Lavizan. Ele construiu uma versão de uma arma antitanque na qual estava trabalhando há anos. Criava uma bola de fogo que viajava a trezentos metros por segundo e envolvia o veículo avançando em chamas. O Hezbollah usou contra os israelenses no verão de 2006. Os tanques israelenses queimavam totalmente. Era como o Holocausto.
Keller novamente olhou de lado para Gabriel, que agora estava olhando diretamente para Liam Walsh.
— E quando ele terminou de criar a arma antitanque? — perguntou Keller.
— Ele foi ao Líbano para trabalhar diretamente com o Hezbollah.
— Que tipo de trabalho?
— Bombas em estradas, principalmente.
— E depois?
— Os iranianos o mandaram ao Iêmen para trabalhar com a Al-Qaeda, na península Arábica.
— Não sabia que havia ligações entre os iranianos e a Al-Qaeda.
— Quem contou isso?
— Onde ele está agora?
— Não tenho ideia.
— Você está mentindo, Liam.
— Não estou. Juro que não sei onde ele está ou para quem está trabalhando.
— Quando foi a última vez que você o viu?
— Há seis meses.
— Onde?
— Espanha.
— Espanha é um país grande, Liam.
— Foi no sul, em Sotogrande.
— Um playground irlandês.
— É como Dublin com sol.
— Onde se encontrou com ele?
— Em um pequeno hotel perto da marina. Muito tranquilo.
— O que ele queria?
— Queria me entregar um pacote.
— Que tipo de pacote?
— Dinheiro.
— Para quem era o dinheiro?
— A filha dele.
— Nunca soube que era casado.
— A maioria das pessoas não sabe.
— Onde está a filha?
— Em Belfast com a mãe.
— Continue falando, Liam.
Os serviços combinados de inteligência britânica tinham juntado uma montanha de material sobre a vida e os tempos de Eamon Quinn, mas em nenhum lugar desses volumosos arquivos havia qualquer menção a uma esposa ou uma filha. Não era acidente, disse Walsh. Quinn, o planejador operacional, tinha trabalhado muito para manter sua família em segredo. Walsh afirmava ter participado da cerimônia na qual os dois se casaram e depois ajudou a gerenciar as questões financeiras da família durante os anos em que Quinn estava vivendo no exterior como uma superestrela do terrorismo internacional. O pacote que Quinn deu a Walsh no hotel espanhol de Sotogrande continha cem mil libras em notas usadas. Foi o maior pagamento que Quinn já tinha confiado a seu velho amigo.
— Por que tanto dinheiro? — perguntou Keller.
— Ele disse que seria o último pagamento por um tempo.
— Falou o motivo?
— Não.
— E você não perguntou?
— Eu sei qual é o meu lugar!
— E você entregou o pagamento total?
— Cada libra.
— Não cobrou uma taxa pelo serviço? Afinal, Quinn nunca ficaria sabendo.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
Keller perguntou se Quinn já tinha vindo a Belfast para ver sua família.
— Nunca.
— E elas nunca viajaram para fora do país para vê-lo?
— Ele tinha medo de que os britânicos seguissem as duas. Além disso — acrescentou Walsh —, elas não o teriam reconhecido. Quinn tinha um novo rosto. Quinn era outra pessoa.
Isso os levou de volta ao assunto da aparência cirurgicamente alterada de Quinn. Gabriel e Keller tinham posse das imagens que os franceses haviam capturado em São Bartolomeu — umas poucas imagens do vídeo do aeroporto, umas poucas fotos capturadas de câmeras de segurança de lojas —, mas em nenhuma o rosto de Quinn estava claramente visível. Parecia um esfregão com cabelo escuro e barba, um homem para olhar uma vez e rapidamente esquecer. Liam Walsh tinha o poder de completar o retrato de Quinn, pois havia se sentado em frente a ele seis meses antes, em um quarto de hotel espanhol.
Gabriel tinha realizado esboços em circunstâncias desafiadoras, mas nunca com uma testemunha que estava vendada. Na verdade, ele tinha quase certeza de que não era possível. Keller explicou como o processo funcionaria. Havia outro homem presente, ele falou, um homem que era tão bom com esboços e lápis quanto ele era com os punhos e uma arma. Esse homem não era nem irlandês nem de Ulster. Walsh deveria descrever a aparência de Quinn para ele. Poderia olhar o esboço do homem, mas sob nenhuma circunstância poderia olhar para o rosto dele.
— E se eu olhar sem querer?
— Não olhe.
Keller retirou a fita adesiva dos olhos de Walsh. O irlandês piscou várias vezes. Então olhou diretamente para a figura sentada do lado oposto da mesa com papel e uma caixa de lápis coloridos.
— Você acabou de violar as regras — disse Gabriel, calmo.
— Quer saber como ele se parece ou não?
Gabriel pegou um lápis.
— Vamos começar com os olhos.
— São verdes — respondeu Walsh. — Como os seus.
Trabalharam sem parar pelas próximas duas horas. Walsh descreveu, Gabriel desenhou, Walsh corrigiu, Gabriel revisou. Finalmente, à meia-noite, o retrato estava completo. O cirurgião plástico brasileiro tinha feito um bom trabalho. Tinha dado a Quinn um rosto sem nenhuma característica memorável. Mesmo assim, era um rosto que Gabriel reconheceria se passasse por ele na rua.
Se Walsh estava curioso sobre a identidade do homem de olhos verdes atrás do papel, não mostrou. Nem resistiu quando Keller cobriu seus olhos com uma venda de fita adesiva ou quando Gabriel injetou sedativo suficiente para mantê-lo quieto por umas horas. Eles o colocaram inconsciente na sacola de lona e limparam cada item e superfície que algum deles tinha tocado na casa. Então, o enfiaram no porta-malas do Škoda e sentaram nos bancos da frente. Keller dirigiu. Era sua área.
As estradas estavam vazias, a chuva era esporádica, uma queda torrencial em um minuto, uma névoa com vento no seguinte. Keller fumava um cigarro atrás do outro e ouvia as notícias no rádio. Gabriel olhava pela janela para as colinas escuras e a vegetação balançando com o vento. Em seus pensamentos, no entanto, só estava Eamon Quinn. Desde que fugiu da Irlanda, Quinn tinha trabalhado com alguns dos homens mais perigosos do mundo. Era possível que estivesse agindo por consciência ou por crença política, mas Gabriel duvidava. Claramente, ele pensou, Quinn deixou tudo isso para trás. Ele tinha seguido o mesmo caminho que Carlos e Abu Nidal antes dele. Era um terrorista de aluguel, matando às ordens de seus poderosos patronos. Mas quem pagara Quinn? Quem o havia contratado para matar uma princesa? Gabriel tinha uma longa lista de potenciais suspeitos. Por enquanto, porém, encontrar Quinn teria prioridade. Liam Walsh tinha dado muitos lugares para procurar, nenhum mais promissor que uma casa em Belfast ocidental. Uma parte de Gabriel queria procurar em outro lugar, pois ele via esposas e filhos como fora do limite. Quinn, no entanto, não tinha deixado outra opção.
No lado oriental de Killary Harbor, Keller entrou em um caminho de terra e seguiu até um bosque denso. Parou em uma pequena clareira, apagou as luzes, desligou o motor e abriu o porta-malas. Gabriel ia abrir a porta, mas Keller o impediu.
— Fique aqui — foi tudo que disse antes de abrir sua porta e descer na chuva.
Nesse momento, Walsh tinha recuperado a consciência. Gabriel ouviu quando Keller explicava o que ia acontecer. Como Walsh tinha cooperado, ele seria liberado sem problemas. Sob nenhuma circunstância deveria discutir seu interrogatório com seus sócios. Nem deveria fazer qualquer tentativa de passar uma mensagem de aviso a Quinn. Se fizesse isso, disse Keller, ele era um homem morto.
— Entendido, Liam?
Gabriel ouviu Walsh murmurando algo afirmativo. Então, sentiu a parte de trás do Škoda levantar um pouco quando Keller ajudava o irlandês a se levantar. O porta-malas fechou; Walsh caminhou vendado até o bosque, Keller o guiava por um ombro. Por um momento havia somente o vento e a chuva. Então, deu para ver duas explosões de luz no fundo do bosque.
Keller logo reapareceu. Ele se sentou atrás do volante, ligou o carro e voltou para a estrada. Gabriel olhava pela janela quando notícias de um mundo complicado eram dadas pelo rádio. Dessa vez, ele não perguntou como Keller se sentia. Era pessoal. Ele fechou os olhos e dormiu. Quando acordou era de dia e estavam cruzando a fronteira com a Irlanda do Norte.
18
OMAGH, IRLANDA DO NORTE
A PRIMEIRA CIDADE DO OUTRO lado da fronteira era Aughnacloy. Keller parou para encher o tanque em uma linda igreja e depois seguiu a A5 para o norte até Omagh, assim como Quinn e Liam Walsh tinham feito na tarde de 15 de agosto de 1998. Eram poucos minutos depois das nove quando eles chegaram aos subúrbios ao sul da cidade; a chuva tinha parado e um sol forte brilhava entre as nuvens. Eles deixaram o carro perto do tribunal e caminharam até um café na Lower Market Street. Keller pediu um café da manhã irlandês tradicional, mas Gabriel só pediu chá e pão. Ele viu seu reflexo na janela e ficou estarrecido por sua aparência. Keller, ele decidiu, parecia pior. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto estava precisando muito de um barbeador. Em nenhum lugar de sua expressão, no entanto, havia qualquer sugestão de que tinha recentemente matado um homem em um bosque no condado de Mayo.
— Por que estamos aqui? — perguntou Gabriel enquanto olhava os primeiros pedestres da manhã, principalmente comerciantes, andando pelas calçadas.
— É um bom lugar.
— Já esteve aqui antes?
— Em várias ocasiões, para dizer a verdade.
— O que o trouxe a essa cidade?
— Eu costumava encontrar uma fonte aqui.
— IRA?
— Mais ou menos.
— Onde está a fonte agora?
— Cemitério de Greenhill.
— O que aconteceu?
Keller colocou a mão em forma de arma na testa.
— IRA? — perguntou Gabriel.
Keller deu de ombros.
— Mais ou menos.
A comida chegou. Keller devorou como se não tivesse comido durante vários dias, mas Gabriel pegou, sem apetite, seu pão. Do lado de fora, as nuvens estavam brincando com a luz. Era manhã, e logo em seguida, noite. Gabriel imaginou a rua cheia de vidro quebrado e partes de corpos humanos. Olhou para Keller e novamente perguntou por que eles tinham ido a Omagh.
— Caso você tenha se arrependido.
— Do quê?
Keller olhou para o que sobrava do seu café e falou:
— Liam Walsh.
Gabriel não falou nada. Do outro lado da rua, uma mulher com queimaduras em um braço e no rosto estava tentando abrir a porta de uma loja de roupas. Gabriel supôs que era uma das feridas. Foram mais de duzentos aquele dia: homens, mulheres, adolescentes, crianças. Os políticos e a imprensa sempre pareciam se concentrar nos mortos depois de uma bomba, mas os vivos eram logo esquecidos — aqueles com a pele queimada, os que tinham lembranças tão terríveis que nem toda a terapia ou medicação do mundo poderiam colocar suas mentes em paz. Essas eram as conquistas de um homem como Eamon Quinn, um homem que poderia fazer uma bola de fogo viajar a trezentos metros por segundo.
— Então? — perguntou Keller.
— Não — falou Gabriel. — Não estou arrependido.
Um Vauxhall vermelho parou no meio-fio em frente ao café e dois homens desceram. Gabriel sentiu o sangue subir até o rosto enquanto via os homens caminharem pela rua. Então, olhou para o carro como se estivesse esperando que o relógio no porta-luvas chegasse a zero.
— O que você teria feito? — ele perguntou de repente.
— Sobre o quê?
— Se soubesse onde estava a bomba naquele dia.
— Eu teria tentado avisá-los.
— E se a bomba estivesse a ponto de explodir? Teria arriscado sua vida?
A garçonete colocou a conta na mesa antes que Keller pudesse responder. Gabriel pagou a conta em dinheiro, enfiou o recibo no bolso e seguiu Keller até a rua. O tribunal estava à direita. Keller virou à esquerda e deixou Gabriel passar por lojas e vitrines coloridas, até uma torre de vidro azul-esverdeado na calçada, como uma lápide. Era o memorial para as vítimas da bomba de Omagh, colocado no ponto em que o carro tinha explodido. Gabriel e Keller ficaram ali por um momento, nenhum deles falava, enquanto os pedestres passavam. A maioria evitava os olhos deles. Do outro lado da rua, uma mulher com cabelo claro e óculos escuros levantou um smartphone, como se fosse tirar uma fotografia. Keller rapidamente se virou de costas. Assim como Gabriel.
— O que você teria feito, Christopher?
— Sobre a bomba?
Gabriel assentiu.
— Eu teria feito tudo que poderia para afastar as pessoas.
— Mesmo se você morresse?
— Mesmo se eu morresse.
— Como pode ter tanta certeza?
— Porque eu não poderia viver com essa culpa.
Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então, falou baixinho:
— Você vai ser um excelente agente do MI6, Christopher.
— Agentes do MI6 não matam terroristas e deixam seus corpos no meio do campo.
— Não — falou Gabriel. — Só os bons.
Olhou sobre o ombro. A mulher com o smartphone tinha ido embora.
Vinte e cinco anos tinham se passado desde que Christopher Keller tinha pisado em Belfast, e o centro da cidade tinha mudado muito em sua ausência. Na verdade, se não fosse por alguns pontos de referência como o Opera House e o hotel Europa, ele quase não a reconheceria. Não havia soldados britânicos patrulhando as ruas, nenhum posto de vigilância do exército no alto dos edifícios e nenhum medo no rosto dos pedestres caminhando pela Great Victoria. A geografia da cidade continuava dividida em linhas sectárias e ainda havia murais paramilitares em alguns dos bairros mais barra-pesada. Mas, na maior parte, as provas da longa e sangrenta guerra tinham sido apagadas. Belfast se promovia como uma meca do turismo. E por alguma razão, pensou Keller, os turistas realmente vinham.
Uma das principais atrações da cidade era uma cena musical celta muito vibrante que tinha reaparecido com o fim da guerra. A maioria dos bares e pubs que tinham música ao vivo estava localizada nas ruas ao redor da catedral de St. Anne. O Tommy O’Boyle’s ficava na Union, no térreo de uma velha fábrica vitoriana de tijolos vermelhos. Ainda não era meio-dia e a porta estava trancada. Keller apertou o botão do intercomunicador e rapidamente virou de costas para a câmera de segurança. Com o silêncio como resposta, ele apertou o botão uma segunda vez.
— Estamos fechados — disse uma voz.
— Eu sei ler — respondeu Keller em seu sotaque de Belfast.
— O que você quer?
— Falar com Billy Conway.
Alguns segundos de silêncio.
— Ele está ocupado.
— Tenho certeza de que terá tempo para mim.
— Qual é o seu nome?
— Michael Connelly.
— Não significa nada para mim.
— Diga a ele que eu trabalhava na lavanderia Sparkle Clean, na Road, no passado.
— O lugar fechou há anos.
— Estamos pensando em voltar a abrir.
Houve outro silêncio. Aí, a voz falou:
— Seja bonzinho e me deixa dar uma olhada na sua cara.
Keller hesitou antes de olhar para as lentes da câmera de segurança. Dez segundos depois a porta se abriu.
— Entre — disse a voz.
— Eu prefiro aqui fora.
— Como você quiser.
Havia uma pilha de jornais caída na calçada escura carregada por um vento frio que vinha do rio Lagan. Keller levantou a gola do casaco. Pensou no terraço ensolarado de sua casa na Córsega. Parecia algo de outro mundo para ele agora, um lugar que tinha visitado uma vez em sua infância. Ele não podia mais lembrar o aroma das colinas ou uma imagem clara do rosto do Dom. Era Christopher Keller de novo. Estava de volta ao jogo.
Ouviu um barulho e, virando-se, viu a porta do Tommy O’Boyle’s abrindo lentamente. Parado na abertura estreita havia um homem pequeno e magro com quase sessenta anos, uma barba grisalha no rosto e um pouco mais de cabelo na cabeça. Olhava como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, era verdade.
— Oi, Billy — disse Keller, amável. — É bom vê-lo de novo.
— Achei que estivesse morto.
— Estou morto. — Keller colocou uma mão no ombro do homem. — Vamos dar uma volta, Billy. Precisamos conversar.
19
GREAT VICTORIA STREET, BELFAST
ELES TINHAM IDO A um lugar onde ninguém iria reconhecê-los. Billy Conway sugeriu uma loja de donuts na Great Victoria; nenhum homem do IRA, ele falou, iria entrar ali. Ele pediu dois cafés grandes e se sentou em uma mesa vazia na parte de trás, perto da saída de incêndio. Era a doença de Belfast. Não se sente muito perto das janelas de vidro caso uma bomba exploda na rua. Sempre tenha uma rota de fuga se o tipo errado de pessoa entrar pela porta da frente. Keller se sentou de costas para o salão. Conway olhou para os outros enquanto dava um gole.
— Você deveria ter ligado antes — ele falou. — Quase tive um ataque do coração.
— Teria concordado em me ver?
— Não — falou Billy Conway. — Acho que não.
Keller sorriu.
— Você sempre foi honesto, Billy.
— Honesto demais. Ajudei você a colocar muitos homens no Labirinto. — Conway parou, depois acrescentou — Embaixo da terra, também.
— Isso foi há muito tempo.
— Não tanto — Conway olhou pelo interior da loja. — Eles me deram uma surra depois que você foi embora. Disseram que você entregou a eles meu nome naquela fazenda lá em Armagh.
— Não falei nada.
— Eu sei — disse Conway. — Não estaria vivo se você tivesse me entregado, estaria?
— Nenhuma chance, Billy.
Os olhos de Conway estavam se movendo de novo. Ele tinha ajudado a salvar incontáveis vidas e evitado milhões em danos nas propriedades. E sua recompensa, pensou Keller, era passar o resto da vida esperando por uma bala do IRA. A organização era como um elefante. Nunca esquecia. E certamente nunca perdoaria um informante.
— Como andam os negócios? — perguntou Keller.
— Tudo bem. Você?
Keller moveu os ombros, evasivo.
— Em que negócios você está metido hoje em dia, Michael Connelly?
— Não é importante.
— Presumo que não era seu nome verdadeiro.
Keller fez uma careta para dizer que não era.
— Como aprendeu a falar assim?
— Assim como?
— Como um de nós — disse Conway.
— Acho que é um dom.
— Você tem outros dons também — disse Conway. — Eram quatro contra um na fazenda e mesmo assim não foi uma luta justa.
— Na verdade — disse Keller —, eram cinco contra um.
— Quem era o quinto?
— Quinn.
Um silêncio caiu entre eles.
— Você é corajoso de voltar após todos esses anos — disse Conway depois de um momento. — Se descobrirem que você está na cidade, é um homem morto. Com ou sem acordo de paz.
A porta da loja se abriu e vários turistas — dinamarqueses ou suecos, Keller não conseguiu decidir — entraram. Conway franziu a testa e bebeu seu café.
— O guia turístico os traz para os bairros e mostra onde aconteceram as piores atrocidades. E depois leva ao Tommy O’Boyle’s para ouvir música.
— É bom para os negócios.
— Acho que sim — ele olhou para Keller. — É por isso que você voltou? Para fazer um passeio pela área dos conflitos?
Keller olhou a fila de turistas na rua. Então, olhou para Conway e perguntou:
— Quem foi que interrogou você depois que saí de Belfast?
— Foi o Quinn.
— Onde ele fez isso?
— Não tenho certeza. Realmente não me lembro muito, exceto da faca. Ele me disse que ia arrancar meus olhos se eu não admitisse que era um espião dos britânicos.
— O que contou a ele?
— Obviamente, eu neguei. E posso ter implorado pela minha vida também. Ele pareceu gostar disso. Sempre foi um maldito cruel.
Keller assentiu lentamente, como se Conway tivesse falado palavras de grande inspiração.
— Ouviu falar do Liam Walsh? — Conway perguntou.
— É difícil não ter ouvido.
— Quem você acha que está por trás disso?
— A Garda diz que foram drogas.
— A Garda — falou Conway — é uma merda completa.
— O que você sabe?
— Sei que alguém entrou na casa do Walsh em Dublin e matou três caras bem duros sem suar.
Conway parou, depois perguntou:
— Parece familiar?
Keller não falou nada.
— Por que você voltou aqui?
— Quinn.
— Não vai encontrá-lo em Belfast.
— Sabia que ele tem esposa e filha aqui?
— Ouvi rumores sobre isso, mas nunca descobri um nome.
— Maggie Donahue.
Conway levantou os olhos, pensativo, para o teto.
— Faz sentido.
— Conhece?
— Todo mundo conhece a Maggie.
— Trabalho?
— Do outro lado da rua, no hotel Europa. Na verdade — Conway acrescentou olhando o relógio —, ela deve estar lá agora.
— E a menina?
— Estuda na Our Lady of Mercy. Deve ter 16 agora.
— Sabe onde elas moram?
— No começo da Crumlin Road, em Ardoyne.
— Preciso do endereço, Billy.
— Sem problema.
20
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
BILLY CONWAY DEMOROU MENOS de trinta minutos para descobrir que Maggie Donahue vivia no número oito em Stratford Gardens com sua única filha, que se chamava Catherine, o mesmo nome da mãe de Quinn. Os vizinhos não sabiam a fonte do nome da menina, apesar de que a maioria suspeitava de que o marido ausente de Maggie, estivesse morto ou vivo, era algum homem do IRA, possivelmente um dissidente que tinha rejeitado o acordo da Sexta-Feira Santa. Esses sentimentos eram profundos em Ardoyne. Durante a pior parte dos conflitos, o Royal Ulster Constabulary via o bairro como uma área proibida, muito perigosa para patrulhar ou mesmo entrar. Mais de uma década depois dos acordos de paz, ainda era cenário de lutas entre católicos e protestantes.
Para complementar os pagamentos de dinheiro que ela recebia de seu marido, Maggie trabalhava como garçonete no bar do hotel Europa, o mais bombardeado do mundo. Naquela tarde ela teve o azar de atender as necessidades particulares de um hóspede chamado Herr Johannes Klemp. Seu registro no hotel tinha um endereço de Munique, mas seu trabalho — aparentemente tinha algo a ver com design de interior — exigia que ele passasse um bom tempo longe de casa. Como muitos viajantes frequentes, ele era um pouco difícil de agradar. Seu almoço, parecia, estava uma catástrofe. A salada estava muito crua, o sanduíche estava muito frio, o leite do café estava horrível. Pior ainda, ele tinha gostado da pobre criatura cujo emprego era deixá-lo feliz. Ela não gostou das tentativas dele. Poucas mulheres gostavam.
— Longo dia? — ele perguntou quando ela enchia sua xícara de café.
— Só começando.
Ela sorriu cansada. Tinha o cabelo muito escuro, a pele branca e grandes olhos azuis em cima de bochechas amplas. Tinha sido muito bonita, mas seu rosto tinha sofrido muito. Ele achava que Belfast a deixara mais velha. Ou talvez, pensou, tinha sido Quinn que havia arruinado sua beleza.
— Você é daqui? — ele perguntou.
— Todo mundo é daqui.
— Leste ou oeste?
— Você faz muitas perguntas.
— Estou apenas curioso.
— Com o quê?
— Belfast — ele respondeu.
— É por isso que veio aqui? Porque está curioso?
— Trabalho, infelizmente. Mas tenho o resto do dia para mim mesmo, então pensei em ver um pouco da cidade.
— Por que não contrata um guia turístico? Eles conhecem muito.
— Prefiro cortar os pulsos.
— Sei como se sente. — Sua ironia pareceu acertá-lo como uma pedra jogada de um trem bala. — Tem algo mais que eu poderia fazer por você?
— Pode tirar o resto do dia livre e me mostrar a cidade.
— Não posso — foi tudo que ela disse.
— Que horas você deixa o trabalho?
— Oito.
— Vou passar para beber algo e conto como foi meu dia.
Ela sorriu triste e disse:
— Vou estar aqui.
Ele pagou a conta em dinheiro e foi para a Great Victoria, onde Keller esperava atrás do volante do Škoda. No banco de trás, envolto em celofane, havia um buquê de flores. O pequeno envelope estava endereçado a maggie donahue.
— A que horas ela deixa o trabalho? — perguntou Keller.
— Ela falou oito horas, mas poderia estar tentando me evitar.
— Falei para você ser bonzinho.
— Não está no meu DNA ser bonzinho com a esposa de um terrorista.
— É possível que ela não saiba.
— Onde seu marido consegue cem mil libras em notas usadas?
Keller não tinha resposta.
— E a garota? — perguntou Gabriel.
— Está na escola até as três.
— E depois?
— Um jogo de hóquei contra Belfast Model School.
— Protestante?
— A maioria.
— Deve ser interessante.
Keller ficou em silêncio.
— Então, o que vamos fazer?
— Entregamos umas flores em Stratford Gardens.
— E depois?
— Damos uma olhada dentro.
Mas, primeiro, eles decidiram dar uma passeada pelo passado violento de Keller. Estava a velha Divis Tower, onde ele tinha morado entre os integrantes do IRA como Michael Connelly, e a lavanderia abandonada de Falls Road, onde o mesmo Michael Connelly tinha testado roupas dos membros do IRA em busca de provas de explosivos. Mais embaixo, na Road, havia o portão de ferro do cemitério de Milltown, onde Elizabeth Conlin, a mulher que Keller tinha amado em segredo, estava enterrada em uma tumba que Eamon Quinn tinha cavado para ela.
— Você nunca foi? — perguntou Gabriel.
— É muito perigoso — disse Keller, balançando a cabeça. — O IRA vigia os túmulos.
De Milltown eles passaram pelos conjuntos habitacionais em Ballymurphy até Springfield Road. Pelo lado norte havia uma barricada separando um enclave protestante de um distrito católico vizinho. A primeira das chamadas linhas de paz apareceu em Belfast, em 1969, como uma solução temporária para o sectarismo sangrento da cidade. Agora era uma característica permanente de sua geografia — na verdade, o número, a extensão e a escala tinham crescido desde a assinatura dos acordos da Sexta-Feira Santa. Na Springfield Road a barricada era uma cerca verde transparente de uns dez metros de altura. Mas em Cupar Way, uma parte especialmente tensa de Ardoyne, era uma estrutura parecida com o Muro de Berlim, com arame farpado no alto. Os moradores dos dois lados tinham pintado murais. Era possível comparar com o muro de separação entre Israel e a Cisjordânia.
— Isso parece paz para você? — perguntou Keller.
— Não — respondeu Gabriel. — Parece minha casa.
Finalmente, à uma e meia, Keller entrou em Stratford Gardens. O número oito, como seus vizinhos, era uma casa de dois andares de tijolos vermelhos com uma porta branca e uma única janela em cada andar. A grama crescia no jardim; havia um cesto de lixo verde derrubado pelo vento. Keller parou no meio-fio e desligou o carro.
— A gente se pergunta — disse Gabriel — por que Quinn decidiu viver em uma casa luxuosa na Venezuela em vez de morar aqui?
— Deu uma olhada na porta?
— Uma única fechadura, sem ferrolho.
— Quanto tempo demora para abrir?
— Trinta segundos — falou Gabriel. — Menos que isso se deixar essas estúpidas flores.
— Você precisa levar as flores.
— Prefiro levar a arma.
— Vou ficar com a arma.
— O que acontece se encontro um par de amigos do Quinn lá dentro?
— Finja ser um católico de Belfast ocidental.
— Não acho que vão acreditar em mim.
— É melhor — falou Keller. — Ou você é um homem morto.
— Algum outro conselho útil?
— Cinco minutos e nem um a mais.
Gabriel abriu a porta e desceu do carro. Keller xingou baixinho. As flores ainda estavam no banco de trás.
21
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
HAVIA UMA PEQUENA BANDEIRA tricolor irlandesa pendurada imóvel no batente da porta. Como o sonho de uma Irlanda unida, estava apagada e esfarrapada. Gabriel tentou a fechadura e, como era esperado, estava trancada. Então pegou uma fina ferramenta de metal do bolso e, usando a técnica aprendida na juventude, trabalhou cuidadosamente no mecanismo. Alguns segundos foram suficientes para a trava se entregar. Quando ele tentou a fechadura pela segunda vez, ela permitiu a passagem. Ele deu um passo e fechou a porta silenciosamente. Não tocou nenhum alarme, nenhum cachorro latiu.
A correspondência estava espalhada pelo chão. Ele juntou os vários envelopes, folhetos, revistas e propaganda, dando uma olhada rápida neles. Todos estavam em nome de Maggie Donahue, exceto uma revista de moda para adolescentes, que estava em nome de sua filha. Parecia não haver nenhuma correspondência particular de nenhum tipo, só o lixo comercial comum que entope os serviços de correios no mundo todo. Gabriel enfiou no bolso uma conta de cartão de crédito e devolveu o resto ao chão. Depois, entrou na sala de estar.
Era uma sala pequena, uns poucos metros quadrados, com espaço suficiente para o sofá, a televisão e um par de poltronas combinando. Na mesa de café havia uma pilha de revistas velhas e jornais de Belfast, junto com mais correspondência, aberta e fechada. Um dos itens era uma newsletter e um apelo financeiro para contribuir com o Movimento de Soberania dos 32 Condados, o braço político do IRA Autêntico. Gabriel ficou pensando se quem enviou sabia que estava mandando para a esposa secreta do melhor construtor de bombas e explosivos do grupo.
Ele devolveu a carta a seu envelope e à mesa. As paredes da sala estavam vazias exceto por uma violenta paisagem da costa irlandesa de qualidade inferior pendurada sobre o sofá. Em uma das mesinhas havia uma fotografia emoldurada de uma mãe e uma criança na primeira comunhão, na igreja Holy Cross. Gabriel não conseguiu encontrar nenhum traço de Quinn no rosto da criança. Nisso, pelo menos, ela era afortunada.
Olhou para o relógio. Noventa segundos tinham se passado desde que ele tinha entrado na casa. Abriu as cortinas finas e viu um carro cruzando lentamente a rua. Havia dois homens dentro. Eles pareceram notar cuidadosamente Keller enquanto passavam pelo Škoda estacionado. Então o carro continuou por Stratford Gardens e desapareceu na esquina. Gabriel olhou para o Škoda. As luzes ainda estavam apagadas. Em seguida olhou o BlackBerry. Nenhum aviso, nenhuma ligação perdida.
Ele soltou a cortina e entrou na cozinha. Uma xícara de café com batom estava na pia; pratos molhados de água com sabão. Ele abriu a geladeira. Estava razoavelmente cheia, nada verde, nenhuma fruta, nenhuma cerveja, só meia garrafa de um vinho branco italiano barato.
Soltou a porta da geladeira e começou a abrir e fechar as gavetas. Em uma encontrou um envelope cor de creme e dentro do envelope havia uma nota escrita por Quinn.
Deposite em pequenas quantidades, assim parece dinheiro de gorjeta... Mande um beijo para C...
Gabriel enfiou o bilhete no bolso do casaco perto da conta de cartão de crédito e olhou o relógio. Dois minutos e meio. Saiu da cozinha e subiu.
O carro voltou às 13h37. Novamente cruzou lentamente na frente do número oito, mas dessa vez parou ao lado do Škoda. No começo, Keller fingiu não perceber. Então, indiferente, ele abaixou o vidro.
— O que você está fazendo aqui? — perguntou o motorista com um forte sotaque de Belfast ocidental.
— Esperando uma amiga — respondeu Keller no mesmo sotaque.
— Qual é o nome da sua amiga?
— Maggie Donahue.
— E o seu? — perguntou o passageiro no carro.
— Gerry Campbell.
— De onde você é, Gerry Campbell?
— Dublin.
— E antes disso?
— Derry.
— Quando você partiu?
— Não é problema seu.
Keller não estava mais sorrindo. Nem os dois homens no outro carro. O vidro subiu; o carro continuou pela rua tranquila e desapareceu na esquina uma segunda vez. Keller pensou quanto demoraria para eles descobrirem que Maggie Donahue, a esposa secreta de Eamon Quinn, estava no momento trabalhando no hotel Europa. Dois minutos, pensou. Talvez menos. Ele tirou o celular e ligou.
— Os nativos estão começando a ficar impacientes.
— Tente dar as flores a eles.
A linha ficou muda. Keller ligou o motor e segurou a Beretta. Ficou olhando pelo espelho retrovisor e esperou que o carro voltasse.
No alto das escadas havia duas portas. Gabriel entrou no quarto à direita. Era o maior dos dois, apesar de que estava longe de ser uma suíte master. Havia roupas espalhadas pelo chão e em cima da cama desfeita. As cortinas estavam bem fechadas; não havia nenhuma luz a não ser os dígitos vermelhos do alarme, que estava dez minutos adiantado. Gabriel abriu a gaveta do criado-mudo e iluminou o conteúdo com sua lanterna. Canetas sem tinta, pilhas usadas, um envelope contendo centenas de libras em notas velhas, outra carta de Quinn. Parece que ele queria ver sua filha. Não havia menção de onde ele estava vivendo ou onde o encontro poderia acontecer. Mesmo assim, sugeria que Liam Walsh não tinha sido verdadeiro quando afirmava que Quinn não tinha tido nenhum contato pessoal com sua família desde que havia fugido da Irlanda após o ataque de Omagh.
Gabriel acrescentou a carta a sua pequena coleção de provas e abriu a porta do armário. Procurou entre a roupa e encontrou vários itens claramente pertencentes a um homem. Era possível que Maggie Donahue tivesse tido um amante durante a longa ausência de seu marido. Era possível, também, que a roupa pertencesse a Quinn. Ele tirou um dos itens, uma calça de lã e mediu o tamanho com a própria perna. Quinn, ele lembrava, media 1,78m, não era um homem alto, mas era maior que Gabriel. Ele procurou algo nos bolsos. Em um, encontrou três moedas, euros e uma pequena passagem azul e amarela. Estava rasgada, só sobrava a metade. Gabriel conseguia ver quatro números, 5846, nada mais. Na parte de trás havia uns poucos centímetros de uma tarja magnética.
Gabriel enfiou a passagem no bolso, devolveu a calça em seu cabide original e entrou no banheiro. No armário de remédios encontrou lâmina de barbear, loção pós-barba e desodorante masculino. Depois cruzou o corredor e entrou no segundo quarto. Em limpeza, a filha de Quinn era exatamente o oposto de sua mãe. A cama estava arrumada; as roupas, penduradas no armário. Gabriel procurou nas gavetas da penteadeira. Não havia drogas nem cigarro, nenhuma prova de uma vida secreta escondida da mãe. Nem havia traço de Eamon Quinn.
Gabriel olhou a hora. Tinham se passado cinco minutos. Ele foi até a janela e viu o carro com dois homens passando lentamente na rua. Quando terminou, o BlackBerry vibrou. Ele o levou até a orelha e ouviu a voz de Christopher Keller.
— Acabou o tempo.
— Mais dois minutos.
— Não temos dois minutos.
Keller desligou sem falar mais nada. Gabriel olhou no quarto. Estava acostumado a procurar nas propriedades de profissionais, não adolescentes. Profissionais eram bons em esconder coisas, adolescentes, não. Eles presumiam que todos os adultos eram tontos, e o excesso de confiança era normalmente o que levava a erros.
Gabriel voltou ao armário e procurou dentro dos sapatos. Em seguida, folheou as revistas de moda, mas não encontrou nada a não ser ofertas de assinaturas e amostras de perfumes. Finalmente, repassou a pequena coleção de livros dela. Incluía uma história dos conflitos escrita por um autor simpático ao IRA e à causa do nacionalismo irlandês. E foi ali, entre duas páginas, que encontrou o que estava procurando.
Era uma fotografia de uma adolescente e um homem usando um chapéu com abas e óculos escuros. Estavam parados em uma rua com prédios antigos, talvez europeus, talvez sul-americanos. A garota era Catherine Donahue e o homem ao seu lado era o pai, Eamon Quinn.
Stratford Gardens estava quieta quando Gabriel saiu da casa número oito. Ele passou pelo portão de metal, caminhou até o Škoda e entrou no carro. Keller abriu caminho pelas ruas principais do Ardoyne católico e voltou a Crumlin Road. Então fez um rápido giro à direita na Cambrai e só aí soltou o acelerador. Havia bandeiras inglesas penduradas nos postes. Eles tinham cruzado uma das fronteiras invisíveis de Belfast. Estavam de volta à segurança do lado protestante.
— Encontrou algo? — perguntou Keller finalmente.
— Acho que sim.
— O quê?
Gabriel sorriu e disse:
— Quinn.
22
WARRING STREET, BELFAST
– PODERIA SER QUALQUER UM — disse Keller.
— Poderia — respondeu Gabriel. — Mas não é. É o Quinn.
Estavam no quarto de Keller, no Premiere Inn, na Warring. Era na esquina do Europa e muito menos luxuoso. Ele fez o check-in como Adrien LeBlanc e falou em inglês com um sotaque francês para os funcionários. Gabriel, durante sua breve passagem pelo lobby, não tinha dito nada.
— Onde você acha que eles estão? — perguntou Keller, ainda estudando a fotografia.
— Boa pergunta.
— Não há sinais no edifício ou carros na rua. É quase como se...
— Ele escolhesse o lugar com grande cuidado.
— Talvez seja Caracas.
— Ou talvez seja Santiago ou Buenos Aires.
— Já foi?
— Aonde?
— Buenos Aires — falou Keller.
— Várias vezes, na verdade.
— Negócios ou prazer?
— Não viajo por prazer.
Keller sorriu e olhou para a foto de novo.
— Parece um pouco com o centro velho de Bogotá para mim.
— Vou ter de acreditar em você nessa.
— Ou talvez seja Madri.
— Talvez.
— Deixe-me ver esse canhoto da passagem.
Gabriel entregou. Keller olhou cuidadosamente a parte da frente. Virou e passou os dedos pela parte da tarja magnética.
— Há alguns anos — ele falou finalmente —, Dom aceitou um contrato de um cavalheiro que tinha roubado muito dinheiro de pessoas que não gostam de ter seu dinheiro roubado. O cavalheiro estava escondido em uma cidade como a dessa foto. Era uma cidade velha que tinha perdido a beleza, uma cidade de colinas e bondes.
— Qual era o nome do cavalheiro?
— Prefiro não falar.
— Onde estava escondido?
— Vou chegar lá.
Keller estava estudando a parte da frente da passagem de novo.
— Como esse cavalheiro não tinha carro, era, por necessidade, um dedicado usuário de transporte público. Eu o segui por uma semana antes de atacar, o que significou que me tornei um dedicado usuário de transporte público, também.
— Você reconhece a passagem, Christopher?
— Pode ser.
Keller pegou o BlackBerry de Gabriel, abriu o Google e digitou vários caracteres na caixa de buscas. Quando os resultados apareceram, ele clicou em um e sorriu.
— Encontrou? — perguntou Gabriel.
Keller virou o BlackBerry para que Gabriel pudesse ver a tela. Nela, havia uma versão completa da passagem que tinha encontrado na casa de Maggie Donahue.
— De onde é? — perguntou Gabriel.
— Uma cidade de colinas e bondes.
— Acho que não está se referindo a San Francisco?
— Não — falou Keller. — É Lisboa.
— Isso não prova que a foto foi tirada lá — disse Gabriel depois de um momento.
— Concordo — respondeu Keller. — Mas se pudermos provar que Catherine Donahue esteve lá...
Gabriel não falou nada.
— Você não viu o passaporte dela quando esteve na casa, viu?
— Não tive a sorte.
— Então suponho que teremos de pensar em outra forma de dar uma olhada nele.
Gabriel pegou o BlackBerry e enviou uma breve mensagem a Graham Seymour em Londres, pedindo informações sobre todas as viagens ao exterior de Catherine Donahue, de Stratford Gardens, número oito, Belfast, Irlanda do Norte. Uma hora depois, quando a escuridão caía sobre a cidade, eles recebiam a resposta.
O ministério britânico tinha emitido o passaporte em dez de novembro de 2013. Uma semana depois, ela embarcou em um voo da British Airways, em Belfast, e desceu no Heathrow de Londres onde, noventa minutos depois, passou para um segundo voo da British Airways, com destino a Lisboa. De acordo com autoridades de imigração portuguesa, ela ficou no país por apenas três dias. Foi sua única viagem ao exterior.
— Nada disso prova que Quinn estava vivendo ali na época — afirmou Keller.
— Por que levá-la a Lisboa entre tantos lugares? Por que não Mônaco, Cannes ou St. Moritz?
— Talvez Quinn estivesse sem dinheiro.
— Ou talvez ele mantenha um apartamento ali, em um velho edifício charmoso no tipo de vizinhança onde ninguém notaria um estrangeiro indo e vindo.
— Conhece alguns lugares assim?
— Passei toda a minha vida em lugares assim.
Keller ficou em silêncio por um momento.
— E agora? — perguntou finalmente.
— Acho que poderíamos levar a foto e meu desenho do rosto dele, e começar a bater nas portas.
— Ou?
— Contratamos os serviços de alguém que é especialista em encontrar aqueles que preferem não ser encontrados.
— Algum candidato?
— Só um.
Gabriel pegou o BlackBerry e ligou para Eli Lavon.
23
BELFAST — LISBOA
ELES DECIDIRAM TOMAR O caminho mais longo até Lisboa. Melhor não chegar à cidade tão rapidamente, disse Gabriel. Melhor tomar cuidado com os arranjos de viagem e a trilha que deixariam. Pela primeira vez, Quinn era real para eles. Não era mais só um rumor. Era um homem em uma rua, com uma filha ao lado. Tinha carne em seus ossos, sangue em suas veias. Ele poderia ser encontrado. E então poderia ser tirado de seu sofrimento.
Então eles deixaram Belfast assim como entraram, em silêncio e sob falsos argumentos. Monsieur LeBlanc falou ao funcionário do Premiere que tinha uma pequena crise pessoal para resolver; Herr Klemp contou algo parecido no hotel Europa. Passando pelo lobby, viu Maggie Donahue, a esposa secreta do assassino, servindo um copo de uísque muito grande a um homem de negócios já bêbado. Ela evitou o olhar de Herr Klemp e ele evitou o dela.
Dirigiram até Dublin, abandonaram o carro no aeroporto e fizeram o check-in em dois quartos no Radisson. Pela manhã, tomaram café como estranhos no restaurante do hotel e depois embarcaram em voos separados para Paris: Gabriel, na Aer Lingus; Keller, na Air France. O voo de Gabriel chegou primeiro. Ele retirou um Citroën limpo do estacionamento e estava esperando no desembarque quando Keller saiu do terminal.
Passaram aquela noite em Biarritz, onde Gabriel já tinha matado alguém por vingança, e, na noite seguinte, na cidade espanhola de Vitoria, onde Keller, em nome de Dom Anton Orsati, já tinha matado um membro do grupo separatista basco ETA. Gabriel podia ver que as ligações de Keller com sua antiga vida estavam começando a entrar em choque; que Keller, a cada dia que passava, estava ficando mais confortável com a perspectiva de trabalhar para Graham Seymour no MI6. Quinn tinha iniciado a cadeia de eventos que havia levado à ruptura de laços de Keller com a Inglaterra. E agora, 25 anos depois, Quinn estava levando Keller de volta para casa.
De Vitoria, eles foram para Madri, e de Madri dirigiram até Badajoz, perto da fronteira portuguesa. Keller estava ansioso para ir a Lisboa, mas, por insistência de Gabriel, eles foram mais para o oeste e pegaram os últimos fracos raios de sol da temporada em Estoril. Ficaram em hotéis separados na praia e levaram vidas separadas de homens sem esposas, sem filhos, sem cuidados ou responsabilidade. Gabriel passava várias horas do dia garantindo que não estavam sendo vigiados. Sentiu a tentação de enviar uma mensagem a Chiara, em Jerusalém, mas não se atreveu. Nem fez contato com Eli Lavon. Lavon era um dos mais experientes rastreadores de homens do mundo. Quando jovem, tinha caçado os membros do Setembro Negro, que realizaram o massacre da Olimpíada de Munique de 1972. Então, depois de deixar o Escritório, tinha começado a trabalhar de forma privada, rastreando bens roubados no Holocausto e algum ocasional criminoso de guerra nazista. Se houvesse algum traço de Quinn em Lisboa — uma residência, um apelido, outra esposa ou filho — Lavon encontraria.
Mas quando se passaram mais dois dias sem nenhuma notícia, até Gabriel começou a ter dúvidas, não da capacidade de Lavon, mas em sua fé de que Quinn tinha algum tipo de ligação com Lisboa. Talvez Catherine Donahue tivesse viajado à cidade com amigos ou como parte de uma viagem escolar. Talvez as calças que Gabriel tinha encontrado no armário de Maggie Donahue pertencessem a outro homem, assim como a passagem rasgada do sistema de bondes de Lisboa. Eles teriam de procurar em outro lugar, ele pensou — no Irã, no Líbano, no Iêmen ou na Venezuela, ou em algum dos incontáveis outros lugares onde Quinn tinha exercido seu mortal negócio. Quinn era um homem do submundo. Ele poderia estar em qualquer lugar.
Mas na terceira manhã de sua estada, Gabriel recebeu uma breve, mas promissora mensagem de Eli Lavon sugerindo que o homem em questão era um visitante frequente da cidade de interesse. Ao meio-dia, Lavon tinha certeza disso, e, no fim da tarde, havia descoberto um endereço. Gabriel ligou para o hotel de Keller e contou que estavam prontos para agir. Eles deixaram Estoril assim como tinham entrado, em silêncio e sob falsos argumentos, dirigindo-se a Lisboa.
— Ele se chama Alvarez.
— Como em português ou espanhol?
— Isso depende do humor dele.
Eli Lavon sorriu. Estavam sentados em uma mesa no Café Brasileira, no bairro do Chiado, em Lisboa. Eram nove e meia e o café estava lotado. Ninguém parecia notar muito os dois homens de meia-idade em frente a xícaras de café em um canto. Eles conversavam em alemão baixinho, uma das muitas línguas que tinham em comum. Gabriel falava no sotaque de Berlim de sua mãe, mas o alemão de Lavon era definitivamente vienense. Usava um suéter de cardigã por baixo da jaqueta de tweed enrugada e um lenço no pescoço. O cabelo era ralo e despenteado; os traços do rosto eram comuns e facilmente esquecíveis. Era um dos seus maiores bens. Eli Lavon parecia ser uma das muitas pessoas pouco interessantes do mundo. Na verdade, era um predador natural que podia seguir um agente de inteligência altamente treinado ou um terrorista duro em qualquer rua do mundo sem atrair nenhum interesse.
— Primeiro nome? — perguntou Gabriel.
— Às vezes José. Outras vezes, ele é Jorge.
— Nacionalidade?
— Às vezes venezuelano, às vezes equatoriano. — Lavon sorriu. — Está começando a ver um padrão?
— Mas ele nunca tenta se passar por português.
— Não domina o idioma para isso. Até seu espanhol é duro. Aparentemente, ele tem bastante sotaque.
Alguém no bar deve ter dito algo divertido, porque uma explosão de risadas reverberou pelo chão de azulejos quadriculado e morreu no alto do teto, onde os candelabros emitiam um fraco brilho dourado. Gabriel olhou por cima do ombro de Lavon e imaginou que Quinn estava sentado na mesa ao lado. Mas não era Quinn; era Christopher Keller. Estava segurando uma xícara de café na mão direita. A mão direita significava que estava tudo bem, a esquerda significava problemas. Gabriel olhou para Lavon de novo e perguntou sobre a localização do apartamento de Quinn. Lavon inclinou a cabeça na direção do Bairro Alto.
— Como é o prédio?
Lavon fez um gesto com a mão para indicar que estava entre aceitável e condenável.
— Porteiro?
— No Bairro Alto?
— Que andar?
— Segundo.
— Podemos entrar?
— Estou surpreso por perguntar isso. A questão é — continuou Lavon — nós queremos entrar?
— Queremos?
Lavon balançou a cabeça.
— Quando temos a sorte de encontrar a segunda casa de um homem como Eamon Quinn, não nos arriscamos a jogar tudo fora correndo até a porta da frente. Adquirimos um posto de observação fixo e esperamos pacientemente o alvo aparecer.
— A menos que existam outros fatores a considerar.
— Como quais?
— A possibilidade de que outra bomba exploda.
— Ou que nossa esposa esteja a ponto de dar à luz a gêmeos?
Gabriel franziu a testa, mas não disse nada.
— Caso você esteja se perguntando — disse Lavon —, ela está bem.
— Está brava?
— Está de sete meses e meio, e seu marido está sentado em um café em Lisboa. Como você acha que ela se sente?
— Como está a segurança dela?
— A rua Narkiss é, possivelmente, a rua mais segura de toda Jerusalém. Uzi mantém uma equipe de segurança na porta o tempo todo.
Lavon hesitou, depois acrescentou:
— Mas todos os guarda-costas do mundo não substituem um marido.
Gabriel não falou nada.
— Posso fazer uma sugestão?
— Se você tiver.
— Volte a Jerusalém por uns dias. Seu amigo e eu podemos vigiar o apartamento. Se Quinn aparecer, você será o primeiro a saber.
— Se eu for a Jerusalém — respondeu Gabriel — não vou querer partir.
— Foi por isso que eu sugeri. — Lavon pigarreou gentilmente. Era um sinal de mais intimidade. — Sua esposa gostaria que você soubesse que daqui a um mês, talvez menos, você será pai de novo. Ela gostaria que você estivesse presente na ocasião. Ou, do contrário, sua vida não vai valer nada.
— Ela falou algo mais?
— Ela pode ter mencionado algo sobre Eamon Quinn.
— O que ela disse?
— Aparentemente, Uzi contou a ela sobre a operação. Sua esposa não aceita bem homens que explodem mulheres e crianças inocentes. Ela gostaria que você encontrasse Quinn antes de voltar para casa. E depois — acrescentou Lavon —, ela gostaria que você o matasse.
Gabriel olhou para Keller e disse:
— Isso não será necessário.
— Entendo — falou Lavon. — Sorte sua.
Gabriel sorriu e tomou um gole de café. Lavon enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um dispositivo USB. Colocou na mesa e empurrou na direção de Gabriel.
— Como pedido, o arquivo completo do Escritório sobre Tariq al-Hourani, nascido na Palestina durante a grande catástrofe árabe, morto a tiros nas escadas de um prédio de apartamentos de Manhattan pouco antes da queda das Torres Gêmeas.
Lavon esperou antes de falar:
— Acredito que você estava lá na época. Por algum motivo, não fui convidado.
Gabriel olhou para o dispositivo em silêncio. Havia partes do arquivo que ele não iria ler de novo — pois foi Tariq al-Hourani que, em uma noite de um janeiro com muita neve, em 1991, tinha plantado uma bomba embaixo do carro de Gabriel, em Viena. A explosão tinha matado seu filho, Dani, e mutilado Leah, sua primeira esposa. Ela vivia em um hospital psiquiátrico no alto do monte Herzl, dentro de uma prisão da memória e um corpo destruído pelo fogo. Durante uma recente visita, Gabriel tinha contado que ele logo seria pai de novo.
— Eu achava — disse Lavon, com a voz baixa — que você conhecia esse arquivo de cor.
— Conheço — disse Gabriel. — Mas gostaria de refrescar minha memória sobre uma parte especial da carreira dele.
— Qual?
— A época que passou na Líbia.
— Tem algum pressentimento?
— Talvez.
— Algo mais que você quer me contar?
— Fico feliz que esteja aqui, Eli.
Lavon mexeu lentamente o café.
— Pelo menos um dos dois está.
Eles saíram pela famosa porta verde do Brasileira em uma praça onde Fernando Pessoa estava sentado em bronze por toda a eternidade, sua punição por ser o poeta mais famoso de Portugal. O vento frio do Tejo rodopiava em um anfiteatro de graciosos edifícios amarelos; um bonde chacoalhava passando pelo largo do Chiado. Gabriel imaginou Quinn sentado em uma cadeira perto da janela, o Quinn do rosto alterado cirurgicamente e de coração sem misericórdia. Quinn, a prostituta da morte. Lavon estava subindo a colina, lentamente, como um flâneur. Gabriel ia ao lado dele e juntos caminharam por um labirinto de ruas escuras. Lavon nunca parou para pensar em seu rumo ou consultar um mapa. Estava falando em alemão sobre uma descoberta que tinha feito recentemente em uma escavação sob a Cidade Velha de Jerusalém. Quando não estava trabalhando para o Escritório, ele era professor-adjunto de arqueologia bíblica na Universidade Hebraica. Na verdade, por causa de uma descoberta monumental que tinha feito debaixo do monte do Templo, Eli Lavon era visto como a resposta de Israel a Indiana Jones.
Ele parou de repente e perguntou:
— Reconhece isso?
— Reconheço o quê?
— Esse lugar. — Com o silêncio como resposta, Lavon se virou. — Que tal agora?
Gabriel se virou também. Não havia nenhuma luz acesa na rua. A escuridão tinha deixado os edifícios sem formato, sem características ou detalhes.
— É onde eles estavam parados. — Lavon deu uns poucos passos subindo a rua com paralelepípedos. — E a pessoa que tirou a fotografia estava parada aqui.
— Pergunto-me quem poderia ser.
— Poderia ter sido alguém que passava na rua.
— Quinn não parece o tipo de pessoa que deixaria um completo estranho tirar uma foto dele.
Lavon voltou a caminhar sem dar outra palavra e subiu mais o bairro. Fez várias outras curvas, à esquerda e à direita, até Gabriel ter perdido todo o sentido de direção. Seu único ponto de orientação era o Tejo, que aparecia esporadicamente através dos espaços entre os prédios, sua superfície brilhando como as escamas de um peixe. Finalmente, Lavon parou e apontou com a cabeça para a entrada de um edifício. Era um pouco mais alto que a maioria dos edifícios no Bairro Alto, quatro andares em vez de três, e todo grafitado no térreo. Uma persiana no segundo andar estava aberta obliquamente; havia uma videira florescendo pendurada na sacada enferrujada. Gabriel caminhou até a entrada e inspecionou o interfone. Não havia nome no 2B. Ele colocou seu dedão no botão e a campainha soou forte, como através de uma janela aberta ou paredes de papel. Então colocou a mão suavemente sobre a maçaneta.
— Sabe quanto tempo demoraria para abrir isso?
— Uns 15 segundos — respondeu Lavon. — Mas quem espera alcança boas coisas.
Gabriel olhou para o declive da rua. No canto, havia um pequeno restaurante onde Keller estava estudando, indiferente, o menu em uma mesa na rua. Bem em frente ao prédio havia um par de casinhas, e uns passos depois havia um prédio de quatro andares com uma fachada cor de canário. Preso na entrada, meio enrolado como se estivesse há muito tempo sob o sol, havia um cartaz explicando em português e inglês que havia um apartamento no prédio disponível para aluguel.
Gabriel arrancou o cartaz e enfiou no bolso. Então, com Lavon a seu lado, passou por Keller sem dar uma palavra ou olhar e desceu a colina até o rio. Na manhã, enquanto tomava café no Brasileira, ele ligou para o número impresso no cartaz. E, ao meio-dia, depois de pagar seis meses de aluguel e um depósito de segurança antecipado, o apartamento era dele.
24
BAIRRO ALTO, LISBOA
GABRIEL SE MUDOU PARA o apartamento logo cedo com o ar de um homem cuja esposa não podia mais tolerar sua companhia. Ele não tinha posses a não ser uma mala bem viajada e manteve a cara fechada que mostrava que não estava ali para socializar. Eli Lavon chegou uma hora mais tarde trazendo duas sacolas de compras — para fazer, era o que parecia, uma refeição de consolo. Keller chegou por último. Entrou no prédio com o silêncio de um ladrão e se estabeleceu na frente de uma janela como se estivesse entrando no esconderijo do País dos Bandidos de Armagh. E assim começou a longa vigília.
O apartamento tinha móveis, mas poucos. A pequena reunião de cadeiras que não combinavam na sala de estar parecia ter sido adquirida em um mercado de móveis usados; os dois quartos eram como celas de monges ascéticos. A falta de camas não atrapalhava, pois um homem sempre estava vigiando na janela. Invariavelmente, era Keller. Ele tinha esperado muito tempo para que Quinn saísse de seu porão e queria a honra de ser o primeiro a colocar os olhos sobre ele. Gabriel pendurou o desenho do rosto de Quinn na parede como um retrato familiar, e Keller o consultava sempre que se aproximava um homem de idade e altura parecida — quarenta e poucos, talvez 1,77 — passando na rua estreita. Cedo, na terceira manhã, ele se convenceu de que viu Quinn indo da direção do café fechado. Era o rosto de Quinn, ele disse a Lavon em um sussurro animado. Mais importante, ele falou, era a forma como Quinn caminhava. Mas não era Quinn; era um homem português que, eles descobriram mais tarde, trabalhava em uma loja a poucas ruas dali. Lavon, um especialista em vigilância física, explicou que era um dos perigos de uma longa vigília. Às vezes, o vigilante vê o que quer ver. E, às vezes, o alvo está parado na frente dele e o vigilante está muito cego pela fadiga ou pela ambição para perceber.
O dono do apartamento acreditava que Gabriel era o único ocupante do lugar, então só ele aparecia em público. Era um homem com o coração machucado, um homem com muito tempo livre. Caminhava pelas ladeiras do Bairro Alto, andava de bonde aparentemente sem destino, visitou o Museu do Chiado, passava as tardes no Brasileira. E em um parque verde nas margens do Tejo, encontrou um mensageiro do Escritório que entregou uma mala cheia de ferramentas de um posto de campo: uma câmera com tripé com uma teleobjetiva com visão noturna, um microfone parabólico, rádios seguros, um transmissor miniatura e um laptop com um link de satélite seguro com o Boulevard Rei Saul. Além disso, havia um bilhete do chefe de Operações gentilmente dando uma bronca por Gabriel ter adquirido uma propriedade segura por meios próprios em vez de usar o departamento de Organização Interna. Havia também uma carta manuscrita de Chiara. Gabriel leu duas vezes antes de queimar na pia do banheiro. Depois disso, seu humor estava tão negro quanto as cinzas que ele jogou ritualmente no cano.
— Minha oferta ainda está de pé — disse Lavon.
— Qual?
— Eu fico aqui com o Keller. Você vai para casa ficar com sua esposa.
A resposta de Gabriel foi a mesma de antes, e Lavon nunca voltou a falar no assunto — mesmo tarde da noite, quando as mesas do canto do restaurante estavam vazias e a chuva batizava a rua silenciosa. Eles diminuíram as luzes do apartamento, assim suas sombras não seriam visíveis de fora, e, no escuro, os anos desapareceriam de seus rostos. Eles poderiam ter sido os mesmos garotos de vinte e poucos anos que o Escritório tinha despachado no outono de 1972 para caçar os realizadores do massacre da Olimpíada de Munique. A operação foi chamada de Ira de Deus. No léxico com base no hebreu da equipe, Lavon tinha sido um ayin, um rastreador. Gabriel era um aleph, um assassino. Durante três anos eles perseguiram suas presas por toda a Europa, matando na escuridão e em plena luz do dia, vivendo com medo de que a, qualquer momento, pudessem ser presos e acusados de assassinato. Tinham passado noites infinitas em quartos apertados vigiando entradas e homens, habitando secretamente a vida dos outros. Estresse e visões de sangue tiraram deles a capacidade de dormir. Um rádio transistor era a única ligação com o mundo real. Contava sobre guerras perdidas e vencidas, sobre um presidente norte-americano que renunciou e, às vezes, nas quentes noites de verão, tocava música para eles — a mesma música que garotos normais de vinte anos estavam ouvindo, garotos que não tinham sido chamados por seu país a servirem como executores, anjos de vingança dos 11 judeus assassinados.
A falta de sono logo era epidêmica no pequeno apartamento no Bairro Alto. Eles tinham planejado fazer turnos rotativos de duas horas no posto ao lado da janela, mas com o passar dos dias, e a insônia mútua dominando, os três agentes veteranos estabeleceram um tipo de vigilância permanente conjunta. Todos que passavam pela janela deles eram fotografados, independentemente de idade, gênero ou nacionalidade. Aqueles que entraram no prédio-alvo recebiam um exame adicional, assim como os moradores. Gradualmente, seus segredos foram descobertos no posto de observação. Essa era a natureza de qualquer observação de longo prazo. Com bastante frequência, os pecados venais dos inocentes eram expostos.
O apartamento tinha uma televisão com uma antena satélite que perdia o sinal sempre que chovia ou mesmo quando o vento mais leve soprava nas ruas. Servia como a ligação deles com o mundo que, a cada dia, parecia ir ficando cada vez mais descontrolado. Era o mundo que Gabriel iria herdar no momento em que fizesse seu juramento como o próximo chefe do Escritório. E seria o mundo de Keller também, se ele quisesse. Keller era a última restauração de Gabriel. Seu verniz sujo tinha sido removido, sua tela tinha sido realinhada e retocada. Ele não era mais o assassino inglês. Logo seria o espião inglês.
Como todos os bons vigilantes, Keller foi abençoado com uma paciência natural. Mas, com sete dias de observação, sua paciência já tinha acabado. Lavon sugeriu uma caminhada pelo rio ou uma viagem até a costa, qualquer coisa para quebrar a monotonia da vigilância, mas Keller se recusou a deixar o apartamento ou abandonar seu posto na janela. Ele fotografava os rostos que passavam na rua — velhos conhecidos, recém-chegados, transeuntes — e esperava por um homem com quarenta e poucos anos, aproximadamente 1,77m de altura, que parasse na entrada do prédio do outro lado da estreita rua. Para Lavon, parecia que Keller estava vigiando a Lower Market Street, em Omagh, esperando que um Vauxhall Cavalier vermelho andando devagar de marcha à ré parasse para estacionar no meio-fio; esperando que dois homens, Quinn e Walsh, descessem. Walsh tinha sido punido por seus pecados. Quinn seria o próximo.
Mas quando se passou outro dia sem sinal dele, Keller sugeriu que fizessem a busca em outro lugar. A América do Sul, ele falou, era o local mais lógico. Eles podiam ir até Caracas e começar a chutar umas portas até encontrarem a do Quinn. Gabriel parecia estar pensando seriamente na questão. Na realidade, ele estava olhando a mulher de uns trinta anos sentada sozinha no restaurante no final da rua. Ela havia colocado a bolsa na cadeira ao lado. Era uma bolsa grande, grande o suficiente para acomodar artigos de higiene, até uma muda de roupa. O zíper estava aberto, e a bolsa estava virada de uma forma que deixava os conteúdos facilmente acessíveis. Uma agente feminina do Escritório teria deixado a bolsa do mesmo jeito, pensou Gabriel, especialmente se houvesse uma arma ali.
— Está me ouvindo? — perguntou Keller.
— Cada palavra — mentiu Gabriel.
A última luz do crepúsculo estava se apagando; a mulher de uns trinta anos ainda estava usando óculos escuros. Gabriel virou a lente para o rosto dela, deu um zoom e tirou uma fotografia. Ele examinou cuidadosamente pelo visor da câmera. Era um rosto bonito, pensou, um rosto que valia uma pintura. As bochechas eram amplas, o queixo era pequeno e delicado, a pele era impecável e branca. Os óculos escuros escondiam seus olhos, mas Gabriel achava que eram azuis. O cabelo era na altura dos ombros e muito escuros. Ele duvidava que a cor fosse natural.
No momento em que Gabriel tirou a fotografia, a mulher estava olhando o menu. Agora estava olhando para a rua. Não era a melhor visão. A maioria dos frequentadores do restaurante olhava para o lado oposto, que tinha uma vista melhor da cidade. Apareceu um garçom. Tarde demais, Gabriel pegou o microfone parabólico e virou para a mesa. Ele ouviu o garçom dizer “Thank you”, em inglês, seguido por uma explosão de música. Era o toque do celular dela. A mulher desligou a chamada com um botão, colocou de novo o telefone na bolsa e tirou um guia de Lisboa. Gabriel novamente olhou pelo visor da câmera e deu um zoom, não no rosto da mulher, mas no guia que ela tinha nas mãos. Era um Frommer’s, em inglês. Ela o abaixou uns segundos e retomou o estudo da rua.
— O que você está olhando? — perguntou Keller.
— Não tenho certeza.
Keller se aproximou da janela e seguiu o olhar de Gabriel.
— Bonita — ele falou.
— Talvez.
— Recém-chegada ou habitué?
— Turista, aparentemente.
— Por que uma jovem turista bonita comeria sozinha?
— Boa pergunta.
O garçom reapareceu com uma taça de vinho branco, que colocou na mesa, ao lado do guia de Lisboa. Ele abriu o bloco de anotações, mas ela disse algo que o fez ir embora sem escrever nada. Ele voltou um momento depois com a conta. Colocou na mesa e foi embora. Não trocaram nenhuma palavra.
— O que acabou de acontecer? — perguntou Keller.
— Parece que a jovem turista bonita mudou de ideia.
— Por que será?
— Talvez tenha algo a ver com a ligação que não atendeu.
A mão da mulher agora estava mexendo na bolsa aberta. Quando reapareceu, havia uma nota em euros. Ela colocou em cima da conta, prendeu com a taça de vinho e se levantou.
— Acho que ela não gostou — disse Gabriel.
— Talvez tenha ficado com dor de cabeça.
A mulher pegou a bolsa, colocou-a no ombro e deu uma olhada final para a rua. Então se virou para a direção oposta, dobrou a esquina e desapareceu.
— Que pena — disse Keller.
— Vamos ver — disse Gabriel.
Ele estava olhando o garçom pegar o dinheiro. Mas, em seus pensamentos, estava calculando quanto tempo levaria para vê-la de novo. Dois minutos, calculou; era quanto tempo demoraria para voltar ao destino por uma rua paralela. Ele marcou o tempo no relógio e quando se passaram noventa segundos, olhou de novo pelo visor e começou a contar lentamente. Quando chegou a vinte, ele a viu surgir meio iluminada, a bolsa sobre o ombro, os óculos de sol sobre os olhos. Parou na entrada do prédio-alvo, enfiou uma chave na fechadura e abriu a porta. Quando entrou no hall, outro morador, um homem de vinte e poucos anos, estava saindo. Ele olhou por cima do ombro para ela; se era por admiração ou curiosidade, Gabriel não sabia dizer. Ele tirou uma foto do morador, depois olhou para as janelas escuras do segundo andar. Dez segundos depois, havia luz por trás das persianas.
CONTINUA
GUSTÁVIA, SÃO BARTOLOMEU
NADA DISSO TERIA ACONTECIDO se Spider Barnes não tivesse ido ao Eddy’s duas noites antes da partida do Aurora. Spider era visto como o melhor chef de cozinha de embarcações de todo o Caribe: bravo, mas também insubstituível, um gênio louco de jaleco branco e avental. Spider, sabem, tinha treinamento clássico. Ele tinha trabalhado um tempo em Paris, um tempo em Londres e também em Nova York e São Francisco, além de ter tido uma estada infeliz em Miami antes de deixar o negócio de restaurantes para sempre e ser livre no mar. Ele trabalhava em grandes iates agora, o tipo de embarcação que estrelas de cinema, rappers, bilionários e quem gosta de aparecer alugava sempre que queriam impressionar. E, quando Spider não estava atrás do fogão, estava caído sobre os melhores balcões de bar em terra firme. O Eddy’s estava entre os cinco melhores do Caribe, talvez os cinco melhores do mundo. Ele começou às sete horas aquela noite com umas cervejas, fumou um baseado no jardim escuro às nove e, às dez, estava contemplando seu primeiro copo de rum de baunilha. Tudo parecia ótimo no mundo. Spider Barnes estava tonto e no paraíso.
Mas então ele viu Verônica, e a noite fez uma curva perigosa. Ela era nova na ilha, uma garota perdida, uma europeia de procedência incerta que servia bebidas para turistas no bar de mergulhadores ao lado. Era bonita, no entanto — “bonita como um toque floral”, Spider comentou com seu companheiro de bebida — e se apaixonou por ela em dez segundos. Pediu a garota em casamento, que era a principal cantada de Spider, e quando ela recusou, ele sugeriu que fossem para a cama, então. De alguma forma, isso funcionou e os dois foram vistos cambaleando sob uma chuva torrencial à meia-noite. E essa foi a última vez que alguém o viu: à meia-noite e meia de uma noite chuvosa em Gustávia, totalmente molhado, bêbado e novamente apaixonado.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/15_O_ESPI_O_INGLES.jpg
O capitão do Aurora, um iate luxuoso de 154 pés de Nassau, era um homem chamado Ogilvy — Reginald Ogilvy, ex-membro da Royal Navy, um ditador benevolente que dormia com uma cópia do regulamento no criado-mudo, junto com a Bíblia do Rei James de seu avô. Ele nunca tinha se importado com Spider Barnes, não antes das nove da manhã seguinte, quando o renomado chef não apareceu na reunião regular da equipe. Não era uma reunião comum, pois o Aurora estava sendo preparado para um convidado muito importante. Só Ogilvy conhecia sua identidade. Ele também sabia que os acompanhantes incluíam uma equipe de seguranças e que a pessoa era exigente, para dizer o mínimo, o que explicava por que ficou alarmado pela ausência de Spider.
Ogilvy informou a situação ao supervisor do porto de Gustávia, que rapidamente informou à polícia local. Dois policiais bateram à porta da pequena casa de Verônica no alto da colina, mas não havia nenhum sinal dela também. Em seguida, realizaram uma busca nos vários pontos da ilha onde os bêbados e os apaixonados tipicamente se lavavam depois de uma noite de devassidão. Um sueco com o rosto vermelho no Le Select afirmou ter pagado uma Heineken a Spider aquela manhã. Outro disse que o viu caminhando pela praia em Colombier, e houve uma informação, nunca confirmada, de uma pessoa inconsolável uivando para a lua nos bosques de Toiny.
A polícia seguiu cada uma das pistas. Reviraram a ilha de norte a sul, de popa a proa, sem encontrar nada. Alguns minutos depois do pôr do sol, Reginald Ogilvy informou à equipe do Aurora que Spider Barnes tinha desaparecido e que um substituto à altura teria de ser encontrado o mais rápido possível. A equipe se espalhou pela ilha, dos restaurantes à beira-mar de Gustávia às barracas de praia do Grand Cul-de-Sac. E, às nove da noite, em um dos lugares menos prováveis, eles encontraram seu homem.
Ele tinha chegado à ilha no auge da temporada de furacões e se estabeleceu em uma casa no fim da praia de Lorient. Não tinha bagagem a não ser uma mochila de lona, uma pilha de livros bastante folheados, um rádio de onda curtas e uma scooter velha que tinha comprado em Gustávia com umas notas encardidas e um sorriso. Os livros eram grossos, pesados e muito usados; o rádio tinha uma qualidade raramente vista hoje em dia. No final da noite, quando ele se sentava na varanda meio inclinada, lendo à luz de uma lanterna à pilha, o som da música flutuava acima do farfalhar das folhas de palmeira e o gentil ir e vir das ondas. Jazz e clássica, principalmente, e às vezes um pouco de reggae das estações de outros países. A cada hora, ele deixava o livro e ouvia atentamente as notícias da BBC. Então, quando terminava o boletim, ele procurava algo de que gostasse, e as palmeiras e o mar mais uma vez dançavam ao ritmo de sua música.
No começo, não estava claro se estava de férias, de passagem, se escondendo ou planejando viver permanentemente na ilha. Dinheiro não parecia ser um problema. De manhã, quando ia à confeitaria tomar o café da manhã, sempre dava boas gorjetas às garotas. E à tarde, quando parava no pequeno mercado perto do cemitério para comprar cerveja alemã e cigarro americano, nunca se importava com o troco que saía do dispensador automático. Seu francês era razoável, mas tingido com um sotaque que ninguém conseguia identificar. Seu espanhol, que ele falava com o dominicano que trabalhava no balcão do JoJo Burger, era muito melhor, mas ainda havia aquele sotaque. As garotas na confeitaria decidiram que ele era australiano, mas os garotos do JoJo Burger achavam que era africânder. Estavam por todo o Caribe, os africânderes. Na maior parte, gente decente, mas uns poucos deles tinham negócios escusos.
Os dias dele, apesar de indefinidos, não pareciam totalmente despropositados. Ele tomava café na confeitaria, parava na banca de jornal em Saint-Jean para comprar vários jornais ingleses e americanos do dia anterior, fazia exercícios rigorosos na praia, lia densos volumes de literatura e história com um chapéu cobrindo os olhos. E, certa vez, ele alugou um barco e passou a tarde mergulhando na ilha de Tortu. Mas sua inatividade parecia mais forçada do que voluntária. Ele parecia um soldado ferido esperando voltar ao campo de batalha, um exilado sonhando com sua terra natal, onde quer que fosse.
De acordo com Jean-Marc, oficial de aduana no aeroporto, ele tinha chegado em um voo de Guadalupe com um passaporte venezuelano válido e o peculiar nome de Colin Hernandez. Parecia ser o produto de um breve casamento entre uma mãe anglo-irlandesa e um pai espanhol. A mãe tinha brincado de ser poeta; o pai tinha feito algo suspeito com dinheiro. Colin odiava o pai, mas falava da mãe como se a canonização fosse uma mera formalidade. Carregava a foto dela em sua carteira. O menino loiro no colo dela não se parecia muito com ele, mas o tempo fazia essas coisas.
O passaporte dizia que tinha 38, o que parecia correto, e sua ocupação era “empresário”, o que podia significar qualquer coisa. As garotas da padaria achavam que era um escritor buscando inspiração. O que mais explicaria o fato de que quase nunca era visto sem um livro? Mas as garotas do mercado criaram uma louca teoria, totalmente sem base, de que ele tinha assassinado um homem em Guadalupe e estava se escondendo em São Bartolomeu até a tempestade passar. O dominicano do JoJo Burger, que estava se escondendo, achou a hipótese ridícula. Colin Hernandez, ele declarou, era apenas outro preguiçoso vivendo do dinheiro de um pai que odiava. Ele ficaria ali até se cansar, ou até o dinheiro acabar. Aí voaria para outro lugar e, em dois ou três dias, ninguém nem se lembraria do nome dele.
Finalmente, um mês depois de sua chegada, houve uma pequena mudança na rotina. Depois de almoçar no JoJo Burger, ele foi até o barbeiro em Saint-Jean, e quando saiu, sua juba negra desgrenhada estava raspada, esculpida e lustrosamente azeitada. Na manhã seguinte, quando apareceu na padaria, estava recém-barbeado e vestido com calça cáqui e uma camisa branca bem passada. Ele tomou o café de sempre — uma xícara grande de café com leite e uma fatia de pão — enquanto lia o Times de Londres do dia anterior. Aí, em vez de voltar para casa, ele subiu na scooter e foi até Gustávia. Ao meio-dia, finalmente ficou claro por que o homem chamado Colin Hernandez tinha vindo a São Bartolomeu.
Ele foi primeiro ao velho e imponente hotel Carl Gustaf, mas o chef, depois de saber que ele não tinha nenhum treinamento formal, se recusou a entrevistá-lo. Os donos do Maya’s o recusaram educadamente, assim como os gerentes do Wall House, Ocean e La Cantina. Ele tentou o La Plage, mas não se interessaram. Nem o Eden Rock, o Guanahani, La Crêperie, Le Jardin ou Le Grain de Sel, o solitário posto de frente para os pântanos de sal de Saline. Até La Gloriette, fundado por um exilado político, não quis nada com ele.
Decidido, ele tentou a sorte nas joias pouco conhecidas da ilha: o bar do aeroporto, o boteco Creole do outro lado da rua, o pequeno estabelecimento que vendia pizza e panini no estacionamento do supermercado L’Oasis. E foi ali que a sorte finalmente sorriu para ele, pois descobriu que o chef no Le Piment tinha sido despedido depois de uma longa disputa sobre horas e salário. Às quatro horas daquela tarde, depois de demonstrar suas habilidades na minúscula cozinha do Le Piment, ele foi contratado. Trabalhou seu primeiro turno aquela mesma noite. As críticas foram todas brilhantes.
Na verdade, não demorou muito para que suas proezas culinárias se espalhassem pela pequena ilha. Le Piment, antes lugar frequentado apenas por nativos e habitués, logo estava cheio de uma nova clientela, todos elogiando o novo chef misterioso com esse peculiar nome anglo-espanhol. O Carl Gustaf tentou roubá-lo, assim como o Eden Rock, o Guanahani e o La Plage, todos sem sucesso. Portanto, Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, estava pessimista quando apareceu no Le Piment sem fazer reserva, na noite posterior ao desaparecimento de Spider Barnes. Foi forçado a esperar por trinta minutos no bar antes de finalmente conseguir uma mesa. Pediu três tira-gostos e três entradas. E depois de experimentar cada um, pediu para falar com o chef. Dez minutos se passaram antes de ele aparecer.
— Com fome? — perguntou o homem chamado Colin Hernandez, olhando os pratos de comida.
— Não muito.
— Então, por que veio aqui?
— Queria ver se você era tão bom quanto todos parecem pensar que é.
Ogilvy esticou a mão e se apresentou — posto e nome, seguido pelo nome do barco. O homem chamado Colin Hernandez levantou a sobrancelha, curioso.
— O Aurora é o barco de Spider Barnes, não é?
— Conhece o Spider?
— Acho que já tomei algo com ele uma vez.
— Não foi o único.
Ogilvy olhou bem para a figura parada na frente dele. Era compacto, forte, formidável. Para o olho agudo do inglês, ele parecia um homem que tinha navegado por mares duros. Sua sobrancelha era escura e grossa; o queixo era robusto e resoluto. É um rosto, pensou Ogilvy, feito para aguentar um soco.
— Você é venezuelano — ele disse.
— Quem falou?
— Todo mundo que se recusou a contratá-lo quando estava procurando emprego.
Os olhos de Ogilvy foram do rosto para a mão descansando nas costas da cadeira. Não havia evidências de tatuagens, o que ele viu como um sinal positivo. Ogilvy via a cultura moderna da tinta como uma forma de automutilação.
— Você bebe? — ele perguntou.
— Não como o Spider.
— Casado?
— Só uma vez.
— Filhos?
— Deus, não.
— Vícios?
— Coltrane e Monk.
— Já matou alguém?
— Não que me lembre.
Disse isso com um sorriso. Reginald Ogilvy também sorriu.
— Estou me perguntando se poderia tentá-lo a deixar esse lugar — falou, olhando para o modesto salão aberto do restaurante. — Estou preparado para pagar um salário generoso. E quando não estivermos no mar, você terá muito tempo livre para fazer o que gosta de fazer quando não está cozinhando.
— Quanto generoso?
— Dois mil por semana.
— Quanto o Spider estava ganhando?
— Três — respondeu Ogilvy depois de hesitar por um momento. — Mas o Spider ficou comigo por dois anos.
— Ele não está mais com você agora, está?
Ogilvy fingiu pensar um pouco.
— Três, então — ele falou. — Mas preciso que você comece imediatamente.
— Quando você parte?
— Amanhã de manhã.
— Nesse caso — disse o homem chamado Colin Hernandez — acho que terá de me pagar quatro.
Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, olhou os pratos de comida antes se levantar.
— Oito horas — ele falou. — Não se atrase.
François, o dono do Le Piment, um marselhês bravo, não recebeu bem a notícia. Soltou uma série de xingamentos no rápido patois do sul. Houve promessas de vingança. E também uma garrafa de um Bordeaux bastante bom, vazia, quebrando-se em milhares de pedaços quando se espatifou contra a parede da pequena cozinha. Mais tarde, François negaria que tinha mirado em seu antigo chef. Mas Isabelle, uma garçonete que presenciou o incidente, iria questionar a versão dele dos eventos. François, ela jurou, tinha jogado a garrafa como se fosse uma adaga diretamente na cabeça de Monsieur Hernandez. E Monsieur Hernandez, ela se lembra, tinha se esquivado do objeto com um movimento que foi tão curto e rápido que ocorreu em um piscar de olho. Depois, ele olhou friamente por um longo tempo para François como se estivesse decidindo a melhor forma de quebrar o pescoço dele. Então, calmamente, tirou seu avental branco limpo e subiu em sua scooter.
Passou o resto da noite na varanda de sua casa, lendo sob a luz da lâmpada de querosene. E, a cada hora, ele abaixava seu livro e ouvia o noticiário da BBC com o vaivém das ondas na praia e o balanço das folhas das palmeiras com o vento noturno. De manhã, após um mergulho revigorante no mar, tomou banho, se vestiu e empacotou as coisas na mochila: roupas, livros e o rádio. Além disso, empacotou dois itens que tinham sido deixados para ele na ilha de Tortu: uma Stechkin 9mm com silenciador e um pacote retangular, trinta por cinquenta centímetros. O pacote pesava exatamente sete quilos. Ele o colocou no centro da mochila, assim ela ficaria bem equilibrada quando fosse carregada.
Deixou a praia de Lorient pela última vez às sete e meia e, com a mochila sobre o joelho, foi para Gustávia. O Aurora brilhava na ponta do porto. Ele subiu às dez para as oito e a sous-chef, uma garota inglesa magra com o nome improvável de Amelia List, mostrou qual era a cabine dele. Guardou suas posses no armário — incluindo o revólver Stechkin e o pacote de sete quilos — e vestiu as roupas de chef que tinham sido deixadas na cama para ele. Amelia List estava esperando no corredor quando ele saiu. Ela o acompanhou até a cozinha e apresentou a despensa de produtos secos, a geladeira e a adega cheia de vinhos. Foi ali, no frio escuro, que ele teve seu primeiro pensamento sexual com a garota inglesa em seu uniforme branco. Não fez nada para evitar. Estava solteiro havia tantos meses que quase nem conseguia se lembrar como era tocar o cabelo de uma mulher ou acariciar a pele de um seio indefeso.
Alguns minutos antes das dez horas veio o anúncio pelo intercomunicador do barco instruindo a todos os membros da tripulação a se apresentarem no deque posterior. O homem chamado Colin Hernandez seguiu Amelia List até o lado de fora e estava parado ao lado dela quando duas Range Rovers negras brecaram na popa do Aurora. Da primeira saíram duas garotas queimadas de sol, rindo, e um homem com o rosto rosa-claro, de cerca de quarenta e poucos anos, carregando auma sacola de praia cor-de-rosa em uma mão e o gargalo de uma garrafa aberta de champanhe na outra. Dois homens atléticos desceram do segundo Rover, seguidos um momento depois por uma mulher que parecia estar sofrendo de um caso terminal de melancolia. Usava um vestido cor de pêssego que deixava a impressão de nudez parcial, um chapéu de amplas abas que escondiam seus ombros delgados e grandes óculos escuros que cobriam boa parte de seu rosto de porcelana. Mesmo assim, ela era instantaneamente reconhecível. Seu perfil a traía, o perfil tão admirado pelos fotógrafos de moda e os paparazzi que a seguiam para aonde fosse. Não havia paparazzi naquela manhã. Dessa vez, ela conseguiu enganá-los.
A mulher subiu no Aurora como se estivesse entrando em uma tumba aberta e passou pela equipe reunida sem uma palavra ou um olhar, caminhando tão perto do homem chamado Colin Hernandez que ele precisou suprimir a vontade de tocá-la para ter certeza de que era real e não um holograma. Cinco minutos depois, o Aurora partiu do porto e ao meio-dia a encantada ilha de São Bartolomeu era um ponto verde e marrom no horizonte. Esticada e de topless no deque da frente, uma bebida na mão, sua pele perfeita tostando ao sol, estava a mulher mais famosa do mundo. E no deque embaixo, preparando uma entrada de torta de atum, pepino e abacaxi, estava o homem que ia matá-la.
2
SAINDO DAS ILHAS DE BARLAVENTO
TODO MUNDO CONHECIA A história. Até aqueles que fingiam não se importar, ou mostravam desdém por seu culto de devoção mundial, conheciam todos os detalhes sórdidos. Ela era uma garota muito tímida e bonita de classe média de Kent, que tinha conseguido entrar em Cambridge e ele era o bonito e, um pouco mais velho, futuro rei da Inglaterra. Eles tinham se conhecido em um debate no campus que tinha algo a ver com o meio ambiente e, de acordo com a lenda, o futuro rei ficou instantaneamente apaixonado. Seguiu-se um longo namoro, quieto e discreto. A garota foi aprovada pelo povo do futuro rei; o futuro rei, pelo dela. Finalmente, um dos piores tabloides conseguiu tirar uma fotografia do casal deixando o baile de verão anual do duque de Rutland no castelo Belvoir. O Palácio de Buckingham soltou um comunicado morno confirmando o óbvio: que o futuro rei e a garota de classe média sem sangue aristocrático nas veias estavam namorando. Um mês depois, com os tabloides lotados de rumores e especulações, o palácio anunciou que a garota de classe média e o futuro rei planejavam se casar.
Isso aconteceu na catedral de St. Paul em uma manhã de junho, quando os céus do sul da Inglaterra estavam tomados pela chuva. Mais tarde, quando as coisas não foram bem, uma parte da imprensa britânica iria escrever que estavam condenados desde o começo. A garota, por temperamento e criação, não estava preparada para a vida no aquário real; e o futuro rei, pelas mesmas razões, não estava preparado para o casamento. Ele tinha muitas amantes, demais para serem contadas, e a garota o puniu levando um de seus guarda-costas para a cama. O futuro rei, quando ficou sabendo do caso dela, baniu o guarda para um posto solitário na Escócia. Consternada, a garota tentou se suicidar tomando uma overdose de pílulas para dormir e foi levada à emergência do Hospital St. Anne. O Palácio de Buckingham anunciou que ela estava sofrendo de desidratação causada por um surto de gripe. Quando perguntaram por que seu marido não a visitou no hospital, disseram algo sobre um conflito de agendas. A declaração oficial levantou muito mais perguntas do que respostas.
Quando ela teve alta, ficou óbvio para aqueles que seguiam a família real que a linda esposa do futuro rei não estava nada bem. Mesmo assim, ela cumpriu seus deveres matrimoniais dando dois herdeiros a ele, um menino e uma menina, os dois nascidos depois de períodos de gravidez breves e difíceis. O rei mostrou sua gratidão voltando para a cama de uma mulher a quem já tinha proposto casamento, e a princesa retaliou alcançando um grau de celebridade global que eclipsou a santa mãe do rei. Ela viajava pelo mundo apoiando causas nobres, uma horda de repórteres e fotógrafos acompanhando cada palavra e movimento dela e, mesmo assim, ninguém parecia notar que ela estava desenvolvendo algum tipo de loucura. Finalmente, com sua bênção e quieta assistência, a história apareceu nas páginas de um livro que contava tudo: as infidelidades de seu marido, os surtos de depressão, as tentativas de suicídio, os distúrbios alimentares causados pela constante exposição à imprensa e ao público. O futuro rei, com ódio, iniciou vários vazamentos de notícias retaliatórias sobre o comportamento errático de sua esposa. Aí aconteceu o golpe de misericórdia: a gravação de uma conversa telefônica apaixonada entre a princesa e seu amante favorito. Nesse momento, a rainha chegou ao limite. Com a monarquia em perigo, ela pediu que o casal se divorciasse o mais rápido possível. Eles fizeram isso um mês depois. O Palácio de Buckingham, sem um traço de ironia, publicou uma declaração afirmando que o fim do casamento real tinha sido “amigável”.
A princesa teve a permissão para manter seus aposentos no Palácio de Kensignton, mas perdeu o título de Sua Alteza Real. A rainha ofereceu um título inferior, mas ela recusou, preferindo ser chamada pelo nome. Ela até recusou seus guarda-costas SO14, pois achava que eram mais espiões do que seguranças. O palácio acompanhava discretamente seus movimentos e associações, assim como a inteligência britânica, que a via mais como um incômodo que como uma ameaça ao reino.
Em público, ela era o rosto radiante da compaixão global, mas por trás de portas fechadas, ela bebia muito e se cercava com um séquito que um conselheiro real descreveu como “eurolixo”. Nessa viagem, no entanto, havia menos acompanhantes que o normal. As duas mulheres bronzeadas eram amigas de infância; o homem que embarcou no Aurora com uma garrafa aberta de champanhe era Simon Hastings-Clarke, o visconde absurdamente rico que bancava o estilo de vida ao qual tinha se acostumado. Foi Hastings-Clarke que a levou para voar ao redor do mundo em sua frota de jatos, e era Hastings-Clarke que pagava a conta de seus guarda-costas. Os dois homens que a acompanhavam ao Caribe eram empregados de uma empresa de segurança privada em Londres. Antes de deixar Gustávia, eles tinham feito uma inspeção superficial sobre o Aurora e sua tripulação. Sobre o homem chamado Colin Hernandez, fizeram só uma pergunta: “O que vamos almoçar?”
A pedido da ex-princesa, o bufê foi leve, apesar de nem ela nem seus acompanhantes parecessem muito interessados. Beberam muito aquela tarde, torrando o corpo no forte sol, até que uma tempestade fez com que entrassem rindo em seus quartos. Ficaram lá até às nove da noite, quando saíram vestidos e penteados como se fossem a uma festa no jardim de Somerset. Tomaram coquetéis e comeram canapés no deque e depois foram até o salão principal para jantar: salada com trufas ao vinagrete, seguida de risoto de lagosta e costelas de cordeiro com alcachofra, limão forte, abobrinha e piment d’argile. A ex-princesa e seus acompanhantes declaram que a refeição tinha sido magnífica e exigiram a presença do chef. Quando ele finalmente apareceu, foi recebido com um aplauso infantil.
— O que vai nos fazer amanhã à noite? — perguntou a ex-princesa.
— É uma surpresa — ele respondeu, com seu peculiar sotaque.
— Ah, ótimo — ela disse, com o mesmo sorriso que ele já tinha visto em incontáveis capas de revistas. — Adoro surpresas.
Era uma equipe pequena, oito ao todo, e era responsabilidade do chef e da sua assistente cuidar da porcelana, das taças, da prataria e das panelas, além dos utensílios de cozinha. Eles ficaram lado a lado na pia muito depois que a ex-princesa e seus acompanhantes tinham saído, suas mãos ocasionalmente se tocando debaixo da água quente com sabão, o quadril ossudo dela pressionando a coxa dele. E, uma vez, quando passaram um atrás do outro no gabinete apertado, os bicos duros dos seios dela traçaram duas linhas nas costas dele, enviando uma descarga de eletricidade e sangue para o meio das pernas dele. Foram cada um para sua cabine, mas alguns minutos depois ele ouviu uma batida leve em sua porta. Ela o agarrou sem fazer nenhum som. Era como fazer amor com uma muda.
— Talvez tenha sido um erro — ela sussurrou no ouvido dele quando terminaram.
— Por que você está falando isso?
— Porque vamos trabalhar juntos por muito tempo.
— Não tanto.
— Você não está planejando ficar?
— Isso depende.
— Do quê?
Ele não falou mais nada. Ela deitou a cabeça no peito dele e fechou os olhos.
— Você não pode ficar aqui — ele disse.
— Eu sei — ela respondeu meio adormecida. — Só um pouco mais.
Ele ficou imóvel por muito tempo, com Amelia List dormindo em seu peito, o Aurora subindo e descendo debaixo dele e sua mente trabalhando sobre os detalhes do que iria acontecer. Finalmente, às três horas, ele saiu da cama e caminhou nu pela cabine até o armário. Em silêncio, vestiu sua calça preta, um suéter de lã e um casaco escuro à prova d’água. Tirou o envoltório do pacote — que media trinta por cinquenta centímetros e pesava exatamente sete quilos — e conectou a fonte de energia e o relógio do detonador. Colocou o pacote de volta no armário e ia pegar o revólver Stechkin quando ouviu a garota se mexer atrás dele. Virou-se lentamente e olhou para ela no escuro.
— O que era aquilo? — ela perguntou.
— Volte a dormir.
— Vi uma luz vermelha.
— Era meu rádio.
— Por que está ouvindo rádio às três da manhã?
Antes que ele pudesse responder, o abajur se acendeu. Os olhos dela correram pela roupa escura antes de pararem na arma com silenciador que ainda estava nas mãos dele. Ela abriu a boca para gritar, mas ele colocou sua palma sobre o rosto dela antes que qualquer som pudesse escapar. Enquanto ela lutava para se livrar da mão dele, o homem sussurrou baixinho no ouvido dela.
— Não se preocupe, meu amor — ele estava falando. — Só vai doer um pouco.
Os olhos se abriram com terror. Então ele girou a cabeça dela violentamente para a esquerda, quebrando sua coluna vertebral e a segurou gentilmente enquanto ela morria.
Não era costume de Reginald Ogilvy acordar logo cedo, mas a preocupação com a segurança de sua famosa passageira o levou à ponte de comando do Aurora nas primeiras horas daquela manhã. Estava verificando a previsão do tempo no computador de bordo, uma xícara de café fresco na mão, quando o homem chamado Colin Hernandez apareceu no alto da escada, vestido totalmente de preto. Ogilvy levantou a vista e perguntou:
— O que você está fazendo aqui? — Mas não recebeu nenhuma resposta a não ser dois tiros da Stechkin silenciada, que furaram seu uniforme e atingiram o coração.
A xícara de café caiu no chão; Ogilvy, instantaneamente morto, desabou pesado ao lado dela. Seu assassino caminhou calmamente pelo console, fez um ligeiro ajuste na direção do barco, e desceu a escada. O deque principal estava deserto, nenhum outro membro da tripulação estava de serviço. Ele baixou um dos botes no mar escuro, subiu e soltou a corda.
Deixou o bote livre, debaixo de um céu cheio de diamantes brancos, enquanto olhava o Aurora navegar para o leste em direção às linhas de barcos do Atlântico, sem piloto, um barco fantasma. Verificou seu relógio de pulso, que brilhava. Então, quando ele marcou zero, olhou para cima de novo. Mais 15 segundos se passaram, tempo suficiente para considerar a remota possibilidade de que a bomba tinha algum defeito. Finalmente, houve uma explosão no horizonte — a luz branca cegante do explosivo, seguida pelo laranja-amarelado da explosão secundária e do fogo.
O som era como um rumor de um trovão distante. Depois disso, só se ouvia o mar batendo contra a lateral do bote e o vento. Apertando um botão, ele ligou o motor de popa e ficou olhando enquanto o Aurora começava sua jornada para o fundo do mar. Então, direcionou o bote para o oeste e acelerou.
3
CARIBE — LONDRES
O PRIMEIRO INDICADOR DE PROBLEMAS veio quando o Pegasus Global Charters de Nassau informou que uma mensagem de rotina a um de seus barcos, o luxuoso iate de 47 metros, o Aurora, não tinha sido respondida. O centro de operações Pegasus imediatamente solicitou assistência de todos os barcos comerciais e de turismo na vizinha das Ilhas de Barlavento e, em poucos minutos, a tripulação de um petroleiro com bandeira liberiana informou que tinham visto uma luz estranha na área aproximadamente às 3h45 daquela manhã. Logo depois, a tripulação de um container viu um dos botes do Aurora flutuando vazio e sem rumo aproximadamente a cem milhas ao sudoeste de Gustávia. Simultaneamente, um barco particular encontrou coletes salva-vidas e outros restos flutuando algumas milhas ao oeste. Temendo o pior, a gerência da Pegasus ligou para o Alto Comissariado Britânico, em Kingston, e informou ao cônsul honorário que o Aurora estava desaparecido e possivelmente perdido. A gerência então enviou uma cópia da lista de passageiros, que incluía o nome da ex-princesa.
— Diga que não é ela — pediu o cônsul honorário, incrédulo, mas a gerência do Pegasus confirmou que a passageira era realmente a ex-esposa do futuro rei.
O cônsul imediatamente ligou para seus superiores no Foreign Office, em Londres, e os superiores determinaram que a situação era suficientemente grave para acordar o primeiro-ministro Jonathan Lancaster, e foi quando a crise realmente começou.
O primeiro-ministro deu a notícia ao futuro rei por telefone, à uma e meia, mas esperou até às nove para informar ao povo britânico e ao mundo. Parado na frente da porta preta do número 10 da Downing Street, o rosto triste, ele contou os fatos que eram conhecidos no momento. A ex-esposa do futuro rei tinha viajado ao Caribe na companhia de Simon Hastings-Clarke e duas amigas de longa data. Na ilha paradisíaca de São Bartolomeu, o grupo tinha subido ao luxuoso iate Aurora para um cruzeiro de uma semana. Todo contato com o barco tinha sido perdido e restos da embarcação foram encontrados espalhados pelo mar.
— Esperamos e oramos para que a princesa seja encontrada viva — disse o primeiro-ministro, solene. — Mas devemos nos preparar para o pior.
O primeiro dia de busca não foi bem-sucedido em encontrar sobreviventes ou pistas. Nem o segundo ou o terceiro. Depois de se reunir com a rainha, o primeiro-ministro Lancaster anunciou que seu governo estava trabalhando com a suposição de que a adorada princesa estava morta. No Caribe, as equipes de busca concentraram seus esforços em encontrar restos do barco em vez de corpos. Não seria uma longa busca. Na verdade, apenas 48 horas depois, um submarino automático operado pela marinha francesa descobriu o Aurora debaixo de dois mil pés de água salgada. Um especialista que viu as imagens de vídeo disse que era evidente que o barco tinha sofrido algum tipo de problema cataclísmico, quase certamente uma explosão.
— A pergunta é — ele disse —: foi um acidente ou foi intencional?
A maioria das pessoas do país — diziam pesquisas confiáveis — se recusava a acreditar que a ex-princesa tinha realmente morrido. Eles mantinham a esperança de que somente um dos dois botes do Aurora tinha sido encontrado. Claro, argumentavam, ela estava perdida no mar aberto ou tinha sido levada pela correnteza até uma ilha deserta. Um site pouco sério chegou a informar que ela foi vista em Montserrat. Outro disse que estava vivendo tranquila à beira-mar, em Dorset. Teóricos da conspiração de todos os tipos criaram histórias sensacionalistas sobre um plano para matar a princesa que foi concebido pelo Conselho Privado da Rainha e realizado pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânico, mais conhecido como MI6. Havia muita pressão para que seu chefe, Graham Seymour, fizesse uma declaração negando as alegações, mas ele se recusou.
— Isso não são alegações — ele disse ao secretário de relações exteriores durante uma tensa reunião na enorme sede do serviço ao lado do rio. — São fantasias criadas por pessoas com problemas mentais, e não vou me rebaixar a dar uma resposta a elas.
Em particular, no entanto, Seymour já tinha chegado à conclusão de que a explosão a bordo do Aurora não tinha sido um acidente. Da mesma forma que sua contraparte no DGSE, o bastante eficiente serviço de inteligência francês. Um analista francês,vendo o vídeo dos destroços, tinha determinado que o Aurora fora destruído por uma bomba detonada no deque inferior. Mas quem tinha levado a bomba para dentro do barco? E quem tinha ligado o detonador? O principal suspeito do DGSE era o homem que tinha sido contratado para substituir o chef desaparecido do Aurora na noite antes da partida do iate. Os franceses enviaram ao MI6 um vídeo granulado de sua chegada ao aeroporto de Gustávia, junto com algumas fotos de baixa qualidade capturada por câmeras de segurança de algumas lojas. Mostrava um homem que não se importava em aparecer em fotos.
— Ele não me parece o cara que afundaria um barco — Seymour disse em uma reunião de sua equipe. — Ele está solto por aí, em algum lugar. Descubram quem ele é e onde está se escondendo, preferencialmente antes dos franceses.
Ele era um sussurro em uma capela meio acesa, um fio perdido na bainha de uma roupa descartada. Eles verificaram as fotografias nos computadores. E, quando os computadores não encontraram uma combinação, procuraram por ele da forma antiga, com sapatos de couro e envelopes cheios de dinheiro — dinheiro norte-americano, claro, pois nas regiões inferiores do mundo da espionagem, os dólares continuavam a ser a moeda comum. O homem do MI6 em Caracas não encontrou nenhum traço dele. Nem conseguiram encontrar alguma pista de uma mãe anglo-irlandesa com um coração poético, ou um pai empresário espanhol. O endereço de seu passaporte terminou sendo uma favela em Caracas; seu último número conhecido há muito estava desconectado. Um informante pago dentro da polícia secreta venezuelana disse que tinha ouvido um rumor sobre uma ligação com Castro, mas uma fonte perto da inteligência cubana murmurou algo sobre os cartéis colombianos.
— Talvez antes — disse um policial incorruptível em Bogotá —, mas ele se afastou dos grandes traficantes há muito tempo. A última coisa que ouvi é que estava vivendo no Panamá com uma das antigas amantes de Noriega. Tinha muitos milhões guardados em um banco panamenho sujo e um condomínio em Playa Farallón.
A antiga amante negou conhecê-lo e o gerente do banco em questão, depois de aceitar um suborno de dez mil dólares, não conseguiu encontrar nenhum registro de conta em nome dele. Quanto ao condomínio na praia em Farallón, um vizinho quase não conseguia se lembrar de sua aparência, só da voz dele.
— Ele falava com um sotaque peculiar — disse. — Parecia que era da Austrália. Ou seria da África do Sul?
Graham Seymour monitorou a busca pelo suspeito do conforto de seu escritório, o melhor de todo o mundo da espionagem, com um jardim inglês no vestíbulo, uma enorme mesa de mogno usada por todos os chefes antes dele, janelas enormes voltadas para o rio Tâmisa e o imponente relógio de seu avô construído por ninguém menos que Sir Mansfield Smith Cumming, o primeiro “C” do Serviço Secreto Britânico. O esplendor do que tinha ao seu redor deixava Seymour inquieto. Em seu distante passado, ele tinha sido um homem de campo de alguma reputação — não no MI6, mas no MI5, o serviço de segurança interno menos glamoroso da Grã-Bretanha, onde havia servido com distinção antes de fazer a curta viagem da Thames House a Vauxhall Cross. Havia alguns no MI6 que se ressentiam da indicação de alguém de fora, mas a maioria via “a transferência”, como tinha ficado conhecida no meio, como um tipo de volta para casa. O pai de Seymour foi um lendário oficial do MI6, enganando nazistas, com importante participação em vários eventos no Oriente Médio. E agora seu filho, no auge da vida, se sentava atrás da mesa na qual Seymour pai tinha se apresentado para receber ordem.
Com o poder, no entanto, geralmente vem um sentimento de desamparo. E Seymour, o espiocrata, o espião de sala de reuniões, caiu vítima dele. Com busca cada vez mais infrutífera, e com a pressão de Downing Street e do palácio crescendo, seu mau humor ia piorando. Ele mantinha uma foto do alvo em sua mesa, perto do tinteiro vitoriano e da caneta-tinteiro Parker que usava para marcar documentos com seu criptograma pessoal. Algo no rosto era familiar. Seymour suspeitava que, em algum lugar — em outro campo de batalha, em outra terra —, seus caminhos tinham se cruzado. Não importava que os bancos de dados do serviço não afirmassem isso. Seymour confiava em sua memória mais do que na memória de qualquer computador do governo.
E assim, com as mãos em campo levando a falsas pistas e a poços vazios, Seymour conduzia uma busca própria a partir da gaiola dourada no alto de Vauxhall Cross. Ele começou esquadrinhando sua prodigiosa memória, e quando não deu certo, pediu acesso a uma pilha de casos antigos do MI5 e procurou ali também. Novamente não encontrou nenhuma pista. Finalmente, na manhã do décimo dia, o telefone na mesa de Seymour tocou levemente. O tom diferente mostrou que quem ligava era Uzi Navot, o chefe do tão falado serviço de inteligência de Israel. Seymour hesitou, depois levantou o telefone de forma cautelosa. Como sempre, o chefe dos espiões israelense não se importou em alguma troca de amabilidade.
— Acho que podemos ter encontrado o homem que você está procurando.
— Quem é ele?
— Um velho amigo.
— Seu ou nosso?
— Seu — disse o israelense. — Não temos nenhum amigo.
— Pode nos dizer o nome dele?
— Não pelo telefone.
— Quão rapidamente pode chegar a Londres?
A linha ficou muda.
4
VAUXHALL CROSS, LONDRES
UZI NAVOT CHEGOU A Vauxhall Cross pouco antes das onze da noite e foi levado à suíte executiva pelo elevador. Estava usando um terno cinza que parecia apertado para os ombros fortes, uma camisa branca aberta em seu grosso pescoço e óculos sem aro que marcavam a ponte de seu nariz de pugilista. À primeira vista, poucos presumiam que Navot era israelense, ou mesmo judeu, um traço que tinha funcionado bem durante sua carreira. Uma vez, ele tinha sido um katsa, o termo usado por seu serviço para descrever agentes de campo disfarçados. Armado com bom conhecimento de vários idiomas e uma pilha de falsos passaportes, Navot tinha penetrado em redes de terror e recrutado vários espiões e informantes espalhados pelo mundo. Em Londres, ficou conhecido como Clyde Bridges, o diretor de marketing europeu de uma obscura empresa de software. Tinha dirigido várias operações bem-sucedidas em solo britânico na época, quando era responsabilidade de Seymour evitar essas atividades. Seymour não guardava rancor, pois essa era a natureza dos relacionamentos entre espiões: adversários um dia, aliados no outro.
Um frequente visitante em Vauxhall Cross, Navot não comentou nada sobre a beleza do grande escritório de Seymour. Nem se dedicou à fofoca profissional que precedia a maioria dos encontros entre habitantes do mundo secreto. Seymour sabia os motivos do humor taciturno do israelense. O primeiro mandato de Navot como chefe estava terminando, e o primeiro-ministro tinha pedido que ele saísse para que outro homem assumisse, um lendário agente com quem Seymour tinha trabalhado em diversas ocasiões. Havia boatos de que a lenda tinha feito um acordo para que Navot continuasse. Era algo pouco ortodoxo permitir que seu predecessor continuasse no serviço, mas a lenda raramente se preocupava com a ortodoxia. A disposição para correr riscos era sua maior força — e às vezes, pensou Seymour, sua ruína.
Na forte mão direita de Navot estava pendurada uma maleta de aço inoxidável com trava de combinação. Dela, tirou uma fina pasta, que colocou sobre a mesa de mogno. Dentro havia um documento, uma página; os israelenses se orgulhavam da brevidade de seus arquivos. Seymour leu a linha de assunto. Aí olhou para a fotografia ao lado de seu tinteiro e xingou baixinho. Do lado oposto da mesa imponente, Uzi Navot se permitiu um breve sorriso. Não era comum que conseguissem contar ao diretor-geral do MI6 algo que ele ainda não sabia.
— Quem é a fonte da informação? — perguntou Seymour.
— É possível que seja um iraniano — respondeu Navot, vagamente.
— O MI6 tem acesso regular a seu produto?
— Não — respondeu Navot. — Ele é exclusivamente nosso.
O MI6, a CIA e a inteligência israelense trabalharam juntos durante mais de uma década para evitar que os iranianos chegassem a ter armas nucleares. Os três serviços tinham operado conjuntamente contra a rede de suprimentos nuclear iraniana e compartilharam grande quantidade de dados técnicos e de inteligência. Era reconhecido que os israelenses tinham as melhores fontes humanas em Teerã e, para contrariedade dos norte-americanos e britânicos, eles as protegiam com todo cuidado. Julgando pelo escrito no relatório, Seymour suspeitava de que o espião de Navot trabalhava para o VEVAK, o serviço de inteligência iraniano. As fontes do VEVAK eram famosas pela dificuldade de trato. Às vezes a informação que trocavam por dinheiro ocidental era genuína. Outras vezes estava a serviço da taqiyya, a prática persa de mostrar uma intenção enquanto abrigava outra.
— Acredita nele? — perguntou Seymour.
— Não estaria aqui se não acreditasse. — Navot fez uma pausa e acrescentou: — E algo me diz que você acredita também.
Quando Seymour não respondeu, Navot tirou um segundo documento da maleta e colocou na mesa, perto dele.
— É uma cópia de um relatório que enviamos ao MI6 há três anos — ele explicou. — Sabíamos sobre sua conexão com os iranianos já naquela época. Também sabíamos que estava trabalhando com Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda e qualquer um que pagasse.
Navot acrescentou:
— Seu amigo não discrimina muito com quem ele anda.
— Foi antes da minha época — respondeu Seymour.
— Mas agora é seu problema. — Navot apontou para uma passagem perto do final do documento. — Como consegue ver, fizemos a proposta de uma operação para tirá-lo de circulação. Até nos apresentamos como voluntários para fazer o serviço. E como você acha que seu predecessor respondeu a nossa generosa oferta?
— Obviamente, ele recusou.
— Com extremo preconceito. Na verdade, ele nos disse em termos bem claros que não deveríamos colocar um dedo nele. Estava com medo de que isso abriria uma caixa de Pandora. — Navot balançou a cabeça lentamente. — E, agora, aqui estamos nós.
A sala estava silenciosa, exceto pelo tique-taque do velho relógio do avô de C. Finalmente, Navot perguntou com a voz baixa:
— Onde você estava naquele dia, Graham?
— Que dia?
— Cinco de agosto, mil novecentos e noventa e oito.
— O dia da bomba?
Navot assentiu.
— Sabe muito bem onde eu estava — respondeu Seymour. — Estava no Cinco.
— Você era o chefe de contraterrorismo.
— É.
— O que significa que era sua responsabilidade.
Seymour não falou nada.
— O que aconteceu, Graham? Como ele conseguiu?
— Foram cometidos erros. Sérios erros. Sérios o suficiente para arruinar carreiras, até hoje. — Seymour juntou os dois documentos e os devolveu a Navot. — Sua fonte iraniana contou por que ele fez isso?
— É possível que ele tenha voltado a uma antiga briga. Também é possível que estivesse agindo em nome de outros. De qualquer forma, é preciso lidar com ele, antes que seja tarde demais.
Seymour não respondeu.
— Nossa oferta ainda está de pé, Graham.
— Que oferta?
— Vamos cuidar dele — respondeu Navot. — E depois vamos enterrá-lo em um buraco tão fundo que ninguém da época dos conflitos vai conseguir recuperá-lo.
Seymour ficou em um silêncio contemplativo.
— Só existe uma pessoa a quem eu confiaria um trabalho como esse — ele falou, finalmente.
— Isso poderia ser difícil.
— A gravidez?
Navot assentiu.
— Quando ela vai ter?
— Infelizmente isso é informação confidencial.
Seymour deu um breve sorriso.
— Você acha que ele poderia ser persuadido a aceitar essa missão?
— Tudo é possível — respondeu Navot, sem querer se comprometer. — Eu ficaria feliz em falar com ele em seu nome.
— Não — falou Seymour. — Eu faço isso.
— Há mais um problema — falou Navot depois de um momento.
— Só um?
— Ele não conhece muito essa parte do mundo.
— Eu conheço alguém que pode servir como guia.
— Ele não vai trabalhar com alguém que não conhece.
— Na verdade, eles são bons amigos.
— Ele é do MI6?
— Não — respondeu Seymour. — Ainda não.
5
AEROPORTO FIUMICINO, ROMA
– POR QUE VOCÊ ACHA que meu voo está atrasado? — perguntou Chiara.
— Pode ser um problema mecânico — respondeu Gabriel.
— Pode ser — ela repetiu sem convicção.
Estavam sentados em um canto silencioso da sala de espera da primeira classe. Não importava a cidade, pensou Gabriel, eram todos iguais. Jornais abandonados, garrafas quentes de pinot grigio suspeito, a CNN International silenciosa em uma televisão grande de tela plana. Pelos seus cálculos, Gabriel tinha passado um terço de sua carreira em lugares assim. Ao contrário da sua esposa, ele era extraordinariamente bom em esperar.
— Vá perguntar à garota bonita no balcão de informações por que meu voo ainda não começou a embarcar — ela disse.
— Não quero falar com a garota bonita no balcão de informações.
— Por que não?
— Porque ela não sabe nada e vai simplesmente falar algo que acha que quero ouvir.
— Por que você sempre precisa ser tão fatalista?
— Evita que me desaponte depois.
Chiara sorriu e fechou os olhos; Gabriel olhava a televisão. Um repórter britânico com capacete e colete à prova de balas estava falando sobre os últimos ataques aéreos contra Gaza. Gabriel se perguntou por que a CNN tinha ficado tão apaixonada pelos jornalistas britânicos. Ele achava que era o sotaque. As notícias sempre pareciam mais fortes quando dadas com um sotaque britânico, mesmo se fossem completas mentiras.
— O que ele está falando? — perguntou Chiara.
— Você realmente quer saber?
— Vai ajudar a passar o tempo.
Gabriel apertou os olhos para ler as legendas.
— Diz que um avião israelense atacou uma escola onde várias centenas de palestinos estavam se escondendo da batalha. Diz que pelo menos 15 pessoas foram mortas e várias dezenas seriamente feridas.
— Quantas eram mulheres e crianças?
— Todas elas, aparentemente.
— A escola era o verdadeiro alvo do ataque aéreo?
Gabriel digitou uma breve mensagem no BlackBerry e enviou com segurança para o Boulevard Rei Saul, o quartel-general do serviço de inteligência de Israel. Tinha um nome comprido e enganador que tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os funcionários chamavam de Escritório e nada mais.
— O verdadeiro alvo — ele falou, os olhos no BlackBerry— era uma casa do outro lado da rua.
— Quem vive na casa?
— Muhammad Sarkis.
— O Muhammad Sarkis?
Gabriel assentiu.
— Muhammad ainda está entre os vivos?
— Aparentemente, não.
— E a escola?
— Não foi atingida. As únicas vítimas foram Sarkis e membros de sua família.
— Talvez alguém deveria contar a verdade ao jornalista.
— Em que isso ajudaria?
— Mais fatalismo — disse Chiara.
— Nenhum desapontamento.
— Por favor, descubra por que meu voo está atrasado.
Gabriel digitou outra mensagem no BlackBerry. Um momento depois, chegou a resposta.
— Um dos foguetes do Hamas caiu perto do Ben-Gurion.
— Muito perto? — perguntou Chiara.
— Perto o suficiente para causar desconfortos.
— Você acha que a garota bonita no balcão de informações sabe que meu destino está sendo atacado por foguetes?
Gabriel ficou em silêncio.
— Tem certeza de que quer continuar com isso? — perguntou Chiara.
— Com o quê?
— Não me obrigue a falar em voz alta.
— Está perguntando se eu ainda quero ser chefe em um momento como esse?
Ela assentiu.
— Em um momento como esse — ele falou, vendo as imagens de combate e explosões na tela —, eu gostaria de poder ir até Gaza e lutar junto com nossos rapazes.
— Achei que você tinha odiado o exército.
— Odiei.
Ela virou a cabeça para ele e abriu os olhos. Eram cor de caramelo com toques de ouro. O tempo não tinha deixado nenhuma marca em seu lindo rosto. Não fosse pela barriga inchada e o anel dourado no dedo, ela poderia ser a mesma garota jovem que ele tinha encontrado há muito tempo, no antigo gueto de Veneza.
— Combina, não?
— O quê?
— Que os filhos de Gabriel Allon nasçam em tempo de guerra.
— Com um pouco de sorte, a guerra vai terminar quando eles nascerem.
— Não estou tão segura disso. — Chiara olhou para o quadro de embarque. A situação do voo 386 para Tel Aviv ainda aparecia a mesma. — Se meu avião não partir logo, eles vão nascer aqui na Itália.
— Sem chance.
— O que tem de errado com isso?
— Tínhamos um plano. E vamos continuar com ele.
— Na verdade — ela disse, com astúcia —, o plano era que voltássemos a Israel juntos.
— É verdade — disse Gabriel, sorrindo. — Mas houve a intervenção de eventos.
— Eles sempre fazem isso.
Setenta e duas horas antes, em uma igreja comum perto do lago Como, Gabriel e Chiara tinham descoberto um dos quadros roubados mais famosos do mundo: a Natividade com São Francisco e São Lourenço, de Caravaggio. A pintura, bastante danificada, agora estava no Vaticano, onde esperava restauração. Era intenção de Gabriel realizar os primeiros estágios, ele mesmo. Essa era sua combinação única de talentos. Ele era restaurador de arte, espião e assassino, uma lenda que tinha participado de algumas das maiores operações na história da inteligência israelense. Logo seria pai de novo e depois se tornaria o chefe. Não escrevem histórias sobre chefes, ele pensou. Escrevem histórias sobre os homens que os chefes mandam a campo para fazer o trabalho sujo.
— Não sei por que você é tão cabeça-dura em relação àquele quadro — disse Chiara.
— Eu encontrei, eu quero restaurá-lo.
— Na verdade, nós encontramos. Mas isso não muda o fato de que não existe uma maneira possível de terminá-lo antes que as crianças nasçam.
— Não importa se vou conseguir terminar ou não. Só queria...
— Deixar sua marca nele?
Ele assentiu lentamente.
— Poderia ser o último quadro que tenho a chance de restaurar. Além disso, tenho uma dívida com ele.
— Quem?
Ele não respondeu; estava lendo as legendas na televisão.
— O que estão falando agora? — Chiara perguntou.
— Sobre a princesa.
— O que tem?
— Parece que a explosão que afundou o barco foi um acidente.
— Acredita nisso?
— Não.
— Então por que eles falariam algo assim?
— Acho que querem ter um pouco de tempo e espaço.
— Para quê?
— Para encontrar o homem que estão procurando.
Chiara fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dele. O cabelo escuro dela, com tons ruivos e luzes castanhas, tinha um delicioso cheiro de baunilha. Gabriel beijou o cabelo dela e sentiu o perfume. De repente, não queria que ela subisse sozinha no avião.
— O que o painel de embarque está mostrando sobre meu voo? — ela perguntou.
— Atrasado.
— Não pode fazer algo para acelerar as coisas?
— Você superestima meus poderes.
— Falsa modéstia não combina com você, querido.
Gabriel digitou outra breve mensagem no BlackBerry e enviou para o Boulevard Rei Saul. Um momento depois, o aparelho vibrou levemente com a resposta.
— E então? — perguntou Chiara.
— Olha o painel.
Chiara abriu os olhos. O status do voo 386 da El Al ainda mostrava ATRASADO. Trinta segundos depois, mudou para EMBARCANDO.
— Pena que você não consegue acabar com a guerra tão facilmente — disse Chiara.
— Só o Hamas pode parar a guerra.
Ela juntou a bagagem de mão e uma pilha de revistas de moda e se levantou cuidadosamente.
— Seja um bom menino — ela falou. — E se alguém pedir um favor, lembre-se das três adoráveis palavras.
— Encontre outra pessoa.
Chiara sorriu. Então beijou Gabriel com uma urgência surpreendente.
— Venha para casa, Gabriel.
— Logo.
— Não — ela falou. — Venha para casa agora.
— É melhor correr, Chiara. Ou vai perder o voo.
Ela o beijou pela última vez. Então se afastou sem outra palavra e entrou no avião.
Gabriel esperou até o voo de Chiara estar seguro no ar antes de deixar o terminal e caminhar pelo caótico estacionamento do Fiumicino. Seu anônimo sedan alemão estava no canto da terceira plataforma, com a frente virada para fora, caso ele tivesse motivos para fugir da garagem apressadamente. Como sempre, ele olhou embaixo do carro para ver se havia explosivos escondidos antes de entrar atrás do volante e ligar o carro. Uma canção pop italiana começou a tocar no rádio, uma das músicas bobinhas que Chiara estava sempre cantando quando achava que ninguém estava ouvindo. Gabriel mudou para a BBC, mas estava cheia de notícias sobre a guerra, então, ele abaixou o volume. Haveria tempo suficiente para a guerra mais tarde, pensou. Nas próximas semanas só haveria o Caravaggio.
Gabriel cruzou o Tibre sobre a ponte Cavour e entrou na via Gregoriana. O velho apartamento seguro do Escritório estava no final da rua, perto do alto das escadarias da praça da Espanha. Estacionou o sedan em um espaço vazio ao longo do meio-fio e tirou a Beretta 9 mm do porta-luvas antes de descer. O ar frio da noite tinha cheiro de alho frito e folhas molhadas, o cheiro de Roma no outono. Algo nisso sempre fazia Gabriel pensar em morte.
Passou a entrada do seu edifício, o toldo do hotel Hassler Villa Medici e foi até a igreja de Trinità dei Monti. Um momento depois, quando determinou que não estava sendo seguido, voltou ao prédio. Uma única lâmpada de baixo consumo iluminava um pouco o vestíbulo; ele caminhou debaixo da esfera de luz e subiu a escada escura. Quando pisou no terceiro andar, parou. A porta do apartamento estava entreaberta e de dentro vinha o som de gavetas abrindo e fechando. Calmamente, ele tirou a Beretta das costas e usou o cano para lentamente empurrar a porta. No começo, não conseguiu ver nenhum sinal do invasor. Então, a porta se abriu mais um centímetro e ele viu Graham Seymour parado na pia da cozinha, uma garrafa fechada de Gavi em uma mão e um saca-rolha na outra. Gabriel enfiou a arma no bolso do casaco e entrou. E, em sua cabeça, ele estava pensando nas três adoráveis palavras.
Encontre outra pessoa...
6
VIA GREGORIANA, ROMA
– TALVEZ SEJA MELHOR QUE eu faça isso, Gabriel. Ou alguém vai acabar machucado.
Seymour entregou a garrafa de vinho e o saca-rolha, encostando-se na pia da cozinha. Estava usando calça de flanela cinza, uma jaqueta espinha de peixe e uma camisa azul com punho francês. A ausência de ajudantes pessoais ou segurança sugeria que tinha viajado a Roma usando um passaporte falso. Era um mau sinal. O chefe do MI6 viajava clandestinamente só quando tinha um problema sério.
— Como você entrou aqui? — perguntou Gabriel.
Seymour puxou uma chave do bolso de sua calça. Presa a ela estava o medalhão preto tão amado pela Organização Interna, a divisão do Escritório que procurava e gerenciava propriedades seguras.
— Onde conseguiu isso?
— Uzi me deu ontem em Londres.
— E o código do alarme? Suponho que ele tenha dado também.
Seymour recitou o número de oito dígitos.
— É uma violação do protocolo do Escritório.
— Houve circunstâncias atenuantes. Além disso — acrescentou Seymour —, depois de todas as operações que fizemos juntos, sou praticamente membro da família.
— Até membros da família batem antes de entrar em um aposento.
— É você quem está dizendo.
Gabriel tirou a rolha da garrafa, serviu duas taças e entregou uma a Seymour. O inglês levantou a taça meio centímetro e disse:
— À paternidade.
— Dá azar beber por crianças que ainda não nasceram, Graham.
— Então pelo que vamos beber?
Quando Gabriel não respondeu, Seymour foi até a sala de estar. De sua janela era possível ver a torre da igreja e o alto das escadarias. Ele ficou ali por um momento olhando os tetos como se estivesse admirando, do terraço de sua casa, as colinas de sua cidade natal. Com suas mechas cor de chumbo e queixo robusto, Graham Seymour era o típico funcionário público britânico, um homem que tinha nascido, sido criado e educado para liderar. Ele era bonito, mas não muito; era alto, mas não muito. Fazia os outros se sentirem inferiores, principalmente os norte-americanos.
— Sabe — ele disse, finalmente —, você realmente deveria encontrar outro lugar para ficar quando está em Roma. Todo mundo conhece esse apartamento seguro, o que significa que não é nada seguro.
— Gosto da vista.
— Dá para ver o motivo.
Seymour voltou seu olhar para os tetos escuros. Gabriel sentiu que algo o preocupava. Ele falaria sobre isso em algum momento. Sempre chegava.
— Ouvi dizer que sua esposa saiu da cidade hoje — falou finalmente.
— Que outra informação privilegiada o chefe do meu serviço compartilhou com você?
— Ele mencionou algo sobre um quadro.
— Não é um quadro qualquer, Graham. É o...
— Caravaggio — falou Seymour, terminando a sentença.
Então, sorriu e acrescentou:
— Você tem jeito para encontrar coisas, não?
— Isso deveria ser um elogio?
— Acho que sim.
Seymour bebeu. Gabriel perguntou por que Uzi Navot tinha ido a Londres.
— Ele tinha uma informação que queria me mostrar. Tenho de admitir — acrescentou Seymour —, ele parecia bem para um homem em sua posição.
— Que posição é essa?
— Todo mundo no meio sabe que Uzi está saindo — respondeu Seymour. — E está deixando para trás uma grande confusão. Todo o Oriente Médio está pegando fogo e vai piorar bastante antes de melhorar.
— Não foi o Uzi que fez a bagunça.
— Não — concordou Seymour —, foram os norte-americanos que fizeram. O presidente e seus conselheiros foram muito rápidos em se afastar dos árabes fortes. Agora o presidente enfrenta um mundo que ficou louco e ele não tem ideia do que fazer.
— E se você estivesse aconselhando o presidente, Graham?
— Diria para ressuscitar os árabes fortes. Funcionou antes, pode funcionar de novo.
— Todos os cavalos do rei, e todos os homens do rei.
— O que quer dizer?
— A velha ordem está destruída e não pode ser recuperada. Além disso — acrescentou Gabriel —, foi a velha ordem que criou Bin Laden e os jihadistas em primeiro lugar.
— E quando os jihadistas tentarem expulsar o Estado judeu da Casa do Islã?
— Eles estão tentando, Graham. E caso você não tenha notado, o Reino Unido não tem muita utilidade para eles também. Goste ou não, estamos nessa juntos.
O BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa.
— O que foi? — perguntou Seymour.
— Outro cessar fogo.
— Quanto tempo vai durar esse?
— Acho que até o Hamas decidir rompê-lo. — Gabriel colocou o BlackBerry na mesa de café e, curioso, olhou para Seymour. — Você estava a ponto de me dizer o que está fazendo no meu apartamento.
— Tenho um problema.
— Qual é o nome dele?
— Quinn — respondeu Seymour. — Eamon Quinn.
Gabriel passou o nome pelo banco de dados de sua memória, mas não encontrou nada.
— Irlandês? — ele perguntou.
Seymour assentiu.
— Republicano?
— Do pior tipo.
— Então, qual é o problema?
— Há muito tempo cometi um erro e pessoas morreram.
— E Quinn foi o responsável?
— Quinn acendeu o pavio, mas, em última análise, eu fui o responsável. É a parte maravilhosa de nosso negócio. Nossos erros sempre voltam para nos assombrar, e no final todas as dívidas são pagas. — Seymour levantou sua taça. — Podemos brindar por isso?
7
VIA GREGORIANA, ROMA
O CÉU TINHA FICADO ASSUSTADOR a tarde toda. Finalmente, às dez e meia, uma chuva torrencial transformou, por um tempo, a via Gregoriana em um canal de Veneza. Graham Seymour estava parado na janela vendo como gotas grossas de chuva caíam no terraço, mas estava pensando no otimista verão de 1998. A União Soviética era uma memória. As economias da Europa e dos Estados Unidos estavam rugindo. Os jihadistas da Al-Qaeda eram objetos de estudo em seminários incrivelmente chatos sobre ameaças futuras.
— Nós nos enganamos ao pensar que tínhamos chegado ao fim da história — ele estava dizendo. — Havia alguns no Parlamento que realmente estavam propondo acabar com os Serviços de Segurança e o MI6, e nos queimar na fogueira. — Olhou sobre o ombro. — Eram os dias de vinho e rosas. Foram os dias da ilusão.
— Não para mim, Graham. Eu estava fora do negócio na época.
— Eu lembro.
Seymour se afastou de Gabriel e ficou olhando a chuva batendo no vidro.
— Estava vivendo na Cornualha na época, não estava? Naquela pequena casa no rio Helford. Sua primeira esposa estava no hospital psiquiátrico em Stafford e você a mantinha limpando quadros para Julian Isherwood. E havia aquele rapaz que vivia na casa ao lado. Não lembro o nome dele.
— Peel — falou Gabriel. — O nome dele era Timothy Peel.
— Ah, sim, o jovem mestre Peel. Nunca conseguimos entender por que você passava tanto tempo com ele. Então, percebemos que ele tinha exatamente a mesma idade do filho que você perdeu para uma bomba em Viena.
— Achei que estivessemos falando de você, Graham.
— Estamos — respondeu Seymour.
Ele, então, lembrou a Gabriel, desnecessariamente, de que no verão de 1998 ele era chefe de contraterrorismo no MI5. Dessa forma, era o responsável por proteger a Grã-Bretanha dos terroristas do IRA, o Exército Republicano Irlandês. E, mesmo em Ulster, cena de um conflito secular entre protestantes e católicos, havia sinais de esperança. Os eleitores da Irlanda do Norte tinham ratificado os acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e o IRA Provisório estava aderindo aos termos do cessar fogo. Só o IRA Autêntico, um pequeno grupo de dissidentes de linha dura, continuava com a luta armada. Seu líder era Michael McKevitt, ex-intendente geral do IRA. Sua esposa, Bernadette Sands-McKevitt, dirigia a ala política: o Movimento pela Soberania dos 32 Condados. Era irmã de Bobby Sands, o membro do IRA Provisório que fez uma greve de fome até a morte na prisão de Maze, em 1981.
— E então — falou Seymour — havia Eamon Quinn. Quinn planejava as operações. Quinn construía as bombas. Infelizmente, ele era bom. Muito bom.
Um trovão fez o prédio tremer. Seymour se encolheu um pouco antes de continuar.
— Quinn tinha certa genialidade para construir bombas bastante eficientes e entregá-las em seus alvos. Mas o que ele não sabia — acrescentou Seymour — era que eu tinha um agente na cola dele.
— Quanto tempo ele ficou?
— Minha agente era uma mulher — respondeu Seymour. — E ela estava desde o começo.
Administrar a agente e sua inteligência, continuou Seymour, provou ser algo delicado para equilibrar. Como a agente tinha um alto posto dentro da organização, ela geralmente tinha conhecimento avançado dos ataques, incluindo o alvo, a hora e o tamanho da bomba.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour. — Impedir os ataques e colocar a agente em risco? Ou permitir que os ataques acontecessem e tentar garantir que ninguém fosse morto?
— O segundo — respondeu Gabriel.
— Você fala como um verdadeiro espião.
— Não somos policiais, Graham.
— Graças a Deus.
— Na maior parte do tempo — disse Seymour —, a estratégia funcionou. Vários carros-bombas foram desarmados, e vários outros explodiram com poucos estragos, apesar de que um praticamente nivelou a High Street de Portadown, uma fortaleza legalista, em fevereiro de 1998. Aí, seis meses depois, a espiã do MI5 informou que o grupo estava planejando um grande ataque. Algo grande, ela avisou. Algo que iria explodir em pedaços o processo de paz da Sexta-Feira Santa.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour.
Do lado de fora, o céu explodiu com um raio. Seymour esvaziou sua taça e contou a Gabriel o resto da história.
Na noite de 13 de agosto de 1998, um Vauxhall Cavalier marrom, placa 91 DL 2554, desapareceu de uma casa em Carrickmacross, na República da Irlanda. Foi levado até uma fazenda isolada na fronteira, onde colocaram placas falsas da Irlanda do Norte. Então Quinn colocou a bomba: 220 quilos de fertilizante, uma vareta feita à máquina com fortes explosivos, um detonador, uma fonte escondida em um recipiente plástico para alimentos, um interruptor no porta-luvas. Na manhã de domingo, 15 de agosto, ele dirigiu o carro pela fronteira até Omagh e estacionou na frente da loja de departamentos S.D. Kells, em Lower Market Street.
— Obviamente — falou Seymour —, Quinn não entregou a bomba sozinho. Havia outro homem no Vauxhall, mais dois no carro acompanhante e outro que dirigia o carro de fuga. Eles se comunicavam por celular. E estávamos ouvindo cada palavra.
— O Serviço de Segurança?
— Não — respondeu Seymour. — Nossa capacidade de monitorar ligações telefônicas não se estendia além das fronteiras do Reino Unido. A conspiração de Omagh nasceu na República da Irlanda, então tivemos de confiar no GCHQ para fazer as escutas para nós.
O Government Communications Headquarters (GCHQ), o quartel-general de comunicações do governo, era a versão britânica da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos EUA. Às 14h20 tinha interceptado uma ligação de um homem que parecia Eamon Quinn. Ele falou cinco palavras: “Os tijolos estão na parede.” O MI5 sabia por experiências passadas que a frase significava que a bomba estava no lugar. Doze minutos depois, a Ulster Television recebeu um aviso telefônico anônimo: “Há uma bomba, tribunal, Omagh, rua principal, duzentos e vinte quilos, explosão em trinta minutos.” O Royal Ulster Constabulary começou a evacuar as ruas ao redor do tribunal de Omagh e a procurar pela bomba. O que não perceberam era que estavam olhando o lugar errado.
— O aviso por telefone era incorreto — disse Gabriel.
Seymour assentiu lentamente.
— O Vauxhall não estava nem perto do tribunal. Estava a várias centenas de metros mais para baixo, na Lower Market Street. Quando o RUC começou a evacuação, eles sem querer levaram as pessoas na direção da bomba em vez de afastá-las.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Era exatamente o que Quinn queria. Queria que pessoas morressem, então deliberadamente estacionou o carro no lugar errado. Ele enganou a própria organização.
Dez minutos depois das três, a bomba detonou. Vinte e nove pessoas foram mortas, outras duzentas ficaram feridas. Foi o ataque terrorista mais mortal na história do conflito. A oposição foi tão poderosa que o IRA Autêntico sentiu-se obrigado a divulgar um pedido de desculpas. De alguma forma, o processo de paz foi mantido. Depois de trinta anos de sangue e bombas, o povo da Irlanda do Norte finalmente se cansou.
— E, então, a imprensa e as famílias das vítimas começaram a fazer perguntas desconfortáveis — disse Seymour. — Como o IRA Autêntico conseguiu plantar uma bomba no meio de Omagh sem o conhecimento da polícia e dos serviços de segurança? E por que ninguém foi preso?
— O que você fez?
— Fizemos o que sempre fazemos. Fechamos as fileiras, queimamos nossos arquivos e esperamos a tempestade passar.
Seymour se levantou, carregou sua taça até a cozinha e tirou a garrafa de Gavi da geladeira.
— Você tem algo mais forte que isso?
— Como o quê?
— Algo destilado.
— Eu prefiro tomar acetona a bebidas destiladas.
— Acetona com alguma coisa poderia funcionar. — Seymour serviu um pouco de vinho em sua taça e colocou a garrafa na pia.
— O que aconteceu com Quinn depois de Omagh?
— Quinn começou a trabalhar sozinho. Quinn se tornou internacional.
— Que tipo de trabalho ele faz?
— O de sempre — respondeu Seymour. — Trabalho de segurança para bandidos e ditadores, clínicas de fabricação de bombas para revolucionários e dementes religiosos. Conseguimos encontrá-lo de vez em quando, mas na maior parte do tempo ele voa abaixo do nosso radar. Então, o chefe da inteligência iraniana o convidou a ir a Teerã, e foi quando o Boulevard Rei Saul entrou em cena.
Seymour abriu as travas de sua maleta, tirou uma única folha de papel e colocou sobre a mesinha. Gabriel olhou para o documento e franziu a testa.
— Outra violação do protocolo do Escritório.
— O quê?
— Carregar documentos confidenciais do Escritório em uma maleta insegura.
Gabriel pegou o documento e começou a ler. Afirmava que Eamon Quinn, ex-membro do IRA Autêntico, organizador do ataque terrorista de Omagh, tinha sido retido pela inteligência iraniana para desenvolver bombas muito letais para serem usadas contra forças britânicas e norte-americanas no Iraque. O mesmo Eamon Quinn tinha realizado um serviço parecido para o Hezbollah, no Líbano; e o Hamas, na Faixa de Gaza. Além disso, tinha viajado ao Iêmen, onde ajudou a Al-Qaeda, na península arábica, a construir uma pequena bomba líquida que poderia ser colocada dentro de um avião norte-americano. Ele era, dizia o relatório em seu parágrafo de conclusão, um dos homens mais perigosos do mundo e precisava ser eliminado imediatamente.
— Você deveria aceitar o conselho do Uzi.
— É fácil ver isso agora — respondeu Seymour. — Mas eu não seria tão superficial. Afinal, Uzi teria provavelmente dado o trabalho para você.
Gabriel metodicamente rasgou o documento em pequenos pedaços.
— Isso não é suficiente — disse Seymour.
— Vou queimar mais tarde.
— Faça um favor e queime Eamon Quinn junto.
Gabriel ficou em silêncio por um momento.
— Meus dias no campo terminaram — disse ele, finalmente. — Trabalho no escritório agora, Graham, como você. Além disso, a Irlanda do Norte nunca foi minha praia.
— Então acho que teremos de encontrar um parceiro para você. Alguém que conhece o lugar. Alguém que pode passar por residente se for necessário. Alguém que realmente conhece Eamon Quinn pessoalmente.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição?
— Não — falou Gabriel enfaticamente.
— Eu conheço — respondeu Seymour. — Mas tem um pequeno problema.
— Qual?
Seymour sorriu e disse:
— Ele está morto.
8
VIA GREGORIANA, ROMA
– ESTARÁ MESMO?
Seymour retirou duas fotografias de sua maleta e colocou uma na mesa de café. Mostrava um homem de altura e corpo médios caminhando pelo controle de passaporte no aeroporto de Heathrow, em Londres.
— Você o reconhece? — perguntou Seymour.
Gabriel não falou nada.
— É você, claro. — Seymour apontou para a hora na base da imagem. — Foi tirada no inverno passado durante o caso Madeline Hart. Você entrou no Reino Unido sem ser anunciado para fazer algumas pesquisas.
— Eu estava lá, Graham. Lembro bem.
— Então você também vai lembrar que começou sua pesquisa para Madeline Hart na ilha da Córsega, um ponto de início lógico porque foi onde ela desapareceu. Logo depois da sua chegada, você foi ver um homem chamado Anton Orsati. Dom Orsati dirige a família do crime organizado mais poderosa da ilha, uma família que se especializou em matar por encomenda. Ele entregou a você uma informação valiosa sobre os sequestradores dela. Também permitiu que você pegasse emprestado o melhor assassino dele. — Seymour sorriu. — Isso o faz lembrar algo?
— Obviamente, estavam me espionando.
— De uma distância discreta. Afinal, você estava procurando a amante do primeiro-ministro britânico para mim.
— Ela não era só a amante dele, Graham. Era...
— Esse assassino da Córsega é uma pessoa interessante — interrompeu Seymour. — Na verdade, ele não é da Córsega, apesar de conseguir falar com o sotaque de um local. É inglês, ex-membro do Special Air Service que escapou do campo de batalha no Iraque, em janeiro de 1991, depois de um incidente envolvendo fogo amigo. Os militares britânicos acreditam que está morto. Infelizmente, os pais dele também acham. Mas, claro, você já sabia disso.
Seymour colocou a segunda fotografia na mesinha. Como a primeira, mostrava um homem caminhando no aeroporto de Heathrow. Ele era vários centímetros mais alto que Gabriel, com cabelo loiro curto, pele da cor de couro e ombros quadrados e fortes.
— Foi tirada no mesmo dia da primeira foto, alguns minutos depois. Seu amigo entrou no país com um passaporte francês falso, um dos muitos que ele possui. Nesse dia em especial, ele era Adrien Leblanc. Seu nome verdadeiro é...
— Eu já entendi o que você quer, Graham.
Seymour juntou as duas fotos e entregou a Gabriel.
— O que devo fazer com elas?
— Guarde como lembrança da sua amizade.
Gabriel rasgou as fotos no meio e colocou-as perto dos pedaços do memorando do Escritório.
— Há quanto tempo você sabe?
— A inteligência britânica ouve rumores há anos sobre um inglês trabalhando na Europa como assassino profissional. Nunca conseguimos descobrir seu nome. E nunca, em nossos sonhos mais loucos, imaginamos que ele poderia ser um membro pago do Escritório.
— Ele não é um membro pago.
— Como você o descreveria?
— Um velho adversário que agora é um amigo.
— Adversário?
— Um consórcio de banqueiros suíços já o contratou para me matar.
— Considere-se afortunado — falou Seymour. — Christopher Keller raramente falha em cumprir seus contratos. Ele é muito bom no que faz.
— Ele fala muito bem de você também, Graham.
Seymour ficou sentado em silêncio enquanto uma sirene tocava e desaparecia na rua lá embaixo.
— Keller e eu éramos próximos — ele falou finalmente. — Eu lutava contra o IRA do conforto da minha mesa e Keller estava do lado mais duro. Ele fazia tudo que fosse necessário para manter a Grã-Bretanha segura. E, no final, pagou um preço terrível por isso.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Vou deixar que o Keller conte essa parte da história. Não tenho certeza se posso contar melhor que ele.
Uma rajada de vento fez a chuva bater forte contra a janela. As luzes da sala piscaram.
— Não concordei com nada ainda, Graham.
— Mas vai. Ou — acrescentou Seymour — vou arrastar seu amigo de volta à Grã-Bretanha preso e entregá-lo ao Governo de Sua Majestade para ser processado.
— Com que acusações?
— É desertor e assassino profissional. Tenho certeza de que vamos pensar em alguma coisa.
Gabriel apenas sorriu.
— Um homem em sua posição não deveria fazer ameaças vazias.
— Não estou fazendo.
— Christopher Keller sabe muito sobre a vida privada do primeiro-ministro britânico para que o HMG tente processá-lo por deserção ou qualquer outra coisa. Além disso, suspeito que você tenha outros planos para ele.
Seymour não falou nada. Gabriel perguntou:
— O que você tem na sua maleta?
— Um arquivo grosso do histórico de Eamon Quinn.
— O que quer que a gente faça?
— O que deveríamos ter feito há muitos anos. Tirá-lo do mercado o mais rápido possível. E, falando nisso, descubra quem ordenou e financiou a operação para matar a princesa.
— Talvez Quinn tenha voltado à luta.
— A luta por uma Irlanda unida? — Seymour balançou a cabeça. — Essa luta terminou. Se eu tivesse que adivinhar, ele a matou em nome de alguns de seus patrões. E nós dois conhecemos a regra fundamental quando se trata de assassinatos. Não é importante quem puxa o gatilho, mas quem paga a bala.
Outra rajada de vento bateu contra a janela. As luzes diminuíram e depois morreram. Os dois espiões ficaram sentados na escuridão por vários minutos, nenhum dos dois falou nada.
— Quem falou isso? — Gabriel perguntou finalmente.
— Falou o quê?
— Essa coisa da bala.
— Acho que foi o Ambler.
Houve um silêncio.
— Tenho outros planos, Graham.
— Eu sei.
— Minha esposa está grávida. Muito grávida.
— Então você vai ter de trabalhar rápido.
— Acho que o Uzi já aprovou.
— Foi ideia dele.
— Lembre-me de dar uma tarefa horrível ao Uzi assim que eu assumir como chefe.
Um raio iluminou o riso de Seymour. Então, a escuridão voltou.
— Acho que vi umas velas na cozinha quando estava procurando o saca-rolha.
— Gosto da escuridão — falou Gabriel. — Clareia meu pensamento.
— No que você está pensando?
— Estou pensando no que vou dizer para minha esposa.
— Algo mais?
— Sim — falou Gabriel. — Estou pensando como Quinn sabia que a princesa estaria naquele barco.
9
BERLIM — CÓRSEGA
O HOTEL SAVOY ESTAVA EM uma região meio decadente de uma das ruas que estavam mais na moda em Berlim. Um tapete vermelho se esticava de sua entrada; mesas vermelhas ficavam debaixo de guarda-sóis vermelhos na frente da fachada. Na tarde anterior, Keller tinha visto um ator famoso tomando café ali, mas agora, quando saiu do hotel, as mesas estavam desertas. As nuvens estavam baixas e pesadas, havia um vento frio arrancando as últimas folhas das árvores alinhadas na calçada. O breve outono de Berlim estava acabando. Logo seria inverno de novo.
— Táxi, monsieur?
— Não, obrigado.
Keller colocou uma nota de cinco euros na mão esticada do manobrista e saiu caminhando. Ele tinha se registrado no hotel com um nome francês — a gerência tinha a impressão de que era um jornalista freelancer que escrevia sobre cinema — e ficou só uma noite. Ele tinha passado a noite anterior em um hotel modesto chamado Seifert e, antes disso, ficara acordado à noite em uma triste pensão chamada Bella Berlin. Os três estabelecimentos tinham uma coisa em comum: estavam perto do hotel Kempinski, que era o destino de Keller. Ali, ele ia encontrar um homem, um líbio, antigo funcionário de Kadafi que tinha fugido para a França com duas malas cheias de dinheiro e joias depois da revolução. O líbio tinha investido dois milhões de dólares com alguns empresários franceses depois de receber garantias de um lucro substancial. Os empresários franceses já estavam preocupados com sua associação com o líbio. Estavam preocupados também com sua reputação de violência no passado, pois diziam que o líbio costumava gostar de enfiar pregos nos olhos dos oponentes do regime. Os empresários franceses tinham procurado a ajuda de Dom Anton Orsati e ele tinha dado a tarefa a seu assassino mais eficiente. Keller teve de admitir que ficou animado. Ele nunca gostou do agora falecido ditador líbio ou dos capangas que tinham mantido seu regime no poder. Kadafi tinha permitido que todo tipo de terrorista treinasse em seus campos no deserto, incluindo os membros do IRA Provisório. Também tinha fornecido armas e explosivos ao IRA. Na verdade, quase todo Semtex usado nas bombas do IRA tinha vindo diretamente da Líbia.
Keller cruzou a Kantstrasse e desceu a rampa de um estacionamento no subsolo. No segundo nível, em uma parte da garagem sem câmeras de segurança, havia uma BMW preta deixada para ele por um membro da organização Orsati. No porta-malas havia uma pistola Heckler & Koch 9mm com um silenciador; no porta-luvas havia um cartão que abriria a porta de qualquer quarto no hotel Kempinski. O cartão tinha sido adquirido por cinco mil euros de um gambiano que trabalhava na lavanderia do hotel. O gambiano tinha garantido ao homem da organização que o cartão continuaria operacional por outras 48 horas. Depois disso, os códigos passavam por uma mudança de rotina, e a segurança do hotel daria novos cartões a todos os principais funcionários. Keller esperava que o gambiano estivesse falando a verdade. Ou haveria logo uma vaga na lavanderia do Kempinski.
Keller enfiou a arma e o cartão na maleta. Então colocou a mochila no porta-malas da BMW e subiu a rampa de volta para a rua. O Kempinski ficava a cerca de cem metros seguindo pela Fasanenstrasse; um grande hotel com luzes brilhantes estilo Las Vegas na entrada e um café estilo francês de frente para a Kurfürstendamm. Em uma das mesas estava sentado o líbio. Estava acompanhado de um homem de uns sessenta anos e uma mulher que já tinha sido bonita, com cabelo bem escuro e maquiagem estilo Cleópatra. O homem parecia um velho camarada da corte de Kadafi; a mulher parecia muito bem cuidada e bastante entediada. Keller presumiu que pertencia ao amigo, pois o líbio gostava de suas mulheres loiras, profissionais e caras.
Keller entrou no hotel, sabendo que várias câmeras de segurança o observavam. Não importava; ele estava usando uma peruca escura e óculos falsos. Cinco hóspedes do hotel, recém-chegados, julgando pelo jeito deles, estavam esperando um elevador. Keller permitiu que entrassem no primeiro disponível e depois subiu ao quinto andar sozinho, a cabeça baixa de uma forma que a câmera de vigilância não pudesse capturar claramente os traços de seu rosto. Quando as portas se abriram, ele saiu do elevador com o ar de um homem que não estava contente por voltar à solidão de outro quarto de hotel. Um empregado de limpeza o cumprimentou, mas fora isso o corredor estava vazio. O cartão agora estava no bolso de seu casaco. Ele o tirou quando se aproximou do quarto 518 e inseriu na porta. Brilhou uma luz verde, a trava eletrônica abriu. O gambiano iria viver mais um dia.
O quarto tinha sido recentemente arrumado. Mesmo assim, o cheiro da horrível colônia do líbio persistia. Keller foi até a janela e olhou para a rua. O líbio e seus dois acompanhantes ainda estavam na mesa deles no café, apesar de a mulher parecer cansada. Desde que Keller tinha passado por eles, haviam tirado seus pratos e o café tinha sido servido. Dez minutos, ele pensou. Talvez menos.
Ele se afastou da janela e calmamente revisou o quarto. O Kempinski se achava superior, mas era realmente bastante comum: uma cama dupla, uma mesinha, um aparelho de televisão, um guarda-roupas. As paredes eram grossas o suficiente para abafar todo som dos quartos adjacentes, apesar de que não seriam grossas o suficiente para aguentar uma bala normal, mesmo uma bala que tivesse penetrado um corpo humano. Como resultado, a HK de Keller estava usando balas de ponta côncava de 124 grãos que se expandiam na hora do impacto. Qualquer bala que acertasse o alvo ficaria ali. E na improvável hipótese de que Keller errasse, a bala iria se alojar tranquilamente na parede com um barulho fraco.
Ele voltou à janela e viu que o líbio e seus dois acompanhantes estavam de pé. O homem de talvez sessenta anos estava apertando a mão do líbio; a mulher que já tinha sido bonita com cabelo escuro estava olhando com esperanças para as lojas exclusivas alinhadas na Ku-Damm. Keller puxou as cortinas pesadas, se sentou na poltrona azul-marinho, e tirou a HK da maleta. Do corredor veio o barulho do carrinho da mulher da limpeza. Então, tudo ficou em silêncio. Ele olhou para o relógio e marcou o tempo. Cinco minutos, pensou. Talvez menos.
Um sol benevolente brilhava forte sobre a ilha da Córsega quando a balsa noturna de Marselha entrou no porto de Ajaccio. Keller saiu do barco com os outros passageiros e caminhou até o estacionamento onde tinha deixado sua velha van Renault. Havia muita poeira cobrindo as janelas e o capô. Keller pensou que a poeira era um mau sinal. O mais provável é que o sirocco tivesse trazido do norte da África. Instintivamente, ele tocou o pequeno coral vermelho pendurado ao redor de seu pescoço por um fio de couro. Quem é da Córsega acredita que o talismã tem o poder de afastar o occhju, o mau-olhado. Keller acreditava também, apesar da presença de poeira do norte da África no carro aquela manhã depois de ter matado o líbio sugerisse que o talismã não tinha conseguido protegê-lo. Havia uma velha na sua vila, uma signadora, que tinha o poder de retirar o mal do corpo dele. Keller não queria vê-la, pois a velha também tinha o poder de olhar tanto o passado quanto o futuro. Era uma das poucas pessoas na ilha que sabiam a verdade sobre ele. Conhecia sua longa litania de pecados e erros, e até afirmava saber quais serão a hora e as circunstâncias de sua morte. Era uma das coisas que se recusava a contar.
— Não devo fazer isso — ela sussurrava para ele sob a luz da vela. — Além disso, saber como a vida termina só poderia arruinar a história.
Keller sentou atrás do volante do Renault e desceu para a costa ocidental acidentada da ilha, o mar azul turquesa à sua direita, os altos picos do interior à sua esquerda. Para passar o tempo, ele ouvia as notícias no rádio. Não havia nada sobre um líbio morto em um hotel de luxo em Berlim. Keller duvidava que o corpo já tivesse sido encontrado. Ele tinha cometido o ato em silêncio e, ao deixar o quarto, havia pendurado a plaquinha de “Não Perturbe” na maçaneta. Em algum momento, a gerência do Kempinski teria de bater à porta. E, depois de não receber nenhuma resposta, teriam de entrar no quarto e encontrar um valioso hóspede com dois buracos de bala no coração e um terceiro no centro da testa. A gerência imediatamente ligaria para a polícia, claro, e uma busca ligeira iria começar por um homem de cabelo escuro e bigode que tinha sido visto entrando no quarto. Eles conseguiriam rastrear seus movimentos imediatamente depois do assassinato, mas a pista esfriaria na tristeza arborizada do Tiergarten. A polícia nunca conseguiria estabelecer sua identidade. Alguns suspeitariam que fosse líbio como sua vítima, mas poucos dos veteranos mais espertos especulariam que era o mesmo profissional muito caro que há anos matava na Europa. E, então lavariam suas mãos, pois sabiam que assassinatos cometidos por assassinos profissionais raramente eram resolvidos.
Keller seguiu a costa até a cidade de Porto e depois virou para o interior. Era domingo; as estradas estavam calmas e, nas cidades de colinas, tocavam os sinos das igrejas. No centro da ilha, perto do seu ponto mais alto, estava o pequeno vilarejo dos Orsati. Estava ali, era o que diziam, desde a época dos vândalos, quando as pessoas da costa subiram às colinas por segurança. O tempo parecia ter parado naquele lugar. As crianças brincavam nas ruas sempre porque não havia predadores. Nem havia nenhum narcótico ilegal, pois nenhum traficante se arriscaria a sentir a ira dos Orsati por colocar drogas na vila deles. Nunca acontecia nada ali, e às vezes não havia muito trabalho. Mas era limpa, bonita e segura, e os habitantes pareciam contentes em comer bem, beber vinho e passar tempo com seus filhos e seus idosos. Keller sempre sentia falta deles quando ficava muito tempo longe da Córsega. Ele se vestia como eles, falava o dialeto local e, à noite, quando jogava boules com os homens na praça da vila, balançava a cabeça com desgosto sempre que alguém falava dos franceses ou, Deus perdoe, dos italianos. No passado, as pessoas da vila o chamavam de “Inglês”. Agora ele era somente Christopher. Era um deles.
A histórica propriedade do clã Orsati estava pouco além da vila, em um pequeno vale de oliveiras que produzia o melhor azeite da ilha. Dois guardas armados cuidavam da entrada; eles tocaram seus chapéus típicos respeitosamente quando Keller cruzou o portão e começou a longa subida até a casa. Pinheiros-larício cobriam a entrada, mas no jardim murado a luz brilhante do sol iluminava a longa mesa que tinha sido colocada para o tradicional almoço de domingo da família. Por enquanto, a mesa estava vazia. O clã ainda estava na missa, e o Dom, que não pisava mais na igreja, estava no andar de cima, em seu escritório. Ele estava sentado em uma grande mesa de madeira, olhando um livro aberto com capa de couro, quando Keller entrou. Perto de seu cotovelo havia uma garrafa decorativa do azeite de oliva Orsati — azeite de oliva era o negócio legítimo através do qual o Dom lavava os lucros da morte.
— Como estava Berlim? — ele perguntou sem levantar a cabeça.
— Fria — respondeu Keller. — Mas produtiva.
— Alguma complicação?
— Não.
Orsati sorriu. A única coisa que ele detestava mais que complicações eram os franceses. Fechou o livro e olhou para o rosto de Keller. Como sempre, Dom Orsati estava vestido com uma camisa branca bem passada, calças folgadas de algodão claro e sandálias de couro que pareciam ter sido compradas no mercado local, o que era verdade. Seu bigode pesado tinha sido aparado e sua cabeça com cabelos escuros e toques grisalhos brilhava com gel. O Dom sempre cuidava muito de sua aparência aos domingos. Ele não acreditava mais em Deus, mas insistia em manter o descanso sagrado. Evitava palavrões no dia do Senhor, tentava pensar em coisas boas e, mais importante, proibia que seus taddunaghiu, seus matadores, cumprissem os contratos. Mesmo Keller, que tinha sido criado como anglicano e era, por isso, considerado um herege, seguia as regras do Dom. Recentemente, ele tinha sido forçado a passar mais uma noite em Varsóvia porque Dom Orsati não deu permissão para que matasse o alvo, um mafioso russo, no dia de descanso.
— Você vai ficar para almoçar — o Dom estava falando.
— Obrigado, Dom Orsati — disse Keller formalmente —, mas não quero incomodar.
— Você? Incomodar? —O homem fez um gesto com a mão.
— Estou cansado — falou Keller. — Foi uma viagem complicada.
— Você não dormiu na balsa?
— Evidentemente — disse Keller —, você não viajou em uma balsa recentemente.
Era verdade. Anton Orsati raramente se aventurava além das paredes bem guardadas de sua propriedade. O mundo o procurava com seus problemas, e ele os resolvia — por um valor substancial, claro. Pegou um envelope grosso e colocou na frente de Keller.
— O que é isso?
— Considere um bônus de Natal.
— É outubro.
Dom deu de ombros. Keller levantou a aba do envelope e olhou dentro. Estava cheio de maços de notas de cem euros. Abaixou a aba e empurrou o envelope para o centro da mesa.
— Aqui na Córsega — disse Dom, franzindo a testa —, é falta de educação recusar um presente.
— O presente não é necessário.
— Aceite, Christopher. Você merece.
— Você me fez ser rico, Dom Orsati, mais rico do que achei que seria possível.
— Mas?
Keller ficou sentado em silêncio.
— Em boca fechada não entra mosca nem comida — disse Dom, citando um provérbio da Córsega, dos muitos que conhecia.
— O que quer dizer?
— Fale, Christopher. Conte-me o que o incomoda.
Keller estava olhando o dinheiro, conscientemente evitando o olhar do Dom.
— Está chateado com seu trabalho?
— Não é isso.
— Talvez você devesse dar uma parada. Poderia concentrar suas energias no lado legítimo do negócio. Há muito dinheiro para ganhar aí.
— Azeite de oliva não é a resposta, Dom Orsati.
— Então há um problema.
— Não falei isso.
— Não precisa. — Dom olhou para Keller cuidadosamente. — Quando você arrancar o dente, Christopher, vai parar de doer.
— A menos que tenha um péssimo dentista.
— A única coisa pior que um péssimo dentista é uma péssima companhia.
— É melhor estar sozinho — falou Keller filosoficamente — do que ter péssimas companhias.
Dom sorriu.
— Você pode ter nascido inglês, Christopher, mas tem alma de corso.
Keller se levantou. O Dom empurrou o envelope pela mesa.
— Tem certeza de que não quer ficar para almoçar?
— Tenho planos.
— Quaisquer que forem — disse Dom —, terão de esperar.
— Por quê?
— Tem um visitante.
Keller não precisou perguntar o nome do visitante. Havia poucas pessoas no mundo que sabiam que ele ainda estava vivo e só uma que ousaria aparecer sem avisar antes.
— Quando ele chegou?
— Ontem à noite — respondeu Dom.
— O que ele quer?
— Não tinha liberdade para contar. — Dom olhou para Keller analisando-o profundamente. — É minha imaginação — perguntou finalmente — ou seu humor melhorou de repente?
Keller saiu sem responder. Dom Orsati ficou olhando-o se afastar. Então, olhou para a mesa e xingou baixinho. O inglês tinha se esquecido de levar o envelope.
10
CÓRSEGA
CHRISTOPHER KELLER SEMPRE TINHA muito cuidado com seu dinheiro. Pelos próprios cálculos, ele ganhara mais de vinte milhões de dólares trabalhando para Dom Anton Orsati e, através de investimentos prudentes, tinha se tornado muito rico. A maior parte de sua fortuna estava em bancos em Genebra e Zurique, mas havia também contas em Mônaco, Liechtenstein, Bruxelas, Hong Kong e nas Ilhas Caimã. Ele até mantinha uma pequena quantidade de dinheiro em um banco com boa reputação em Londres. Seu gerente de conta britânico acreditava que era um residente recluso da Córsega que, como Dom Orsati, pouco saía da ilha. O governo da França tinha a mesma opinião. Keller pagava impostos de seus ganhos legítimos e de um respeitável salário que recebia da Orsati Olive Oil Company, onde era diretor de vendas para a Europa central. Votava nas eleições francesas, doava a instituições de caridade francesas, torcia por times franceses e, de vez em quando, tinha sido forçado a utilizar os serviços da saúde pública francesa. Nunca tinha sido acusado de nenhum tipo de crime, uma conquista importante para um homem do sul, e seu registro no departamento de trânsito era impecável. No geral, com uma exceção significativa, Christopher Keller era um cidadão-modelo.
Esquiador e montanhista habilidoso, foi o dono silencioso de um chalé nos Alpes franceses por algum tempo. No momento, ele mantinha uma única residência, uma casa de campo de proporções modestas em um local depois do vale dos Orsati. A casa tinha paredes exteriores marrom-amareladas, telhado de telhas vermelhas, uma grande piscina e um amplo terraço que recebia o sol de manhã e, à tarde, ficava protegido pelos pinheiros. Dentro, os quartos largos eram confortavelmente decorados com móveis rústicos em branco, bege e amarelo. Havia muitas estantes cheias de livros sérios — Keller tinha estudado brevemente história militar em Cambridge e era um leitor voraz de política e questões contemporâneas — e nas paredes havia pendurada uma coleção modesta de quadros modernos e impressionistas. O trabalho mais valioso era uma pequena paisagem de Monet, que Keller, através de um intermediário, tinha comprado em um leilão da Christie’s, em Paris. Parado na frente dele agora, uma mão descansando no queixo, a cabeça meio de lado, estava Gabriel. Ele lambeu a ponta do dedo, esfregou na superfície e balançou a cabeça lentamente.
— Algo errado? — perguntou o inglês.
— A superfície está coberta de sujeira. Você realmente deveria me deixar limpá-lo. Só vai demorar uns...
— Gosto dele assim.
Gabriel limpou o dedo em seu jeans e se virou para Keller. O inglês era dez anos mais jovem que Gabriel, dez centímetros mais alto, e 13 quilos mais pesado, especialmente em ombros e braços, onde carregava uma quantidade letal de força e massa bem esculpidas. Seu cabelo curto era loiro desbotado pelo mar; sua pele era muito bronzeada pelo sol. Ele tinha olhos azuis brilhantes, rosto quadrado, e um queixo grosso com um furo no centro. Sua boca parecia fixada permanentemente em um sorriso debochado. Keller era um homem sem lealdade, sem medo e sem moral, exceto quando se tratava de questões de amizade e amor. Tinha vivido segundo as próprias regras e de certa forma tinha saído ganhando.
— Achei que estaria em Roma — ele falou.
— Eu estava — respondeu Gabriel. — Mas Graham Seymour apareceu na cidade. Ele tinha algo que queria me mostrar.
— O que era?
— A fotografia de um homem caminhando pelo aeroporto de Heathrow.
O meio sorriso de Keller desapareceu, seus olhos azuis se entrecerraram.
— Quanto ele sabe?
— Tudo, Christopher.
— Estou em perigo?
— Isso depende.
— Do quê?
— De você concordar em fazer um trabalho para ele.
— O que ele quer?
Gabriel sorriu.
— O que você faz melhor.
Do lado de fora, o sol ainda dominava o terraço de Keller. Eles se sentaram em duas cadeiras de jardim confortáveis, uma pequena mesa de ferro forjado entre eles. Sobre ela, o grosso arquivo de Graham Seymour acerca dos trabalhos de Eamon Quinn. Keller ainda não tinha aberto ou olhado. Estava ouvindo, interessado, Gabriel contar do papel de Quinn no assassinato da princesa.
Quando Gabriel terminou, Keller pegou a fotografia de sua recente passagem pelo aeroporto de Heathrow.
— Você me deu sua palavra — ele falou. — Jurou que nunca ia contar a Graham que estávamos trabalhando juntos.
— Não precisei contar. Ele já sabia.
— Como?
Gabriel explicou.
— Bastardo desonesto— murmurou Keller.
— Ele é britânico — falou Gabriel. — É algo natural.
Keller olhou cuidadosamente para Gabriel por um momento.
— É engraçado — ele falou —, mas você não parece muito chateado com a situação.
— É uma oportunidade interessante para você, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava o meio-dia. Keller colocou a fotografia em cima do arquivo e acendeu um cigarro.
— Você precisa? — perguntou Gabriel, afastando a fumaça com a mão.
— Que escolha eu tenho?
— Você pode parar de fumar e acrescentar vários anos à sua vida.
— Em relação ao Graham — disse Keller, exasperado.
— Acho que pode ficar aqui na Córsega e esperar que ele não decida contar sobre você aos franceses.
— Ou?
— Pode me ajudar a encontrar Eamon Quinn.
— E depois?
— Pode voltar para casa, Christopher.
Keller apontou o vale com a mão e disse:
— Esta é a minha casa.
— Não é real, Christopher. É uma fantasia. É uma invenção.
— Você também é.
Gabriel sorriu, mas não disse nada. O sino da igreja tinha ficado em silêncio; as sombras da tarde estavam se juntando na beira do terraço. Keller esmagou o cigarro e olhou para o arquivo fechado.
— Leitura interessante? — ele perguntou.
— Bastante.
— Reconhece alguém?
— Um homem do MI5 chamado Graham Seymour — falou Gabriel — e um oficial da SAS que é chamado somente por seu codinome.
— Qual é?
— Mercador.
— Sugestivo.
— Também achei.
— O que fala sobre ele?
— Diz que operou em segredo em Belfast Oeste por cerca de um ano no final dos anos oitenta.
— Por que parou?
— Seu disfarce foi descoberto. Aparentemente, houve uma mulher envolvida.
— Menciona o nome dela? — perguntou Keller.
— Não.
— O que aconteceu em seguida?
— Mercador foi sequestrado pelo IRA e levado a uma fazenda remota para ser interrogado e executado. A fazenda era no condado de Armagh. Quinn estava lá.
— Como terminou?
— Mal.
Uma rajada de vento dobrou o pinheiro. Keller olhou para o vale corso como se estivesse escapando de seu controle. Aí, acendeu outro cigarro e contou a Gabriel o resto da história.
11
CÓRSEGA
FOI A HABILIDADE DE Keller com idiomas que o destacou — não idiomas estrangeiros, mas as várias formas em que o Inglês é falado nas ruas de Belfast e nos seis condados da Irlanda do Norte. As sutilezas dos sotaques locais fizeram com que fosse quase impossível para os oficiais da SAS trabalharem sem serem detectados dentro das pequenas e muito conectadas comunidades da província. Como resultado, a maioria dos homens da SAS era forçada a usar os serviços de um Fred — o termo do regimento para um ajudante local — quando seguiam membros do IRA ou realizavam vigilância nas ruas. Mas não Keller. Ele desenvolveu a capacidade de imitar os vários dialetos de Ulster com a velocidade e a confiança de um nativo. Ele podia até mudar de sotaque de repente — um católico de Armagh um minuto, um protestante da Shankill Road de Belfast no seguinte, depois um católico de Ballymurphy. Suas habilidades linguísticas foram notadas por seus superiores. Nem demorou muito para eles perceberem um ambicioso oficial de inteligência que dirigia o MI5 na Irlanda do Norte.
— Presumo— falou Gabriel — que o jovem oficial do MI5 era Graham Seymour.
Keller assentiu. Então, explicou que Seymour, no final dos anos oitenta, estava insatisfeito com o nível das informações que estava recebendo dos informantes do MI5 na Irlanda do Norte. Ele queria inserir o próprio agente nas fileiras do IRA de Belfast Oeste para informar sobre os movimentos e associações de conhecidos comandantes e voluntários do IRA. Não era um trabalho para um oficial comum do MI5. O agente teria de saber como se virar em um mundo onde um passo em falso, um olhar errado, poderia matar um homem. Keller se encontrou com Seymour em uma casa segura em Londres e aceitou a missão. Dois meses depois, ele estava de volta a Belfast fingindo ser Michael Connelly, um católico. Alugou um apartamento de dois quartos na Divis Tower, em Falls Road. Seu vizinho era membro da brigada do IRA de Belfast Oeste. O exército britânico mantinha um posto de observação no telhado e usava os dois últimos andares como escritório e depósito. Quando os conflitos estavam no auge, os soldados entravam e saíam de helicóptero.
— Era uma loucura — disse Keller, balançando a cabeça devagar. — Loucura total.
Enquanto boa parte de Belfast Oeste estava desempregada e recebendo seguro-desemprego, Keller logo encontrou trabalho como entregador de uma lavanderia em Falls Road. O emprego permitia que se movesse livremente pela vizinhança e enclaves de Belfast Oeste sem levantar suspeitas, e dava acesso às casas e roupas de conhecidos membros do IRA. Era uma conquista impressionante, mas não foi por acaso. A lavanderia era propriedade da inteligência britânica, que a operava.
— Era uma das operações mais controladas — disse Keller. — Nem o primeiro-ministro sabia dela. Tínhamos uma pequena frota de vans, equipamento de escuta e um laboratório nos fundos. Testávamos toda roupa que chegava em nossas mãos buscando traços de explosivos. E, se tínhamos um positivo, colocávamos o dono e sua casa sob vigilância.
Gradualmente, Keller começou a fazer amizades com membros da disfuncional comunidade ao redor dele. Seu vizinho do IRA o convidou para jantar, e, uma vez, em um bar do IRA em Falls Road, um recrutador fez um convite não tão sutil, o qual Keller recusou educadamente. Ele ia regularmente à missa na igreja de S. Paul — como parte de seu treinamento, tinha aprendido os rituais e doutrinas do catolicismo — e, em um domingo úmido em Lent, conheceu uma linda jovem chamada Elizabeth Conlin. Seu pai era Ronnie Conlin, um comandante de campo do IRA em Ballymurphy.
— Um personagem sério— disse Gabriel.
— O mais sério.
— Você decidiu investir na relação.
— Não tive muita escolha na questão.
— Estava apaixonado por ela.
Keller assentiu lentamente.
— Como você se encontrava com ela?
— Costumava entrar escondido em seu quarto. Ela pendurava um lenço violeta na janela se fosse seguro. Era uma casa com terraço e paredes finas como papel. Eu conseguia ouvir o pai dela no quarto ao lado. Era...
— Uma loucura — disse Gabriel.
Keller não falou nada.
— Graham sabia?
— Claro.
— Contou a ele?
— Não precisei. Eu estava sob constante vigilância do MI5 e da SAS.
— Presumo que ele mandou você romper com ela.
— Em termos bem diretos.
— O que você fez?
— Concordei — respondeu Keller. — Com uma condição.
— Quis vê-la uma última vez.
Keller ficou em silêncio e, quando finalmente falou, sua voz tinha mudado. Usava as vogais alongadas e os toques duros da classe trabalhadora de Belfast Oeste. Ele não era mais Christopher Keller, era Michael Connelly, o entregador de roupas de Falls Road que tinha se apaixonado pela linda filha de um chefe do IRA de Ballymurphy. Em sua última noite em Ulster, ele deixou a van em Springfield Road e escalou o muro do jardim da casa de Conlin. O lenço violeta estava pendurado no lugar de sempre, mas o quarto de Elizabeth estava escuro. Keller levantou a janela sem fazer barulho, abriu as cortinas e entrou. Instantaneamente, recebeu um golpe na cabeça, como se fosse a ponta de um machado e começou a perder a consciência. A última coisa que se lembra antes de desmaiar foi o rosto de Ronnie Conlin.
— Estava falando comigo — disse Keller. — Estava dizendo que eu ia morrer.
Keller foi amarrado, amordaçado, encapuzado e enfiado no porta-malas de um carro. Foi levado dos bairros pobres de Belfast Oeste a uma fazenda em Armagh. Lá foi para um celeiro e apanhou muito. Então, foi amarrado a uma cadeira para ser interrogado e julgado. Quatro homens da famosa brigada localdo IRA seriam os jurados. Eamon Quinn seria o promotor, juiz e executor. Ele planejava realizar a sentença com uma faca que tinha roubado de um soldado britânico morto. Quinn era o melhor fabricante de bombas do IRA, um mestre na técnica mas, quando se tratava de assassinato pessoal, ele preferia a faca.
— Ele me falou que se eu cooperasse, minha morte seria razoável. Se não, ele iria me cortar em pedaços.
— O que aconteceu?
— Tive sorte — falou Keller. — Fizeram um péssimo trabalho com as cordas e eu os cortei em pedaços. Foi tão rápido que nem souberam o que os acertou.
— Quantos?
— Dois — respondeu Keller. — Então, consegui pegar uma das armas e atirei em outros dois.
— O que aconteceu com Quinn?
— Quinn sabiamente fugiu. Ele viveu para lutar outro dia.
Na manhã seguinte, o exército britânico anunciou que quatro membros da Brigada de South Armagh tinham sido mortos em uma operação na remota casa segura do IRA. A contagem não fazia nenhuma menção a um oficial da SAS disfarçado chamado Christopher Keller. Nem mencionou um serviço de lavanderia em Falls Road secretamente dirigido pela inteligência britânica. Keller foi levado de volta à Inglaterra para tratamento; a lavanderia foi fechada discretamente. Foi uma grande derrota para os esforços britânicos na Irlanda do Norte.
— E Elizabeth? — perguntou Gabriel.
— Encontraram seu corpo dois dias depois. Rasparam seu cabelo. A garganta foi cortada.
— Quem fez isso?
— Ouvi dizer que foi o Quinn — disse Keller. — Aparentemente, ele insistiu em fazer isso.
Depois de sair do hospital, Keller voltou ao quartel-general da SAS em Hereford para descansar e se recuperar. Ele fazia longas e autopunitivas caminhadas em Brecon Beacons e treinava novos recrutas na arte de matar em silêncio, mas era claro a seus superiores que a experiência em Belfast tinha mudado sua cabeça. Então, em agosto de 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuait. Keller voltou a seu antigo esquadrão Sabre e foi deslocado para o Oriente Médio. Na noite de 28 de janeiro de 1991, enquanto procurava os lançadores de mísseis Scud no deserto ocidental do Iraque, sua unidade foi atacada por uma aeronave da coalizão em um trágico caso de fogo amigo. Só Keller sobreviveu. Com ódio, ele abandonou o campo de batalha e, disfarçado de árabe, cruzou a fronteira para a Síria. De lá, caminhou para o ocidente cruzando Turquia, Grécia e Itália, até finalmente terminar na costa da Córsega, onde caiu nos braços de Dom Anton Orsati.
— Já procurou por ele?
— Quinn?
Gabriel assentiu.
— Dom proibiu.
— Mas isso não o impediu, não é?
— Digamos que segui sua carreira de perto. Sabia que tinha ido com o IRA Autêntico depois dos acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e sabia que foi ele quem plantou aquela bomba no meio de Omagh.
— E quando fugiu da Irlanda?
— Fiz perguntas educadas sobre seu paradeiro. Perguntas mal-educadas, também.
— Alguma delas deu resultado?
— Certamente.
— Mas você nunca tentou matá-lo?
— Não — falou Keller, balançando a cabeça. — Dom proibiu.
— Mas agora você tem uma chance.
— Com a bênção do Serviço Secreto de Sua Majestade. — Keller deu um breve sorriso. — Bastante irônico, não acha?
— Como assim?
— Quinn me tirou do jogo e agora está me levando de volta. — Keller olhou sério para Gabriel por um momento. — Tem certeza de que quer se envolver nisso?
— Por que não iria querer?
— Porque é pessoal — respondeu Keller. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
— Eu me envolvo em coisas pessoais o tempo todo.
— Confusas, também. — As sombras estavam tomando o terraço. O vento fazia ondas na superfície da piscina de Keller. — E se eu fizer isso? — ele perguntou. — E aí?
— Graham vai dar a você uma nova identidade britânica. Um emprego, também. — Gabriel parou.— Se estiver interessado.
— Um emprego fazendo o quê?
— Use sua imaginação.
Keller franziu a testa.
— O que você faria se fosse eu?
— Aceitaria a proposta.
— E desistir de tudo isso?
— Não é real, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava uma hora.
— O que vou dizer ao Dom? — perguntou Keller.
— Infelizmente não posso ajudá-lo com isso.
— Por quê?
— Porque é pessoal — respondeu Gabriel. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
Havia uma balsa partindo de Nice às seis, àquela tarde. Gabriel embarcou às cinco e meia, bebeu um café na cafeteria e foi até o deque de observação para esperar por Keller. Às 17h45 ele não tinha chegado. Mais cinco minutos se passaram sem sinal dele. Então, Gabriel viu um Renault maltratado entrando no estacionamento e um momento depois viu Keller subindo a rampa correndo com uma mochila pendurada nos poderosos ombros. Eles ficaram lado a lado na grade olhando as luzes de Ajaccio diminuindo ao longe. O gentil vento noturno tinha cheiro de macchia, a densa vegetação rasteira de quermes, alecrim e lavanda que cobria boa parte da ilha. Keller respirou fundo antes de acender um cigarro. A brisa carregou sua primeira exalação de fumaça sobre o rosto de Gabriel.
— Você precisa?
Keller não falou nada.
— Estava começando a pensar que tinha mudado de ideia.
— E deixar que você vá sozinho atrás do Quinn?
— Não acha que consigo fazer isso?
— Eu falei isso?
Keller fumou em silêncio por um momento.
— O que o Dom achou?
— Ele recitou muitos provérbios corsos sobre a ingratidão dos filhos. E depois concordou em me deixar partir.
As luzes da ilha estavam ficando mais opacas; o vento tinha cheiro apenas de mar. Keller pegou seu casaco, tirou um talismã corso e entregou a Gabriel.
— Um presente da signadora.
— Não acreditamos nessas coisas.
— Eu aceitaria se fosse você. A velha sugeriu que a coisa poderia ficar feia.
— Feia?
Keller não falou nada. Gabriel aceitou o talismã e o colocou no pescoço. Uma a uma, as luzes da ilha desapareceram. Até a última.
12
DUBLIN
TECNICAMENTE, A OPERAÇÃO EM que Gabriel e Christopher embarcaram no dia seguinte era um trabalho conjunto entre o Escritório e o MI6. O papel britânico era tão secreto, no entanto, que só Graham Seymour sabia dele. Portanto, foi o Escritório que fez os arranjos de viagem e alugou o sedan Škoda que estava esperando no estacionamento do aeroporto de Dublin. Gabriel revisou a parte de baixo antes de entrar no veículo. Keller sentou no banco do passageiro e, franzindo a testa, fechou a porta.
— Não dava para ter conseguido algo melhor que um Škoda?
— É um dos carros mais populares da Irlanda, o que quer dizer que não vai se destacar.
— E as armas?
— Abra o porta-luvas.
Keller abriu. Dentro havia uma Beretta 9mm, carregada, com um pente extra e um silenciador.
— Só uma?
— Não estamos entrando em uma guerra, Christopher.
— É o que você acha.
Keller fechou o porta-luvas, Gabriel enfiou a chave na ignição. O motor hesitou, tossiu e finalmente ligou.
— Ainda acha que deveriam ter alugado um Škoda? — perguntou Keller.
Gabriel colocou o carro em movimento.
— Por onde começamos?
— Ballyfermot.
— Bally onde?
Keller apontou para a placa de saída e disse:
— Bally, para aquele lado.
A República da Irlanda já foi uma terra quase sem crimes violentos. Até o final dos anos sessenta, a força policial da Irlanda, a Garda Síochána, só tinha uns sete mil policiais, e em Dublin havia somente sete carros de patrulha. A maioria dos crimes era leve: arrombamento, batedor de carteira, um ou outro roubo mais violento. E, quando havia violência envolvida, era normalmente alimentada por paixão, álcool ou uma combinação dos dois.
Isso mudou com o início dos conflitos na fronteira com a Irlanda do Norte. Desesperados por dinheiro e armas para lutar contra o exército britânico, o IRA Provisório começou a roubar bancos no sul. Os ladrões pequenos dos bairros pobres de Dublin aprenderam com as táticas dos provos, como eram conhecidos os membros do IRA, e começaram a realizar assaltos à mão armada. A Gardaí, com poucos homens e em situação inferior, foi rapidamente superada pelas ameaças do IRA e dos criminosos locais. Em 1970, a Irlanda não era mais tranquila. Era uma terra de ninguém, onde criminosos e revolucionários operavam com impunidade.
Em 1979, dois eventos improváveis longe da costa da Irlanda aceleraram a decadência do país em um caos social. O primeiro foi a revolução iraniana. O segundo foi a invasão soviética do Afeganistão. Os dois resultaram em uma invasão de heroína barata nas ruas das cidades da Europa ocidental. A droga entrou nos bairros pobres do sul de Dublin em 1980. Um ano depois arrasava os guetos do lado norte. Vidas foram destruídas, famílias foram abaladas e as taxas de crimes aumentaram quando viciados desesperados tentavam alimentar seu hábito. Comunidades inteiras se tornaram terras destroçadas distópicas, onde junkies se drogavam abertamente nas ruas e os traficantes eram reis.
O milagre econômico dos anos noventa transformou a Irlanda de um dos países mais pobres da Europa em um dos mais ricos mas, com a prosperidade, veio um apetite ainda maior por drogas, especialmente cocaína e ecstasy. Os velhos chefes criminosos abriram caminho a uma nova geração de líderes que realizaram guerras sangrentas para dominar territórios e porções do mercado. Onde os mafiosos irlandeses antes usavam armas de cano serrado para impor a vontade deles, os novos membros da gangue se armavam com AK-47 e outros armamentos pesados. Corpos cheios de balas começaram a aparecer nas ruas dos bairros pobres. De acordo com uma estimativa da Garda, em 2012, 25 gangues de tráfico violentas faziam seu comércio mortal na Irlanda. Várias tinham estabelecido conexões lucrativas com grupos criminosos organizados do exterior, inclusive remanescentes do IRA Autêntico.
— Achei que eram contra as drogas — disse Gabriel.
— Isso pode ser verdade lá em cima — disse Keller, apontando para o norte —, mas aqui embaixo, na República, a história é outra. No fundo, o IRA Autêntico é outra gangue de traficantes. Às vezes negociam diretamente. Às vezes gerenciam redes de proteção. Principalmente, tiram dinheiro de traficantes.
— O que LiamWalsh faz?
— Um pouco de tudo.
A chuva embaçava os faróis de trânsito da hora do rush à noite. O tráfego estava mais leve do que Gabriel tinha esperado. Ele achou que era a economia. A Irlanda tinha caído mais do que todos. Até os traficantes estavam com problemas.
— Walsh era republicano em suas veias — Keller estava falando. — Seu pai era do IRA, assim como seus tios e irmãos. Ele foi com o IRA Autêntico depois da grande divisão, e quando a guerra efetivamente terminou, ele veio a Dublin ganhar sua fortuna no negócio das drogas.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Omagh. — Keller apontou para a direita e disse: — Você tem que virar aqui.
Gabriel guiou o carro até Kennelsfort Road. Havia casas de dois andares com terraços dos dois lados da rua. Não era exatamente o milagre irlandês, mas não era uma favela também.
— Aqui é Ballyfermot?
— Palmerstown.
— Para que lado?
Com um movimento de mão, Keller instruiu Gabriel a continuar em frente. Eles saíram em um parque industrial de armazéns cinzentos baixos e de repente estavam em Ballyfermot Road. Após um tempo, chegaram a uma série de pequenas lojas tristonhas: um outlet, uma loja de roupa de cama, uma ótica, uma lanchonete. Do outro lado da rua havia um supermercado Tesco e próximo a ele havia uma casa de apostas. Quatro homens de casacos de couro preto cuidavam da entrada. Liam Walsh era o menor do grupo. Estava fumando um cigarro; estavam todos fumando. Gabriel entrou no estacionamento do Tesco e ocupou uma vaga. Tinha uma clara visão da casa de apostas.
— Talvez você devesse deixar o motor ligado — falou Keller.
— Por quê?
— Poderia não voltar a ligar.
Gabriel desligou o motor e apagou o farol. A chuva batia forte contra o vidro. Depois de uns segundos, Liam Walsh desapareceu em um caleidoscópio borrado de luz. Então, Gabriel ligou o limpador de para-brisa e Walsh reapareceu. Uma comprida Mercedes preta tinha parado em frente à casa de apostas. Era a única Mercedes na rua, provavelmente a única no bairro. Walsh estava conversando com o motorista pela janela aberta.
— Parece um verdadeiro pilar da comunidade — falou Gabriel em voz baixa.
— É como gosta de se mostrar.
— Então por que está parado em frente a uma casa de apostas?
— Quer que as outras gangues saibam que ele está cuidando da área. Um rival tentou matá-lo nesse mesmo lugar no ano passado. Se você olhar de perto, consegue ver os buracos das balas na parede.
A Mercedes foi embora. Liam Walsh voltou a seu abrigo na entrada.
— Quem são esses rapazes de aparência tão boa com ele?
— Os dois à esquerda são os guarda-costas dele. O outro é o seu segundo em comando.
— IRA Autêntico?
— Até os ossos.
— Armados?
— Certamente.
— Então o que você propõe?
— Vamos esperar que ele se mova.
— Aqui?
Keller balançou a cabeça.
— Se nos virem sentados em um carro estacionado, vão achar que somos da Garda ou membros de uma gangue rival. E, se acharem isso, estamos mortos.
— Então talvez não devêssemos nos sentar aqui.
Keller apontou para a lanchonete do outro lado da rua e saiu. Gabriel o seguiu. Eles caminharam lado a lado na beira da rua, as mãos nos bolsos, cabeças abaixadas por causa da chuva, esperando para atravessar.
— Estão olhando para nós — disse Keller.
— Você notou isso também?
— É difícil não notar.
— Walsh conhece seu rosto?
— Conhece agora.
O trânsito parou; eles cruzaram a estrada e foram até a entrada da lanchonete.
— É melhor você não falar — disse Keller. — Esse não é o tipo de bairro que recebe muitos visitantes de terras exóticas.
— Eu falo um inglês perfeito.
— Esse é o problema.
Keller abriu a porta e entrou primeiro. Era uma sala apertada com um piso de linóleo quebrado e paredes descascando. O ar era pesado com gordura, amido e um cheiro de algodão molhado. Havia uma garota bonita atrás do balcão e uma mesa vazia encostada na janela. Gabriel se sentou de costas para a rua enquanto Keller foi até o balcão e fez seu pedido comum sotaque de alguém do sul de Dublin.
— Muito impressionante — murmurou Gabriel quando Keller se sentou. — Por um minuto pensei que você fosse começar a cantar When Irish Eyes Are Smiling.
— Para aquela garota linda, sou tão irlandês quanto ela.
— É — falou Gabriel, duvidando. — E eu sou o Oscar Wilde.
— Não acha que posso fingir ser irlandês?
— Talvez um que passou umas férias muito longas sob o sol.
— Essa é a minha história.
— Onde você estava?
— Maiorca — respondeu Keller. — Os irlandeses adoram Maiorca, especialmente os mafiosos irlandeses.
Gabriel olhou ao redor do interior do café.
— Eu imagino por quê.
A garota foi até à mesa e depositou um prato de batatas e dois copos de isopor com chá e leite. Quando ela estava se afastando, a porta se abriu e dois homens muito pálidos de vinte e poucos anos entraram. Uma mulher com um casaco úmido e sapatos velhos entrou um momento depois. Os dois homens se sentaram a uma mesa perto de Keller e Gabriel e começaram a falar em um dialeto que Gabriel achou quase impenetrável. A mulher se sentou no fundo da lanchonete. Ela só pediu chá e estava lendo um livro bastante usado.
— O que está acontecendo do lado de fora? — perguntou Gabriel.
— Quatro homens parados na frente de uma casa de apostas. Um homem parece que já está cansado da chuva.
— Onde ele mora?
— Não muito longe — respondeu Keller. — Gosta de morar entre o povo.
Gabriel bebeu um pouco do chá e fez uma careta. Keller empurrou o prato de batatas.
— Coma um pouco.
— Não.
— Por que não?
— Quero viver o suficiente para ver meus filhos nascerem.
— Boa ideia.
Keller sorriu, depois acrescentou:
— Homens da sua idade realmente deveriam se preocupar com o que comem.
— Olha quem fala.
— Quantos anos você tem, exatamente?
— Não consigo me lembrar.
— Problemas de perda de memória?
Gabriel bebeu um pouco do chá. Keller mordiscou as batatas.
— Não são tão boas quanto as fritas do sul da França — falou.
— Pegou o recibo?
— Para que eu precisaria de recibo?
— Ouvi que os contadores do MI6 são muito exigentes.
— Não vamos continuar com isso do MI6 ainda. Não tomei nenhuma decisão.
— Às vezes nossas melhores decisões acontecem sozinhas.
— Você parece o Dom. — Keller comeu outra batata. — É verdade isso dos contadores do MI6?
— Só estava puxando conversa.
— São duros?
— Os piores.
— Mas não com você.
— Não muito.
— Então por que não conseguiram algo melhor que um Škoda para você?
— O Škoda está ótimo.
— Espero que ele caiba no porta-malas.
— Podemos bater a porta na cabeça dele algumas vezes se for preciso.
— E a casa segura?
— Tenho certeza de que é adorável, Christopher.
Keller não parecia convencido. Pegou outra batata, pensou melhor e jogou-a no prato.
— O que está acontecendo atrás de mim? — ele perguntou.
— Dois caras estão falando um idioma desconhecido. Uma mulher está lendo.
— O que está lendo?
— Acho que é John Banville.
Keller assentiu, pensativo, os olhos na Ballyfermot Road.
— O que você está vendo? — perguntou Gabriel.
— Um homem parado em frente a uma casa de apostas. Três homens entrando em um carro.
— Que tipo de carro?
— Mercedes preta.
— Melhor que um Škoda.
— Muito melhor.
— Então, o que vamos fazer?
— Deixamos as batatas e levamos o chá.
— Quando?
Keller se levantou.
13
BALLYFERMOT, DUBLIN
ELES JOGARAM OS COPOS de isopor em uma lata de lixo no estacionamento do Tesco e subiram no Škoda. Dessa vez, Keller dirigiu; era sua área. Ele entrou na Ballyfermot Road e cruzou o trânsito até que houvesse apenas dois carros separando-os da Mercedes. Dirigia calmamente, uma mão se equilibrando no alto do volante, a outra descansando no câmbio automático. Os olhos estavam fixos à frente. Gabriel estava controlando o espelho lateral e estava olhando o trânsito atrás deles.
— Então? — perguntou Keller.
— Você é muito bom, Christopher. Vai ser um ótimo agente do MI6.
— Eu estava perguntando se estávamos sendo seguidos.
— Não estamos.
Keller tirou a mão do câmbio e a usou para tirar um cigarro do bolso do casaco. Gabriel bateu no aviso preto e amarelo no visor e disse:
— É proibido fumar neste carro.
Keller acendeu o cigarro. Gabriel baixou o vidro uns centímetros para ventilar a fumaça.
— Estão parando — ele disse.
— Eu vi.
A Mercedes entrou em um estacionamento na frente de uma banca de jornal. Por alguns segundos ninguém saiu. Então Liam Walsh desceu da porta de trás do lado do passageiro e entrou na loja. Keller dirigiu mais uns cinquenta metros e estacionou em frente a uma pizzaria. Apagou as luzes, mas deixou o motor ligado.
— Acho que ele precisava pegar umas coisas a caminho de casa.
— Como o quê?
— Um Herald— sugeriu Keller.
— Ninguém mais lê jornais, Christopher. Não ouviu falar?
Keller olhou para a pizzaria.
— Talvez você devesse entrar e comprar uma pizza.
— Como eu peço sem falar o idioma?
— Vai pensar em algo.
— Qual sabor de pizza você quer?
— Vá — respondeu Keller.
Gabriel desceu do carro e entrou no lugar. Havia três pessoas na fila na frente dele. Ele ficou ali esperando em meio ao cheiro de queijo quente e fermento. Então, ouviu uma breve buzinada e, virando-se, viu a Mercedes preta entrando rápido na Ballyfermot Road. Gabriel saiu e entrou no banco do passageiro. Keller deu a volta, entrou na rua e acelerou lentamente.
— Ele comprou algo? — perguntou Gabriel.
— Uns jornais e um maço de Winston.
— Como ele estava quando saiu?
— Como se realmente não precisasse de jornal ou cigarro.
— Imagino que a Garda o vigia regularmente?
— Espero que sim.
— O que significa que está acostumado a ser seguido de vez em quando por homens em carros comuns.
— Eu pensaria isso.
— Está virando — falou Gabriel.
— Eu vi.
O carro entrou em uma rua escura de pequenas casas com terraço. Nenhum trânsito, nenhuma loja, nenhum lugar onde dois caras de fora poderiam ter algo a fazer. Keller parou no meio-fio e apagou os faróis. Cem metros à frente na rua, a Mercedes entrou em uma casa. As luzes do carro se apagaram. Quatro portas se abriram, quatro homens desceram.
— Casa de Walsh? — perguntou Gabriel.
Keller assentiu.
— Casado?
— Não é mais.
— Namorada?
— Pode ter.
— E um cachorro?
— Tem algum problema com cachorros?
Gabriel não respondeu. Em vez disso, ficou olhando os quatro homens se aproximarem da casa e desaparecerem pela porta da frente.
— O que fazemos agora? — ele perguntou.
— Acho que poderíamos passar os próximos dias esperando uma oportunidade melhor.
— Ou?
— Pegamos ele agora.
— Há quatro deles e dois nossos.
— Um — respondeu Keller. — Você não vai.
— Por que não?
— Porque o futuro chefe do Escritório não pode se envolver em algo assim. Além disso — acrescentou Keller, batendo na protuberância debaixo da jaqueta —, só temos uma arma.
— Quatro contra um — disse Gabriel depois de um momento. — Não é uma boa aposta.
— Na verdade, com meu histórico, eu gosto das minhas chances.
— Como você pretende fazer?
— Da mesma forma que costumávamos fazer na Irlanda do Norte — respondeu Keller. — Jogo de gente grande, regras de gente grande.
Keller desceu sem falar nada e fechou a porta sem fazer barulho. Gabriel passou uma perna sobre o console do centro e deslizou atrás do volante. Ele ligou o para-brisas e olhou Keller caminhando pela rua, as mãos no bolso do casaco, os ombros inclinados pelo vento. Verificou seu BlackBerry. Eram 20h27 em Dublin, 22h27 em Jerusalém. Pensou em sua linda esposa sentada sozinha no apartamento deles na rua Narkiss, e em seus dois filhos descansando confortavelmente no útero dela. E aqui estava ele em uma rua deserta no sul de Dublin, sentinela de outra vigília, esperando um amigo cobrar uma velha dívida. A chuva batia contra o vidro, a rua escura foi se enchendo de água. Gabriel ligou o para-brisa uma segunda vez e viu Keller passar por uma esfera de luz amarela. E, quando ligou pela terceira vez, Keller tinha desaparecido.
A casa estava localizada no número 48 da Rossmore Road. Seu exterior era cinzento, com uma janela de marcos brancos no térreo e outras duas no andar de cima. A entrada estreita tinha espaço suficiente para um carro. Ao lado da entrada havia um portão com um caminho e um pedaço de grama bordeada por uma sebe baixa. Era respeitável, exceto pelo homem que vivia ali.
Como todas as casas no final da rua, o número 48 tinha um quintal no fundo, que dava para os campos esportivos de uma escola católica para garotos. A entrada da escola virava a esquina em Le Fanu Road. O portão principal estava aberto; parecia que estava ocorrendo uma reunião na sala principal. Keller passou pelo portão sem ser notado e cruzou uma quadra marcada para diversos tipos de jogos. De repente, estava de volta à terrível escola em Surrey para onde seus pais o enviaram aos dez anos. Esperavam muito dele — uma boa família, um excelente estudante, um líder natural. Os garotos mais velhos nunca tocavam nele porque tinham medo. O diretor não usava castigos físicos contra ele porque secretamente o diretor também tinha medo.
Na beira da quadra havia uma fileira de árvores. Keller passou por baixo dos galhos secos e cruzou as quadras escuras. Junto ao lado norte havia um muro de aproximadamente dois metros de altura coberto de videiras. Além dele estavam os jardins de fundo das casas da Rossmore Road. Keller foi até o canto mais distante do campo e contou 57 passos precisamente. Então, silenciosamente, escalou o muro e pulou para o outro lado. Quando seus sapatos caíram sobre a terra úmida, tirou a Beretta com silenciador e apontou para a porta do fundo da casa. Havia luzes lá dentro; sombras se moviam contra as cortinas fechadas. Keller segurava a arma, vendo, ouvindo. Jogo de gente grande, ele pensou. Regras de gente grande.
Dez minutos depois das nove, o BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele o levou ao ouvido, escutou, e depois desligou. A chuva tinha dado lugar a uma névoa; Rossmore Road estava vazia de trânsito e pedestres. Dirigiu até a casa de número 48, estacionou na rua e desligou o motor. Novamente seu BlackBerry vibrou, mas dessa vez ele não atendeu. Em vez disso, tirou um par de luvas de borracha coloridas, desceu e abriu o porta-malas modesto. Dentro havia uma maleta deixada pelo mensageiro da Estação de Dublin. Gabriel a tirou e carregou até o jardim. A porta da frente abriu com seu toque; ele entrou e a fechou. Keller estava no hall de entrada, a Beretta em sua mão. O ar tinha cheiro de cordite e, levemente, de sangue. Era um cheiro muito familiar a Gabriel. Ele passou por Keller sem falar nada e entrou na sala de estar. Havia uma nuvem de fumaça no ar. Três homens, cada um com um buraco de bala no centro da testa, um quarto com um nariz quebrado e um queixo que parecia ter sido deslocado com um martelo. Gabriel se abaixou e viu se tinha pulso. Depois de ver que estava vivo, abriu a mala e começou a trabalhar.
A mala continha três rolos de fita adesiva grossa, uma dúzia de algemas flexíveis descartáveis, uma bolsa de nylon capaz de envolver um homem de 1,80m, um capuz preto, um agasalho azul e branco, duas mudas de roupa, um kit de primeiros socorros, fones de ouvido, sedativo, seringas, álcool e uma cópia do Corão. O Escritório se referia ao conteúdo da mala como pacote móvel do detido. Entre os agentes de campo veteranos, no entanto, era conhecido como um kit de viagem do terrorista.
Depois de determinar que Walsh não corria risco de morrer, Gabriel o mumificou com fita adesiva. Ele não se importou com as algemas de plástico; em questão de arte e restrição física, era um tradicionalista por natureza. Enquanto estava aplicando as últimas faixas de fita na boca e nos olhos de Walsh, o irlandês começou a recuperar a consciência. Gabriel aplicou uma dose do sedativo. Então, com a ajuda de Keller, colocou Walsh na sacola de lona e fechou o zíper.
A casa não tinha garagem, o que significava que não tinham escolha a não ser tirar Walsh pela porta da frente, à vista dos vizinhos. Gabriel encontrou a chave do Mercedes no corpo de um dos mortos. Moveu o carro para a rua e colocou o Škoda na entrada. Keller carregou Walsh para fora sozinho e o depositou no porta-malas aberto. Então subiu no banco do passageiro e deixou que Gabriel dirigisse. Foi o melhor. Na experiência de Gabriel, era pouco inteligente permitir que um homem que tinha acabado de matar três pessoas operasse um veículo motorizado.
— Você apagou as luzes?
Keller assentiu.
— E as portas?
— Estão trancadas.
Keller tirou o silenciador e o pente da Beretta e colocou tudo no porta-luvas. Gabriel saiu para a rua e começou o caminho de volta para Ballyfermot Road.
— Quantas balas você usou? — ele perguntou.
— Três — respondeu Keller.
— Quanto tempo antes que a Garda encontre os corpos?
— Não é com a Garda que deveríamos nos preocupar.
Keller jogou o cigarro na escuridão da rua. Gabriel viu faíscas explodindo pelo espelho.
— Como se sente? — ele perguntou.
— Como se nunca tivesse ido embora.
— Esse é o problema com a vingança, Christopher. Nunca faz a gente se sentir melhor.
— É verdade — disse Keller, acendendo outro cigarro. — E eu só estou começando.
14
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
A CASA ESTAVA NO MEIO da Doonen Road, no alto de uma colina com vista para as águas escuras do Salt Lake. Tinha três quartos, uma cozinha grande com utensílios modernos, uma sala de jantar formal, uma pequena biblioteca e um escritório, e um porão com paredes de pedra. O dono, um advogado de Dublin bem-sucedido, quis mil euros por uma semana. A Organização Interna tinha feito a proposta de mil e quinhentos por duas, e o advogado, que raramente recebia ofertas no inverno, aceitou. O dinheiro apareceu em sua conta bancária na manhã seguinte. Veio de algo chamado Taurus Global Entertainment, uma empresa de produção televisiva com sede na cidade suíça de Montreux. Falaram ao advogado que os dois homens que iam ficar em sua casa eram executivos da Taurus que estavam indo à Irlanda para trabalhar em um projeto que era de natureza delicada. Isso, pelo menos, era verdade.
A casa estava distante da Doonen Road por pelo menos uns cem metros. Havia um portão de alumínio frágil que devia ser aberto e fechado à mão e um caminho de pedras que subia pela colina atravessando a vegetação. No ponto mais alto da terra havia três árvores muito antigas derrubadas pelo vento que soprava do Atlântico norte e que se estreitava pela baía de Clifden. O vento era frio e sem remorso. Balançava as janelas da casa, agarrava as telhas e rondava os quartos sempre que uma porta se abria. O pequeno terraço era inabitável, uma terra de ninguém. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Doonen Road não era uma estrada de verdade, mas uma faixa estreita de asfalto, suficiente para um carro, com uma faixa de grama verde no centro. As pessoas de férias viajavam para lá ocasionalmente, mas ela servia basicamente como a porta dos fundos da vila de Clifden. Era uma cidade jovem pelos padrões irlandeses, fundada em 1814 por um dono de terras e xerife chamado John d’Arcy, que queria criar uma ilha de ordem dentro da violenta e sem lei Connemara. D’Arcy construiu um castelo para si e para os moradores da vila, uma linda cidade com ruas pavimentadas, praças e um par de igrejas com torres que podiam ser vistas de longe. O castelo agora estava em ruínas, mas a vila, que já tinha quase desaparecido por causa da Grande Fome, estava entre as mais vibrantes do oeste da Irlanda.
Um dos homens que estava na casa alugada, o menor dos dois, caminhava até a vila todos os dias, normalmente no final da manhã, vestindo um casaco verde-escuro, carregando uma mochila no ombro e usando um chapéu mole puxado sobre a testa. Ele comprava umas poucas coisas no supermercado e uma ou duas garrafas na Ferguson Fine Wines, italianos normalmente, às vezes franceses. E então, tendo comprado suas provisões, ele passeava pelas vitrines da Main Street com o ar de alguém preocupado com questões mais importantes. Em uma ocasião, ele entrou na Lavelle Art Gallery para dar uma olhada rápida no que tinham. O proprietário ia se lembrar depois que ele parecia conhecer muito sobre quadros e isso chamou sua atenção. Era difícil saber de onde era seu sotaque. Talvez alemão, talvez outra coisa. Não importava; para o povo de Connemara, todo mundo tinha sotaque.
No quarto dia, sua caminhada pela Main Street era mais superficial do que o normal. Ele entrou em apenas um lugar, na banca de jornal, e comprou quatro maços de cigarro norte-americano e uma cópia do The Independent. A primeira página estava cheia de notícias de Dublin, sobre três membros do IRA Autêntico que tinham sido encontrados mortos em uma casa em Ballyfermot. Outro homem estava desaparecido e supostamente tinha sido sequestrado. A Garda estava procurando por ele. Também os membros do IRA Autêntico.
— Gangue de traficantes — murmurou o homem atrás do balcão.
— Terrível — concordou o visitante com o sotaque que ninguém conseguia localizar.
Ele enfiou o jornal na mochila e, com alguma relutância, o cigarro. Aí caminhou de novo para a casa do advogado de Dublin, que, na realidade era odiado pelos residentes de Clifden. O outro homem, que tinha a pele curtida como couro, estava ouvindo atentamente as notícias do meio-dia na RTÉ.
— Estamos perto— foi tudo que ele disse.
— Quando?
— Talvez essa noite.
O menor dos dois homens foi até o terraço enquanto o outro fumava. Uma nuvem escura estava sobre Clifden e o vento parecia estar cheio de lascas. Cinco minutos foi tudo que ele aguentou. Então entrou, para a fumaça e a tensão da espera. Não sentiu vergonha. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Em toda sua carreira, Gabriel tinha tido o desprazer de conhecer vários terroristas: terroristas palestinos, egípcios, sauditas; terroristas motivados pela fé, motivados por uma perda; que tinham nascido nas piores favelas do mundo árabe; terroristas que tinham sido criados no conforto material do ocidente. Geralmente, ele imaginava o que esses homens poderiam ter conseguido se tivessem escolhido outro caminho. Muitos eram bastante inteligentes, e em seus olhos impiedosos, via curas de doenças nunca encontradas, softwares nunca criados, músicas nunca compostas e poemas nunca escritos. Liam Walsh, no entanto, não causou nenhuma impressão. Walsh era um assassino sem remorso ou boa educação, que não tinha ambição a não ser a destruição de vidas e propriedades. Em seu caso, uma carreira no terrorismo, até pelos reduzidos padrões dos republicanos irlandeses conservadores, era o melhor que ele poderia ter conseguido.
Ele não tinha medo, no entanto, e possuía uma obstinação natural que o tornava difícil de quebrar. Nas primeiras 48 horas foi deixado em total isolamento no frio do porão, olhos vendados, amordaçado, com fones de ouvido, imobilizado por fita adesiva. Não ofereceram comida, apenas água, que ele recusou. Keller o levou ao banheiro, mas suas necessidades eram mínimas por causa de sua dieta restritiva. Quando necessário, ele falava com Walsh com o sotaque de um protestante da classe trabalhadora de Belfast oriental. O irlandês não recebeu nenhuma oferta para sair de sua situação e não pediu nada. Tendo visto três de seus companheiros mortos num piscar de olhos, parecia resignado ao seu destino. Como a SAS, os terroristas e traficantes irlandeses jogavam com as regras de gente grande.
Na manhã do terceiro dia, louco de sede, ele aceitou um pouco de água à temperatura ambiente. Ao meio-dia bebeu chá com leite e açúcar, e à noite recebeu mais chá e uma única torrada. Foi então que Keller falou com ele pela primeira vez.
— Você está atolado em problemas, Liam — disse em seu sotaque de Belfast oriental. — E a única forma de sair é me contar o que quero saber.
— Quem é você? — perguntou Walsh com dor no queixo quebrado.
— Isso depende inteiramente de você — respondeu Keller. — Se falar comigo, serei seu melhor amigo no mundo. Se não, vai terminar como seus três amigos.
— O que quer saber?
— Omagh — foi tudo que Keller disse.
Na manhã do quarto dia, Keller tirou os fones do ouvido de Walsh e a mordaça de sua boca, falando sobre a situação em que se encontrava o irlandês agora. Keller afirmou que era membro de um pequeno grupo vigilante de protestantes procurando justiça pelas vítimas do terrorismo republicano. Sugeriu que tinha ligações com o Ulster Volunteer Force, o grupo paramilitar legalista que tinha matado pelo menos quinhentas pessoas, principalmente civis católicos romanos, durante o pior dos problemas na Irlanda do Norte. O UVF aceitou um cessar-fogo em 1994, mas seus murais, com imagens de homens mascarados e armados, ainda estavam nos muros dos bairros protestantes e nas cidades em Ulster. Muitos dos murais tinham o mesmo slogan: “Preparados para a paz, prontos para a guerra.” O mesmo poderia ser dito de Keller.
— Estou procurando quem montou a bomba — ele explicou. — Você sabe de que bomba estou falando, Liam. A bomba que matou 29 pessoas inocentes em Omagh. Você estava lá aquele dia. Estava no carro com ele.
— Não sei do que você está falando.
— Você estava lá, Liam — repetiu Keller. — E esteve em contato com ele depois que o movimento deu em merda. Ele veio aqui para Dublin. Você cuidou dele até que ficou complicado demais.
— Não é verdade. Nada disso é verdade.
— Ele voltou a circular, Liam. Conte-me onde posso encontrá-lo.
Walsh não falou nada por um tempo.
— E se eu contar? — ele perguntou finalmente.
— Vai passar algum tempo preso, um longo tempo, mas vai viver.
— Mentira — cuspiu Walsh.
— Não estamos interessados em você, Liam — respondeu Keller calmamente. — Só nele. Diga onde podemos encontrá-lo e vamos deixar você viver. Tente dar uma de esperto e vou matar você. E não vai ser uma bela bala na cabeça. Vai doer, Liam. Vai doer muito.
Naquela tarde, uma tempestade caiu em toda Connemara. Gabriel se sentou ao lado do fogo lendo um livro de Fitzgerald enquanto Keller dirigia pela região procurando atividades incomuns da Garda. Liam Walsh permaneceu isolado no porão, amarrado, amordaçado, com os olhos e os ouvidos cobertos. Ele não recebeu bebida ou comida. Naquela noite, estava tão fraco de fome e desidratação que Keller quase teve de carregá-lo ao banheiro.
— Quanto tempo? — perguntou Gabriel no jantar.
— Estamos perto— disse Keller.
— Foi o que você falou antes.
Keller ficou em silêncio.
— Tem algo que possamos fazer para acelerar as coisas? Gostaria de sair daqui antes que a Garda venha bater à porta.
— Ou o IRA Autêntico — acrescentou Keller.
— Então?
— Ele está imune à dor nesse ponto.
— E água?
— Água é sempre bom.
— Ele sabe?
— Ele sabe.
— Você precisa de ajuda?
— Não — falou Keller, se levantando. — É pessoal.
Quando Keller saiu, Gabriel foi até o terraço e ficou sob a chuva. Só demorou cinco minutos. Mesmo um homem duro como Liam Walsh não podia aguentar a água por muito tempo.
15
THAMES HOUSE, LONDRES
A CADA NOITE DE SEXTA-FEIRA, normalmente às seis horas, mas às vezes um pouco mais tarde se Londres ou o mundo estivesse em crise, Graham Seymour tomava uma bebida com Amanda Wallace, diretora-geral do MI5. Era, sem dúvida, sua reunião menos agradável da semana. Wallace era a antiga chefe de Seymour. Eles entraram no MI5 no mesmo ano e tinham avançado em suas carreiras de forma paralela; Seymour no departamento de contraterrorismo, Wallace no de contraespionagem. No final, foi Amanda quem venceu a corrida para a sala do DG. Mas agora, bastante inesperadamente e no fim de sua carreira, Seymour tinha recebido o melhor prêmio de todos. Amanda o odiava por isso, pois ele agora era o espião mais poderoso de Londres. Em silêncio, ela trabalhava para miná-lo sempre que podia.
Como Seymour, Amanda Wallace tinha espionagem em seu DNA. Sua mãe trabalhara muito na sala de arquivos do registro do MI5 durante a guerra e, ao se formar em Cambridge, Amanda nunca tinha considerado outra carreira a não ser na inteligência. A linhagem comum deles deveria tê-los tornado aliados. Em vez disso, Amanda tinha imediatamente colocado Seymour no papel de rival. Ele era o canalha bonitão para quem o sucesso tinha chegado muito facilmente e ela era a garota estranha, até tímida, que iria derrubá-lo. Eles se conheciam havia trinta anos e juntos tinham chegado aos dois postos mais importantes da inteligência britânica e, mesmo assim, a dinâmica básica do relacionamento deles nunca tinha mudado.
Na sexta-feira anterior, Amanda tinha ido a Vauxhall Cross, o que significava que sob as regras do relacionamento deles, era a vez de Seymour viajar. Ele não via isso como uma imposição; sempre gostava de voltar a Thames House. Seu Jaguar oficial entrou no estacionamento do subsolo às 17h55 e, dois minutos depois, o elevador de Amanda o deixou no andar mais alto. O corredor principal estava muito silencioso. Seymour supôs que a equipe sênior estava misturada com as tropas em um dos dois bares privativos do prédio. Como sempre, ele parou para dar uma olhada dentro de seu velho escritório. Miles Kent, seu sucessor como vice-diretor, estava olhando para o computador. Parecia que não dormia há uma semana.
— Como ela está? — perguntou Seymour, cauteloso.
— Brava e agitada. Mas é melhor você correr — acrescentou Kent. — Não deve deixar a rainha esperando.
Seymour continuou pelo corredor até a sala da DG. Um membro da equipe toda masculina de Amanda o cumprimentou na antessala e imediatamente abriu a porta do escritório dela. Estava parada contemplando uma janela que dava para o Parlamento. Virando-se, ela consultou o relógio. Amanda valorizava a pontualidade acima de todos os outros atributos.
— Graham — ela falou, tranquila, como se estivesse lendo o nome dele em um dos densos documentos de briefing que sua equipe sempre preparava antes de uma reunião importante. Então deu um sorriso eficiente. Parecia que tinha aprendido a fazer a expressão praticando em frente ao espelho. — Que bom que veio.
Uma bandeja com bebidas tinha sido deixada na longa e brilhante mesa de reuniões. Ela preparou um gim-tônica para Seymour e, para si mesma, um martini seco com azeitonas e cebolas em conserva. Ela se orgulhava da habilidade para preparar sua bebida, uma habilidade que, em sua opinião, era obrigatória para um espião. Era uma de suas poucas qualidades amáveis.
— Saúde — disse Seymour, levantando o copo um centímetro, mas novamente Amanda só sorriu. A BBC estava sintonizada e silenciada em uma grande televisão de tela plana. Um oficial sênior da Garda Síochána estava parado em frente a uma pequena casa em Ballyfermot onde três homens, todos da gangue de traficantes do IRA Autêntico, tinham sido encontrados mortos.
— Bastante horrível — disse Amanda.
— Uma guerra por território, aparentemente — murmurou Seymour sobre o copo.
— Nossos amigos na Garda têm dúvidas sobre isso.
— Do que eles sabem?
— Nada, na verdade, e é por isso que estão preocupados. Os telefones normalmente tocam com muitos dedos-duros depois de um grande assassinato entre gangues, mas não dessa vez. E também — ela acrescentou — a forma como eles foram mortos. Normalmente, esses mafiosos destroem toda a sala com armas automáticas. Mas quem fez isso foi muito preciso. Três tiros, três corpos. A Garda está convencida de que estão lidando com profissionais.
— Têm alguma ideia de onde está Liam Walsh?
— Estão trabalhando com a suposição de que ele está em algum lugar da República, mas não têm ideia de onde. — Ela olhou para Seymour e levantou uma sobrancelha. — Ele não está amarrado em uma cadeira em alguma casa segura do MI6, está, Graham?
— Infelizmente, não.
Seymour olhou para a televisão. A BBC tinha passado para a próxima notícia. O primeiro-ministro Jonathan Lancaster estavam em Washington para uma reunião com o presidente norte-americano. Não tinha ido tão bem quanto ele esperava. A Grã-Bretanha não estava muito em voga em Washington no momento, pelo menos não na Casa Branca.
— Seu amigo — disse Amanda friamente.
— O presidente norte-americano?
— Jonathan.
— Seu também — respondeu Seymour.
— Minha relação com o primeiro-ministro é cordial — disse Amanda deliberadamente —, mas não chega perto da sua. Você e Jonathan são muito ligados.
Estava claro que Amanda queria falar mais sobre a conexão especial de Seymour com o primeiro-ministro. Em vez disso, serviu mais uma bebida para ele enquanto contava uma fofoca sobre a esposa de certo embaixador de um emirado árabe rico em petróleo. Seymour também contou sobre um relatório que tinha recebido de um homem com sotaque britânico que estava comprando mísseis antitanque portáteis no bazar de armas na Líbia. Depois disso, com o gelo sendo rompido, eles continuaram conversando do jeito que só dois espiões experientes poderiam. Compartilharam, revelaram, se aconselharam e em duas ocasiões chegaram a rir. Na verdade, por alguns minutos parecia que a rivalidade entre eles não existia. Eles conversaram sobre a situação no Iraque e na Síria, sobre a China, sobre a economia global e seu impacto na segurança e também sobre o presidente norte-americano, a quem culparam por muitos dos problemas do mundo. Em algum momento, conversaram sobre os russos. Naqueles dias, eles sempre conversavam.
— Os cyberguerreiros deles — disse Amanda — estão atacando nossas instituições financeiras com tudo que têm em suas pequenas caixinhas-surpresa. Também estão atrás de nossos sistemas governamentais e das redes de computadores das maiores empresas de defesa.
— Estão atrás de algo específico?
— Na verdade — ela respondeu —, eles não parecem estar procurando alguma coisa. Só estão tentando causar os maiores danos possíveis. Há uma imprudência como nunca tínhamos visto antes.
— Alguma mudança na postura deles aqui em Londres?
— D4 notou um aumento importante na atividade da Estação Londres. Não temos certeza do que isso significa, mas está claro que estão envolvidos em algo grande.
— Maior do que plantar uma russa ilegal na cama do primeiro-ministro?
Amanda levantou a sobrancelha e girou uma azeitona na borda do copo. O rosto da princesa apareceu na televisão. Sua família tinha anunciado a criação de um fundo para apoiar as causas de que ela gostava. Jonathan Lancaster tinha tido a permissão para fazer a primeira doação.
— Ouviu algo novo? — perguntou Amanda.
— Sobre a princesa?
Ela assentiu.
— Nada. Você?
Ela colocou sua bebida na mesa e olhou Seymour por um momento, em silêncio. Finalmente, perguntou:
— Por que não me contou que foi Eamon Quinn?
Amanda bateu com as unhas no braço da cadeira enquanto esperava uma resposta, o que nunca era um bom sinal. Seymour decidiu que não tinha escolha a não ser contar a verdade, ou pelo menos uma versão dela.
— Não contei — ele disse finalmente — porque não queria envolvê-la.
— Porque não confia em mim?
— Porque não quero que você seja contaminada de nenhuma forma.
— Por que eu seria contaminada? Afinal, Graham, você era o chefe do contraterrorismo na época da bomba de Omagh, não eu.
— E é por isso que você se tornou DG do Serviço de Segurança.
Ele fez uma pausa, depois acrescentou:
— E não eu.
Um silêncio pesado caiu entre eles. Seymour queria ir embora, mas não podia. A questão tinha de ter alguma resolução.
— Quinn estava agindo em nome do IRA Autêntico — perguntou Amanda finalmente — ou de alguém mais?
— Devemos ter uma resposta para isso em algumas horas.
— Assim que Liam Walsh contar?
Seymour não deu nenhuma resposta.
— É uma operação do MI6 autorizada?
— Por fora.
— Sua especialidade.— Disse Amanda, cáustica. — Acho que está trabalhando com os israelenses. Afinal, eles queriam tirar Quinn de circulação há muito tempo.
— E deveríamos ter aceitado a oferta.
— Quanto Jonathan sabe?
— Nada.
Ela xingou baixinho, algo que raramente fazia.
— Vou dar a você muita liberdade de ação nisso — ela falou, finalmente. — Não por você, entenda, mas pelo bem do Serviço de Segurança. Mas espero um aviso antecipado se sua operação entrar em solo britânico. E se algo explodir, vou garantir que seja o seu pescoço na guilhotina, não o meu. — Ela sorriu. — Para que tudo fique claro.
— Eu não teria esperado outra coisa.
— Muito bem, então. — Ela olhou para o relógio. — Infelizmente preciso ir, Graham. Próxima semana no seu escritório?
— Estarei esperando. — Seymour se levantou e esticou a mão. — Sempre um prazer, Amanda.
16
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
ELES O LEVARAM PARA cima e, com os olhos ainda vendados pela fita adesiva, permitiram que tomasse um banho pela primeira vez. Então colocaram o casaco azul e branco e deram um pouco de comida e um chá com leite para beber. Ajudou um pouco sua aparência. Com o rosto inchado, a pele branca e o aspecto geral muito magro, ele parecia um cadáver que se levantou do caixão.
Quando a refeição foi terminada, Keller repetiu seu conselho. O irlandês seria tratado bem desde que respondesse corretamente as perguntas de Keller e em uma voz normal. Se ele mentisse, gritasse ou fizesse alguma tentativa estúpida de fugir, voltaria ao porão e as condições de seu confinamento seriam muito menos agradáveis do que antes. Gabriel não falou, mas Walsh, com os sentidos auditivos ampliados pela escuridão e pelo medo, estava claramente consciente de sua presença. Gabriel preferia dessa forma. Ele não queria deixar Walsh com a impressão equivocada de que estava sob o controle de um único homem, mesmo se esse homem fosse um dos mais mortais do mundo.
Keller não tinha treinamento formal nas técnicas de interrogatório, mas como todos os bons interrogadores, estabeleceu em Walsh o hábito de responder perguntas corretamente e sem hesitar ou se evadir. Eram perguntas simples no começo, perguntas com respostas que eram facilmente verificáveis. Data de nascimento. Local de nascimento. Nomes dos pais e irmãos. As escolas que tinha estudado. Seu recrutamento pelo Exército Republicano Irlandês. Walsh declarou que tinha nascido em Ballybay, condado de Monaghan, em 16 de outubro de 1972. O lugar de seu nascimento era significativo, pois era a três quilômetros da Irlanda do Norte, na tensa região da fronteira. Seu nascimento era significativo, também; era o mesmo de Michael Collins, o líder revolucionário irlandês. Ele frequentou escolas católicas até os 18 anos, quando entrou no IRA. Seu recrutador não fez nenhuma tentativa de glamourizar a vida que Walsh tinha escolhido. Ele teria um salário ridículo e viveria sempre perto do perigo. O mais provável é que passasse vários anos na prisão. As chances eram grandes de que ele morreria violentamente.
— E o nome do recrutador? — perguntou Keller em seu sotaque de Ulster.
— Não tenho a liberdade de dizer.
— Agora você tem.
— Era Seamus McNeil — disse Walsh depois de um momento de hesitação. — Ele era...
— Membro da Brigada South Armagh — Keller cortou. — Foi morto em uma emboscada por soldados britânicos e enterrado com honras pelo IRA, que descanse em paz.
— Na verdade — disse Walsh —, ele morreu durante um tiroteio com a SAS.
— Só caubóis e gangsters fazem tiroteio — respondeu Keller. — Mas você estava a ponto de me contar sobre seu treinamento.
Foi o que Walsh fez. Ele foi mandado a um remoto campo na República para treinamento de armas leves e lições na manufatura e entrega de bombas. Disseram para parar de beber e evitar socializar com pessoas que não eram membros do IRA. Finalmente, seis meses depois de seu recrutamento, foi designado a uma unidade de serviço ativo de elite do IRA. Sua militância era junto com um mestre na confecção de bombas e planejador operacional chamado Eamon Quinn. Quinn era vários anos mais velho que Walsh e já era uma lenda. Nos anos oitenta, fora enviado a um campo no deserto da Líbia para treinamento. Mas, no final, disse Walsh, Quinn mais ensinou que aprendeu com os líbios. Na verdade, Eamon foi quem deu aos líbios o design para a bomba que derrubou o voo 103 da Pan Am em Lockerbie, na Escócia.
— Mentira — respondeu Keller.
— Se não quiser acreditar... — respondeu Walsh.
— Quem mais estava no campo com ele?
— Eram da OLP, principalmente, e alguns caras de uma das organizações que se separaram.
— Qual?
— Acredito que era a Frente Popular para a Libertação da Palestina.
— Você conhece os grupos terroristas da Palestina...
— Temos muito em comum com os palestinos.
— Por quê?
— Os dois estão ocupados por potências coloniais racistas.
Keller olhou para Gabriel, que estava olhando, impassível, para as mãos. Walsh, ainda vendado, parecia sentir a tensão na sala. Do lado de fora, o vento atacava as portas e janelas da casa, como se estivesse procurando um ponto de entrada.
— Onde estou? — perguntou Walsh.
— Inferno — respondeu Keller.
— O que tenho de fazer para sair?
— Continue falando.
— O que quer saber?
— Os detalhes da sua primeira operação.
— Foi em 1993.
— Que mês?
— Abril.
— Ulster ou Inglaterra?
— Inglaterra.
— Que cidade?
— A única cidade que importa.
— Londres?
— É.
— Bishopsgate?
Walsh assentiu. Bishopsgate...
O caminhão, um basculante Ford Iveco, roubado de Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, em março. Eles o levaram a um armazém alugado e o pintaram de azul. Então, Quinn colocou a bomba, um aparato de combustível/nitrato de amônia de uma tonelada que ele montou em South Armagh e levou escondido até a Inglaterra. Na manhã de 24 de abril, Walsh dirigiu o caminhão até Londres e estacionou em frente ao 99 da Bishospgate, uma torre de escritórios ocupada exclusivamente pelo HSBC. A explosão destruiu mais de quinhentas toneladas de vidro, derrubou uma igreja e matou um fotojornalista. O governo britânico respondeu cercando o distrito financeiro de Londres em um cordão de segurança chamado de “anel de aço”. Sem medo, o IRA voltou a Londres, em fevereiro de 1996, com outro caminhão-bomba criado e montado por Eamon Quinn. Dessa vez, o alvo era Canary Wharf, em Docklands. A explosão foi tão forte que destruiu janelas a oito quilômetros de distância. Os primeiros-ministros da Grã-Bretanha e da Irlanda rapidamente anunciaram a retomada das negociações de paz. Dezoito meses depois, em julho de 1997, o IRA aceitou o cessar-fogo.
— Foi um desastre do caralho — disse Walsh.
— E quando o IRA se dividiu mais tarde, naquele outono — disse Keller —, você foi com McKevitt e Bernadette Sands?
— Não. — respondeu Walsh. — Eu fui com Eamon Quinn.
Desde o princípio, Walsh continuou, o IRA Autêntico estava cheio de informantes do MI5 e da Crime e Segurança, uma divisão secreta da Garda Síochána que operava fora dos escritórios oficiais, no bairro de Phoenix Park, em Dublin. Mesmo assim, o grupo conseguiu realizar uma série de ataques de bomba, incluindo um devastador, em Banbridge em primeiro de agosto de 1998. A bomba pesava 225 quilos e estava escondida dentro de um Vauxhall Cavalier vermelho. Os avisos telefônicos codificados eram imprecisos — sem localização, sem tempo de detonação. Como resultado, 33 pessoas ficaram seriamente feridas, incluindo dois oficiais do Royal Ulster Constabulary. Pedaços do Vauxhall foram encontrados a mais de quinhentos metros de distância. Foi, disse Walsh, uma prévia das próximas atrações.
— Omagh — falou Keller, em voz baixa.
Walsh não falou nada.
— Você foi parte da equipe operacional?
Walsh assentiu.
— Que carro? — perguntou Keller. — Bomba, escolta ou fuga.
— Bomba.
— Motorista ou passageiro?
— Deveria ser o motorista, mas houve uma mudança no último minuto.
— Quem dirigiu?
Walsh hesitou, depois falou:
— Quinn.
— Por que a mudança?
— Ele falou que estava mais nervoso do que o costume antes de uma operação. Disse que dirigir ia ajudar a acalmar.
— Mas essa não era a verdadeira razão, era, Liam? Quinn queria ele mesmo resolver os problemas. Quinn queria colocar um prego no caixão do processo de paz.
— Uma bala na cabeça era como ele descrevia.
— Ele deveria deixar a bomba no tribunal?
— Esse era o plano.
— Ele procurou um lugar para estacionar?
— Não — disse Walsh, balançando a cabeça. — Foi direto para a Lower Market Street e estacionou em frente à S.D. Kells.
— Por que você não fez nada?
— Tentei convencê-lo, mas ele não me ouviu.
— Deveria ter tentado mais, Liam.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
— Onde estava o carro de fuga?
— No estacionamento do supermercado.
— E quando você entrou?
— A chamada foi para o outro lado da fronteira.
— Os tijolos estão na parede.
Walsh assentiu.
— Por que você não contou a ninguém que a bomba estava no lugar errado?
— Se eu tivesse aberto minha boca, Quinn teria me matado. Além disso — acrescentou Walsh —, já era muito tarde.
— E quando a bomba explodiu?
— A cidade virou uma merda.
A morte e a devastação causaram revolta nos dois lados da fronteira e no mundo todo. O IRA Autêntico divulgou um pedido de desculpas e anunciou um cessar-fogo, mas era tarde demais; o movimento tinha sofrido danos irreparáveis. Walsh se estabeleceu em Dublin para cuidar dos interesses do IRA Autêntico no crescente comércio de drogas. Quinn se escondeu.
— Onde?
— Espanha.
— O que ele fez?
— Ele viveu na praia até que o dinheiro acabou.
— E depois?
— Ele ligou para um velho amigo e disse que queria voltar ao jogo.
— Quem era o amigo?
Walsh hesitou, depois falou:
— Muamar Kadafi.
17
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
NÃO FOI REALMENTE KADAFI, Walsh acrescentou rapidamente. Foi alguém de confiança da inteligência líbia que Quinn tinha conhecido quando estava no campo de treinamento de terrorismo no deserto. Quinn pediu ajuda e o homem da inteligência líbia, depois de consultar o dirigente, concordou em permitir que Quinn fosse para o país. Ele vivia em uma casa protegida em um bairro chique de Trípoli, e fazia alguns trabalhos para os serviços de segurança da Líbia. Também era um visitante frequente do bunker subterrâneo de Kadafi, onde ia entreter o líder com histórias da luta contra os britânicos. Com o tempo, Kadafi dividiu Quinn com alguns de seus aliados regionais menos sofisticados. Ele desenvolveu contatos com cada vilão do continente: ditadores, senhores da guerra, mercenários, traficantes de diamantes, militantes islâmicos de todos os tipos. Também fez amizade com um negociante de armas que estava enviando armamentos e munição para toda a guerra civil e insurgência na África subsaariana. O traficante de armas concordou em mandar um pequeno container de AK-47 e explosivos plásticos para o IRA Autêntico. Walsh entregou a encomenda em Dublin.
— Lembra-se do nome do homem da inteligência líbia? — perguntou Keller.
— Ele se chamava Abu Muhammad.
Keller olhou para Gabriel, que assentiu lentamente.
— E o traficante de armas russo? — perguntou Keller.
— Era Ivan Kharkov, o que foi morto em Saint-Tropez alguns anos atrás.
— Tem certeza, Liam? Tem certeza de que era Ivan?
— Quem mais poderia ser? Ivan controlava o comércio de armas na África e ele matava qualquer um que tentasse fazer negócios lá.
— E a casa em Trípoli? Sabe onde era?
— Era em um bairro que chamavam de Al-Andalus.
— A rua?
— Via Canova. Número 27 — acrescentou Walsh. — Mas não perca seu tempo. Quinn deixou a Líbia há vários anos.
— O que aconteceu?
— Kadafi decidiu limpar sua barra. Desistiu dos programas de armas e disse aos norte-americanos e europeus que queria normalizar as relações. Tony Blair apertou a mão dele em uma tenda nos arredores de Trípoli. A BP ganhou o direito de explorar o solo líbio. Lembra?
— Eu lembro, Liam.
Aparentemente, falou Walsh, o MI6 sabia que Quinn estava vivendo secretamente em Trípoli. O chefe do MI6 exigiu que Kadafi expulsasse Quinn e ele concordou. Pediu a alguns de seus amigos na África, mas ninguém o aceitou. Então ligou para um de seus melhores amigos no mundo e a mudança foi organizada. Uma semana depois, Kadafi deu a Quinn uma cópia autografada de seu Livro verde e o colocou em um avião.
— E o amigo que concordou em receber Quinn?
— Três palpites — disse Walsh. — Os dois primeiros não contam.
O amigo era Hugo Chávez, presidente da Venezuela, aliada da Rússia, de Cuba e dos mulás de Teerã, um problema para os Estados Unidos. Chávez se via como líder do movimento revolucionário do mundo, e operava um campo de treinamento não tão secreto para terroristas e rebeldes esquerdistas na Ilha Margarita. Quinn logo se tornou uma atração. Trabalhava com todo mundo, do Sendero Luminoso ao Hamas e Hezbollah, compartilhando os truques mortais que tinha descoberto durante sua longa carreira de conflitos com os britânicos. Chávez, como Kadafi antes dele, tratou-o bem. Deu a ele uma casa perto do mar e um passaporte diplomático para viajar pelo mundo. Até deu a ele um novo rosto.
— Quem fez o trabalho?
— O médico de Kadafi.
— O brasileiro?
Walsh assentiu.
— Ele foi a Caracas e realizou a cirurgia em um hospital ali. Fez uma total reconstrução em Quinn. As velhas fotos são inúteis agora. Eu quase não consegui reconhecê-lo.
— Você o viu quando estava na Venezuela?
— Duas vezes.
— Foi até o campo?
— Nunca.
— Por que não?
— Não tinha autorização. Eu o vi no continente.
— Continue falando, Liam.
Um ano depois que Quinn chegou à Venezuela, um alto oficial do VEVAK, o serviço de inteligência iraniano, fez uma visita à ilha. Não estava ali para ver seus aliados do Hezbollah; estava para ver Quinn. O homem do VEVAK ficou na ilha por uma semana. E, quando voltou a Teerã, Quinn foi com ele.
— Por quê?
— Os iranianos queriam que Quinn construísse uma arma.
— Que tipo de arma?
— Uma arma que o Hezbollah poderia usar contra os tanques israelenses e veículos blindados no sul do Líbano.
Keller olhou para Gabriel, que parecia estar contemplando uma rachadura no teto. Walsh, sem saber a verdadeira identidade de sua pequena audiência, ainda estava falando.
— Os iranianos colocaram Quinn em uma fábrica de armas em um subúrbio de Teerã chamado Lavizan. Ele construiu uma versão de uma arma antitanque na qual estava trabalhando há anos. Criava uma bola de fogo que viajava a trezentos metros por segundo e envolvia o veículo avançando em chamas. O Hezbollah usou contra os israelenses no verão de 2006. Os tanques israelenses queimavam totalmente. Era como o Holocausto.
Keller novamente olhou de lado para Gabriel, que agora estava olhando diretamente para Liam Walsh.
— E quando ele terminou de criar a arma antitanque? — perguntou Keller.
— Ele foi ao Líbano para trabalhar diretamente com o Hezbollah.
— Que tipo de trabalho?
— Bombas em estradas, principalmente.
— E depois?
— Os iranianos o mandaram ao Iêmen para trabalhar com a Al-Qaeda, na península Arábica.
— Não sabia que havia ligações entre os iranianos e a Al-Qaeda.
— Quem contou isso?
— Onde ele está agora?
— Não tenho ideia.
— Você está mentindo, Liam.
— Não estou. Juro que não sei onde ele está ou para quem está trabalhando.
— Quando foi a última vez que você o viu?
— Há seis meses.
— Onde?
— Espanha.
— Espanha é um país grande, Liam.
— Foi no sul, em Sotogrande.
— Um playground irlandês.
— É como Dublin com sol.
— Onde se encontrou com ele?
— Em um pequeno hotel perto da marina. Muito tranquilo.
— O que ele queria?
— Queria me entregar um pacote.
— Que tipo de pacote?
— Dinheiro.
— Para quem era o dinheiro?
— A filha dele.
— Nunca soube que era casado.
— A maioria das pessoas não sabe.
— Onde está a filha?
— Em Belfast com a mãe.
— Continue falando, Liam.
Os serviços combinados de inteligência britânica tinham juntado uma montanha de material sobre a vida e os tempos de Eamon Quinn, mas em nenhum lugar desses volumosos arquivos havia qualquer menção a uma esposa ou uma filha. Não era acidente, disse Walsh. Quinn, o planejador operacional, tinha trabalhado muito para manter sua família em segredo. Walsh afirmava ter participado da cerimônia na qual os dois se casaram e depois ajudou a gerenciar as questões financeiras da família durante os anos em que Quinn estava vivendo no exterior como uma superestrela do terrorismo internacional. O pacote que Quinn deu a Walsh no hotel espanhol de Sotogrande continha cem mil libras em notas usadas. Foi o maior pagamento que Quinn já tinha confiado a seu velho amigo.
— Por que tanto dinheiro? — perguntou Keller.
— Ele disse que seria o último pagamento por um tempo.
— Falou o motivo?
— Não.
— E você não perguntou?
— Eu sei qual é o meu lugar!
— E você entregou o pagamento total?
— Cada libra.
— Não cobrou uma taxa pelo serviço? Afinal, Quinn nunca ficaria sabendo.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
Keller perguntou se Quinn já tinha vindo a Belfast para ver sua família.
— Nunca.
— E elas nunca viajaram para fora do país para vê-lo?
— Ele tinha medo de que os britânicos seguissem as duas. Além disso — acrescentou Walsh —, elas não o teriam reconhecido. Quinn tinha um novo rosto. Quinn era outra pessoa.
Isso os levou de volta ao assunto da aparência cirurgicamente alterada de Quinn. Gabriel e Keller tinham posse das imagens que os franceses haviam capturado em São Bartolomeu — umas poucas imagens do vídeo do aeroporto, umas poucas fotos capturadas de câmeras de segurança de lojas —, mas em nenhuma o rosto de Quinn estava claramente visível. Parecia um esfregão com cabelo escuro e barba, um homem para olhar uma vez e rapidamente esquecer. Liam Walsh tinha o poder de completar o retrato de Quinn, pois havia se sentado em frente a ele seis meses antes, em um quarto de hotel espanhol.
Gabriel tinha realizado esboços em circunstâncias desafiadoras, mas nunca com uma testemunha que estava vendada. Na verdade, ele tinha quase certeza de que não era possível. Keller explicou como o processo funcionaria. Havia outro homem presente, ele falou, um homem que era tão bom com esboços e lápis quanto ele era com os punhos e uma arma. Esse homem não era nem irlandês nem de Ulster. Walsh deveria descrever a aparência de Quinn para ele. Poderia olhar o esboço do homem, mas sob nenhuma circunstância poderia olhar para o rosto dele.
— E se eu olhar sem querer?
— Não olhe.
Keller retirou a fita adesiva dos olhos de Walsh. O irlandês piscou várias vezes. Então olhou diretamente para a figura sentada do lado oposto da mesa com papel e uma caixa de lápis coloridos.
— Você acabou de violar as regras — disse Gabriel, calmo.
— Quer saber como ele se parece ou não?
Gabriel pegou um lápis.
— Vamos começar com os olhos.
— São verdes — respondeu Walsh. — Como os seus.
Trabalharam sem parar pelas próximas duas horas. Walsh descreveu, Gabriel desenhou, Walsh corrigiu, Gabriel revisou. Finalmente, à meia-noite, o retrato estava completo. O cirurgião plástico brasileiro tinha feito um bom trabalho. Tinha dado a Quinn um rosto sem nenhuma característica memorável. Mesmo assim, era um rosto que Gabriel reconheceria se passasse por ele na rua.
Se Walsh estava curioso sobre a identidade do homem de olhos verdes atrás do papel, não mostrou. Nem resistiu quando Keller cobriu seus olhos com uma venda de fita adesiva ou quando Gabriel injetou sedativo suficiente para mantê-lo quieto por umas horas. Eles o colocaram inconsciente na sacola de lona e limparam cada item e superfície que algum deles tinha tocado na casa. Então, o enfiaram no porta-malas do Škoda e sentaram nos bancos da frente. Keller dirigiu. Era sua área.
As estradas estavam vazias, a chuva era esporádica, uma queda torrencial em um minuto, uma névoa com vento no seguinte. Keller fumava um cigarro atrás do outro e ouvia as notícias no rádio. Gabriel olhava pela janela para as colinas escuras e a vegetação balançando com o vento. Em seus pensamentos, no entanto, só estava Eamon Quinn. Desde que fugiu da Irlanda, Quinn tinha trabalhado com alguns dos homens mais perigosos do mundo. Era possível que estivesse agindo por consciência ou por crença política, mas Gabriel duvidava. Claramente, ele pensou, Quinn deixou tudo isso para trás. Ele tinha seguido o mesmo caminho que Carlos e Abu Nidal antes dele. Era um terrorista de aluguel, matando às ordens de seus poderosos patronos. Mas quem pagara Quinn? Quem o havia contratado para matar uma princesa? Gabriel tinha uma longa lista de potenciais suspeitos. Por enquanto, porém, encontrar Quinn teria prioridade. Liam Walsh tinha dado muitos lugares para procurar, nenhum mais promissor que uma casa em Belfast ocidental. Uma parte de Gabriel queria procurar em outro lugar, pois ele via esposas e filhos como fora do limite. Quinn, no entanto, não tinha deixado outra opção.
No lado oriental de Killary Harbor, Keller entrou em um caminho de terra e seguiu até um bosque denso. Parou em uma pequena clareira, apagou as luzes, desligou o motor e abriu o porta-malas. Gabriel ia abrir a porta, mas Keller o impediu.
— Fique aqui — foi tudo que disse antes de abrir sua porta e descer na chuva.
Nesse momento, Walsh tinha recuperado a consciência. Gabriel ouviu quando Keller explicava o que ia acontecer. Como Walsh tinha cooperado, ele seria liberado sem problemas. Sob nenhuma circunstância deveria discutir seu interrogatório com seus sócios. Nem deveria fazer qualquer tentativa de passar uma mensagem de aviso a Quinn. Se fizesse isso, disse Keller, ele era um homem morto.
— Entendido, Liam?
Gabriel ouviu Walsh murmurando algo afirmativo. Então, sentiu a parte de trás do Škoda levantar um pouco quando Keller ajudava o irlandês a se levantar. O porta-malas fechou; Walsh caminhou vendado até o bosque, Keller o guiava por um ombro. Por um momento havia somente o vento e a chuva. Então, deu para ver duas explosões de luz no fundo do bosque.
Keller logo reapareceu. Ele se sentou atrás do volante, ligou o carro e voltou para a estrada. Gabriel olhava pela janela quando notícias de um mundo complicado eram dadas pelo rádio. Dessa vez, ele não perguntou como Keller se sentia. Era pessoal. Ele fechou os olhos e dormiu. Quando acordou era de dia e estavam cruzando a fronteira com a Irlanda do Norte.
18
OMAGH, IRLANDA DO NORTE
A PRIMEIRA CIDADE DO OUTRO lado da fronteira era Aughnacloy. Keller parou para encher o tanque em uma linda igreja e depois seguiu a A5 para o norte até Omagh, assim como Quinn e Liam Walsh tinham feito na tarde de 15 de agosto de 1998. Eram poucos minutos depois das nove quando eles chegaram aos subúrbios ao sul da cidade; a chuva tinha parado e um sol forte brilhava entre as nuvens. Eles deixaram o carro perto do tribunal e caminharam até um café na Lower Market Street. Keller pediu um café da manhã irlandês tradicional, mas Gabriel só pediu chá e pão. Ele viu seu reflexo na janela e ficou estarrecido por sua aparência. Keller, ele decidiu, parecia pior. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto estava precisando muito de um barbeador. Em nenhum lugar de sua expressão, no entanto, havia qualquer sugestão de que tinha recentemente matado um homem em um bosque no condado de Mayo.
— Por que estamos aqui? — perguntou Gabriel enquanto olhava os primeiros pedestres da manhã, principalmente comerciantes, andando pelas calçadas.
— É um bom lugar.
— Já esteve aqui antes?
— Em várias ocasiões, para dizer a verdade.
— O que o trouxe a essa cidade?
— Eu costumava encontrar uma fonte aqui.
— IRA?
— Mais ou menos.
— Onde está a fonte agora?
— Cemitério de Greenhill.
— O que aconteceu?
Keller colocou a mão em forma de arma na testa.
— IRA? — perguntou Gabriel.
Keller deu de ombros.
— Mais ou menos.
A comida chegou. Keller devorou como se não tivesse comido durante vários dias, mas Gabriel pegou, sem apetite, seu pão. Do lado de fora, as nuvens estavam brincando com a luz. Era manhã, e logo em seguida, noite. Gabriel imaginou a rua cheia de vidro quebrado e partes de corpos humanos. Olhou para Keller e novamente perguntou por que eles tinham ido a Omagh.
— Caso você tenha se arrependido.
— Do quê?
Keller olhou para o que sobrava do seu café e falou:
— Liam Walsh.
Gabriel não falou nada. Do outro lado da rua, uma mulher com queimaduras em um braço e no rosto estava tentando abrir a porta de uma loja de roupas. Gabriel supôs que era uma das feridas. Foram mais de duzentos aquele dia: homens, mulheres, adolescentes, crianças. Os políticos e a imprensa sempre pareciam se concentrar nos mortos depois de uma bomba, mas os vivos eram logo esquecidos — aqueles com a pele queimada, os que tinham lembranças tão terríveis que nem toda a terapia ou medicação do mundo poderiam colocar suas mentes em paz. Essas eram as conquistas de um homem como Eamon Quinn, um homem que poderia fazer uma bola de fogo viajar a trezentos metros por segundo.
— Então? — perguntou Keller.
— Não — falou Gabriel. — Não estou arrependido.
Um Vauxhall vermelho parou no meio-fio em frente ao café e dois homens desceram. Gabriel sentiu o sangue subir até o rosto enquanto via os homens caminharem pela rua. Então, olhou para o carro como se estivesse esperando que o relógio no porta-luvas chegasse a zero.
— O que você teria feito? — ele perguntou de repente.
— Sobre o quê?
— Se soubesse onde estava a bomba naquele dia.
— Eu teria tentado avisá-los.
— E se a bomba estivesse a ponto de explodir? Teria arriscado sua vida?
A garçonete colocou a conta na mesa antes que Keller pudesse responder. Gabriel pagou a conta em dinheiro, enfiou o recibo no bolso e seguiu Keller até a rua. O tribunal estava à direita. Keller virou à esquerda e deixou Gabriel passar por lojas e vitrines coloridas, até uma torre de vidro azul-esverdeado na calçada, como uma lápide. Era o memorial para as vítimas da bomba de Omagh, colocado no ponto em que o carro tinha explodido. Gabriel e Keller ficaram ali por um momento, nenhum deles falava, enquanto os pedestres passavam. A maioria evitava os olhos deles. Do outro lado da rua, uma mulher com cabelo claro e óculos escuros levantou um smartphone, como se fosse tirar uma fotografia. Keller rapidamente se virou de costas. Assim como Gabriel.
— O que você teria feito, Christopher?
— Sobre a bomba?
Gabriel assentiu.
— Eu teria feito tudo que poderia para afastar as pessoas.
— Mesmo se você morresse?
— Mesmo se eu morresse.
— Como pode ter tanta certeza?
— Porque eu não poderia viver com essa culpa.
Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então, falou baixinho:
— Você vai ser um excelente agente do MI6, Christopher.
— Agentes do MI6 não matam terroristas e deixam seus corpos no meio do campo.
— Não — falou Gabriel. — Só os bons.
Olhou sobre o ombro. A mulher com o smartphone tinha ido embora.
Vinte e cinco anos tinham se passado desde que Christopher Keller tinha pisado em Belfast, e o centro da cidade tinha mudado muito em sua ausência. Na verdade, se não fosse por alguns pontos de referência como o Opera House e o hotel Europa, ele quase não a reconheceria. Não havia soldados britânicos patrulhando as ruas, nenhum posto de vigilância do exército no alto dos edifícios e nenhum medo no rosto dos pedestres caminhando pela Great Victoria. A geografia da cidade continuava dividida em linhas sectárias e ainda havia murais paramilitares em alguns dos bairros mais barra-pesada. Mas, na maior parte, as provas da longa e sangrenta guerra tinham sido apagadas. Belfast se promovia como uma meca do turismo. E por alguma razão, pensou Keller, os turistas realmente vinham.
Uma das principais atrações da cidade era uma cena musical celta muito vibrante que tinha reaparecido com o fim da guerra. A maioria dos bares e pubs que tinham música ao vivo estava localizada nas ruas ao redor da catedral de St. Anne. O Tommy O’Boyle’s ficava na Union, no térreo de uma velha fábrica vitoriana de tijolos vermelhos. Ainda não era meio-dia e a porta estava trancada. Keller apertou o botão do intercomunicador e rapidamente virou de costas para a câmera de segurança. Com o silêncio como resposta, ele apertou o botão uma segunda vez.
— Estamos fechados — disse uma voz.
— Eu sei ler — respondeu Keller em seu sotaque de Belfast.
— O que você quer?
— Falar com Billy Conway.
Alguns segundos de silêncio.
— Ele está ocupado.
— Tenho certeza de que terá tempo para mim.
— Qual é o seu nome?
— Michael Connelly.
— Não significa nada para mim.
— Diga a ele que eu trabalhava na lavanderia Sparkle Clean, na Road, no passado.
— O lugar fechou há anos.
— Estamos pensando em voltar a abrir.
Houve outro silêncio. Aí, a voz falou:
— Seja bonzinho e me deixa dar uma olhada na sua cara.
Keller hesitou antes de olhar para as lentes da câmera de segurança. Dez segundos depois a porta se abriu.
— Entre — disse a voz.
— Eu prefiro aqui fora.
— Como você quiser.
Havia uma pilha de jornais caída na calçada escura carregada por um vento frio que vinha do rio Lagan. Keller levantou a gola do casaco. Pensou no terraço ensolarado de sua casa na Córsega. Parecia algo de outro mundo para ele agora, um lugar que tinha visitado uma vez em sua infância. Ele não podia mais lembrar o aroma das colinas ou uma imagem clara do rosto do Dom. Era Christopher Keller de novo. Estava de volta ao jogo.
Ouviu um barulho e, virando-se, viu a porta do Tommy O’Boyle’s abrindo lentamente. Parado na abertura estreita havia um homem pequeno e magro com quase sessenta anos, uma barba grisalha no rosto e um pouco mais de cabelo na cabeça. Olhava como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, era verdade.
— Oi, Billy — disse Keller, amável. — É bom vê-lo de novo.
— Achei que estivesse morto.
— Estou morto. — Keller colocou uma mão no ombro do homem. — Vamos dar uma volta, Billy. Precisamos conversar.
19
GREAT VICTORIA STREET, BELFAST
ELES TINHAM IDO A um lugar onde ninguém iria reconhecê-los. Billy Conway sugeriu uma loja de donuts na Great Victoria; nenhum homem do IRA, ele falou, iria entrar ali. Ele pediu dois cafés grandes e se sentou em uma mesa vazia na parte de trás, perto da saída de incêndio. Era a doença de Belfast. Não se sente muito perto das janelas de vidro caso uma bomba exploda na rua. Sempre tenha uma rota de fuga se o tipo errado de pessoa entrar pela porta da frente. Keller se sentou de costas para o salão. Conway olhou para os outros enquanto dava um gole.
— Você deveria ter ligado antes — ele falou. — Quase tive um ataque do coração.
— Teria concordado em me ver?
— Não — falou Billy Conway. — Acho que não.
Keller sorriu.
— Você sempre foi honesto, Billy.
— Honesto demais. Ajudei você a colocar muitos homens no Labirinto. — Conway parou, depois acrescentou — Embaixo da terra, também.
— Isso foi há muito tempo.
— Não tanto — Conway olhou pelo interior da loja. — Eles me deram uma surra depois que você foi embora. Disseram que você entregou a eles meu nome naquela fazenda lá em Armagh.
— Não falei nada.
— Eu sei — disse Conway. — Não estaria vivo se você tivesse me entregado, estaria?
— Nenhuma chance, Billy.
Os olhos de Conway estavam se movendo de novo. Ele tinha ajudado a salvar incontáveis vidas e evitado milhões em danos nas propriedades. E sua recompensa, pensou Keller, era passar o resto da vida esperando por uma bala do IRA. A organização era como um elefante. Nunca esquecia. E certamente nunca perdoaria um informante.
— Como andam os negócios? — perguntou Keller.
— Tudo bem. Você?
Keller moveu os ombros, evasivo.
— Em que negócios você está metido hoje em dia, Michael Connelly?
— Não é importante.
— Presumo que não era seu nome verdadeiro.
Keller fez uma careta para dizer que não era.
— Como aprendeu a falar assim?
— Assim como?
— Como um de nós — disse Conway.
— Acho que é um dom.
— Você tem outros dons também — disse Conway. — Eram quatro contra um na fazenda e mesmo assim não foi uma luta justa.
— Na verdade — disse Keller —, eram cinco contra um.
— Quem era o quinto?
— Quinn.
Um silêncio caiu entre eles.
— Você é corajoso de voltar após todos esses anos — disse Conway depois de um momento. — Se descobrirem que você está na cidade, é um homem morto. Com ou sem acordo de paz.
A porta da loja se abriu e vários turistas — dinamarqueses ou suecos, Keller não conseguiu decidir — entraram. Conway franziu a testa e bebeu seu café.
— O guia turístico os traz para os bairros e mostra onde aconteceram as piores atrocidades. E depois leva ao Tommy O’Boyle’s para ouvir música.
— É bom para os negócios.
— Acho que sim — ele olhou para Keller. — É por isso que você voltou? Para fazer um passeio pela área dos conflitos?
Keller olhou a fila de turistas na rua. Então, olhou para Conway e perguntou:
— Quem foi que interrogou você depois que saí de Belfast?
— Foi o Quinn.
— Onde ele fez isso?
— Não tenho certeza. Realmente não me lembro muito, exceto da faca. Ele me disse que ia arrancar meus olhos se eu não admitisse que era um espião dos britânicos.
— O que contou a ele?
— Obviamente, eu neguei. E posso ter implorado pela minha vida também. Ele pareceu gostar disso. Sempre foi um maldito cruel.
Keller assentiu lentamente, como se Conway tivesse falado palavras de grande inspiração.
— Ouviu falar do Liam Walsh? — Conway perguntou.
— É difícil não ter ouvido.
— Quem você acha que está por trás disso?
— A Garda diz que foram drogas.
— A Garda — falou Conway — é uma merda completa.
— O que você sabe?
— Sei que alguém entrou na casa do Walsh em Dublin e matou três caras bem duros sem suar.
Conway parou, depois perguntou:
— Parece familiar?
Keller não falou nada.
— Por que você voltou aqui?
— Quinn.
— Não vai encontrá-lo em Belfast.
— Sabia que ele tem esposa e filha aqui?
— Ouvi rumores sobre isso, mas nunca descobri um nome.
— Maggie Donahue.
Conway levantou os olhos, pensativo, para o teto.
— Faz sentido.
— Conhece?
— Todo mundo conhece a Maggie.
— Trabalho?
— Do outro lado da rua, no hotel Europa. Na verdade — Conway acrescentou olhando o relógio —, ela deve estar lá agora.
— E a menina?
— Estuda na Our Lady of Mercy. Deve ter 16 agora.
— Sabe onde elas moram?
— No começo da Crumlin Road, em Ardoyne.
— Preciso do endereço, Billy.
— Sem problema.
20
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
BILLY CONWAY DEMOROU MENOS de trinta minutos para descobrir que Maggie Donahue vivia no número oito em Stratford Gardens com sua única filha, que se chamava Catherine, o mesmo nome da mãe de Quinn. Os vizinhos não sabiam a fonte do nome da menina, apesar de que a maioria suspeitava de que o marido ausente de Maggie, estivesse morto ou vivo, era algum homem do IRA, possivelmente um dissidente que tinha rejeitado o acordo da Sexta-Feira Santa. Esses sentimentos eram profundos em Ardoyne. Durante a pior parte dos conflitos, o Royal Ulster Constabulary via o bairro como uma área proibida, muito perigosa para patrulhar ou mesmo entrar. Mais de uma década depois dos acordos de paz, ainda era cenário de lutas entre católicos e protestantes.
Para complementar os pagamentos de dinheiro que ela recebia de seu marido, Maggie trabalhava como garçonete no bar do hotel Europa, o mais bombardeado do mundo. Naquela tarde ela teve o azar de atender as necessidades particulares de um hóspede chamado Herr Johannes Klemp. Seu registro no hotel tinha um endereço de Munique, mas seu trabalho — aparentemente tinha algo a ver com design de interior — exigia que ele passasse um bom tempo longe de casa. Como muitos viajantes frequentes, ele era um pouco difícil de agradar. Seu almoço, parecia, estava uma catástrofe. A salada estava muito crua, o sanduíche estava muito frio, o leite do café estava horrível. Pior ainda, ele tinha gostado da pobre criatura cujo emprego era deixá-lo feliz. Ela não gostou das tentativas dele. Poucas mulheres gostavam.
— Longo dia? — ele perguntou quando ela enchia sua xícara de café.
— Só começando.
Ela sorriu cansada. Tinha o cabelo muito escuro, a pele branca e grandes olhos azuis em cima de bochechas amplas. Tinha sido muito bonita, mas seu rosto tinha sofrido muito. Ele achava que Belfast a deixara mais velha. Ou talvez, pensou, tinha sido Quinn que havia arruinado sua beleza.
— Você é daqui? — ele perguntou.
— Todo mundo é daqui.
— Leste ou oeste?
— Você faz muitas perguntas.
— Estou apenas curioso.
— Com o quê?
— Belfast — ele respondeu.
— É por isso que veio aqui? Porque está curioso?
— Trabalho, infelizmente. Mas tenho o resto do dia para mim mesmo, então pensei em ver um pouco da cidade.
— Por que não contrata um guia turístico? Eles conhecem muito.
— Prefiro cortar os pulsos.
— Sei como se sente. — Sua ironia pareceu acertá-lo como uma pedra jogada de um trem bala. — Tem algo mais que eu poderia fazer por você?
— Pode tirar o resto do dia livre e me mostrar a cidade.
— Não posso — foi tudo que ela disse.
— Que horas você deixa o trabalho?
— Oito.
— Vou passar para beber algo e conto como foi meu dia.
Ela sorriu triste e disse:
— Vou estar aqui.
Ele pagou a conta em dinheiro e foi para a Great Victoria, onde Keller esperava atrás do volante do Škoda. No banco de trás, envolto em celofane, havia um buquê de flores. O pequeno envelope estava endereçado a maggie donahue.
— A que horas ela deixa o trabalho? — perguntou Keller.
— Ela falou oito horas, mas poderia estar tentando me evitar.
— Falei para você ser bonzinho.
— Não está no meu DNA ser bonzinho com a esposa de um terrorista.
— É possível que ela não saiba.
— Onde seu marido consegue cem mil libras em notas usadas?
Keller não tinha resposta.
— E a garota? — perguntou Gabriel.
— Está na escola até as três.
— E depois?
— Um jogo de hóquei contra Belfast Model School.
— Protestante?
— A maioria.
— Deve ser interessante.
Keller ficou em silêncio.
— Então, o que vamos fazer?
— Entregamos umas flores em Stratford Gardens.
— E depois?
— Damos uma olhada dentro.
Mas, primeiro, eles decidiram dar uma passeada pelo passado violento de Keller. Estava a velha Divis Tower, onde ele tinha morado entre os integrantes do IRA como Michael Connelly, e a lavanderia abandonada de Falls Road, onde o mesmo Michael Connelly tinha testado roupas dos membros do IRA em busca de provas de explosivos. Mais embaixo, na Road, havia o portão de ferro do cemitério de Milltown, onde Elizabeth Conlin, a mulher que Keller tinha amado em segredo, estava enterrada em uma tumba que Eamon Quinn tinha cavado para ela.
— Você nunca foi? — perguntou Gabriel.
— É muito perigoso — disse Keller, balançando a cabeça. — O IRA vigia os túmulos.
De Milltown eles passaram pelos conjuntos habitacionais em Ballymurphy até Springfield Road. Pelo lado norte havia uma barricada separando um enclave protestante de um distrito católico vizinho. A primeira das chamadas linhas de paz apareceu em Belfast, em 1969, como uma solução temporária para o sectarismo sangrento da cidade. Agora era uma característica permanente de sua geografia — na verdade, o número, a extensão e a escala tinham crescido desde a assinatura dos acordos da Sexta-Feira Santa. Na Springfield Road a barricada era uma cerca verde transparente de uns dez metros de altura. Mas em Cupar Way, uma parte especialmente tensa de Ardoyne, era uma estrutura parecida com o Muro de Berlim, com arame farpado no alto. Os moradores dos dois lados tinham pintado murais. Era possível comparar com o muro de separação entre Israel e a Cisjordânia.
— Isso parece paz para você? — perguntou Keller.
— Não — respondeu Gabriel. — Parece minha casa.
Finalmente, à uma e meia, Keller entrou em Stratford Gardens. O número oito, como seus vizinhos, era uma casa de dois andares de tijolos vermelhos com uma porta branca e uma única janela em cada andar. A grama crescia no jardim; havia um cesto de lixo verde derrubado pelo vento. Keller parou no meio-fio e desligou o carro.
— A gente se pergunta — disse Gabriel — por que Quinn decidiu viver em uma casa luxuosa na Venezuela em vez de morar aqui?
— Deu uma olhada na porta?
— Uma única fechadura, sem ferrolho.
— Quanto tempo demora para abrir?
— Trinta segundos — falou Gabriel. — Menos que isso se deixar essas estúpidas flores.
— Você precisa levar as flores.
— Prefiro levar a arma.
— Vou ficar com a arma.
— O que acontece se encontro um par de amigos do Quinn lá dentro?
— Finja ser um católico de Belfast ocidental.
— Não acho que vão acreditar em mim.
— É melhor — falou Keller. — Ou você é um homem morto.
— Algum outro conselho útil?
— Cinco minutos e nem um a mais.
Gabriel abriu a porta e desceu do carro. Keller xingou baixinho. As flores ainda estavam no banco de trás.
21
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
HAVIA UMA PEQUENA BANDEIRA tricolor irlandesa pendurada imóvel no batente da porta. Como o sonho de uma Irlanda unida, estava apagada e esfarrapada. Gabriel tentou a fechadura e, como era esperado, estava trancada. Então pegou uma fina ferramenta de metal do bolso e, usando a técnica aprendida na juventude, trabalhou cuidadosamente no mecanismo. Alguns segundos foram suficientes para a trava se entregar. Quando ele tentou a fechadura pela segunda vez, ela permitiu a passagem. Ele deu um passo e fechou a porta silenciosamente. Não tocou nenhum alarme, nenhum cachorro latiu.
A correspondência estava espalhada pelo chão. Ele juntou os vários envelopes, folhetos, revistas e propaganda, dando uma olhada rápida neles. Todos estavam em nome de Maggie Donahue, exceto uma revista de moda para adolescentes, que estava em nome de sua filha. Parecia não haver nenhuma correspondência particular de nenhum tipo, só o lixo comercial comum que entope os serviços de correios no mundo todo. Gabriel enfiou no bolso uma conta de cartão de crédito e devolveu o resto ao chão. Depois, entrou na sala de estar.
Era uma sala pequena, uns poucos metros quadrados, com espaço suficiente para o sofá, a televisão e um par de poltronas combinando. Na mesa de café havia uma pilha de revistas velhas e jornais de Belfast, junto com mais correspondência, aberta e fechada. Um dos itens era uma newsletter e um apelo financeiro para contribuir com o Movimento de Soberania dos 32 Condados, o braço político do IRA Autêntico. Gabriel ficou pensando se quem enviou sabia que estava mandando para a esposa secreta do melhor construtor de bombas e explosivos do grupo.
Ele devolveu a carta a seu envelope e à mesa. As paredes da sala estavam vazias exceto por uma violenta paisagem da costa irlandesa de qualidade inferior pendurada sobre o sofá. Em uma das mesinhas havia uma fotografia emoldurada de uma mãe e uma criança na primeira comunhão, na igreja Holy Cross. Gabriel não conseguiu encontrar nenhum traço de Quinn no rosto da criança. Nisso, pelo menos, ela era afortunada.
Olhou para o relógio. Noventa segundos tinham se passado desde que ele tinha entrado na casa. Abriu as cortinas finas e viu um carro cruzando lentamente a rua. Havia dois homens dentro. Eles pareceram notar cuidadosamente Keller enquanto passavam pelo Škoda estacionado. Então o carro continuou por Stratford Gardens e desapareceu na esquina. Gabriel olhou para o Škoda. As luzes ainda estavam apagadas. Em seguida olhou o BlackBerry. Nenhum aviso, nenhuma ligação perdida.
Ele soltou a cortina e entrou na cozinha. Uma xícara de café com batom estava na pia; pratos molhados de água com sabão. Ele abriu a geladeira. Estava razoavelmente cheia, nada verde, nenhuma fruta, nenhuma cerveja, só meia garrafa de um vinho branco italiano barato.
Soltou a porta da geladeira e começou a abrir e fechar as gavetas. Em uma encontrou um envelope cor de creme e dentro do envelope havia uma nota escrita por Quinn.
Deposite em pequenas quantidades, assim parece dinheiro de gorjeta... Mande um beijo para C...
Gabriel enfiou o bilhete no bolso do casaco perto da conta de cartão de crédito e olhou o relógio. Dois minutos e meio. Saiu da cozinha e subiu.
O carro voltou às 13h37. Novamente cruzou lentamente na frente do número oito, mas dessa vez parou ao lado do Škoda. No começo, Keller fingiu não perceber. Então, indiferente, ele abaixou o vidro.
— O que você está fazendo aqui? — perguntou o motorista com um forte sotaque de Belfast ocidental.
— Esperando uma amiga — respondeu Keller no mesmo sotaque.
— Qual é o nome da sua amiga?
— Maggie Donahue.
— E o seu? — perguntou o passageiro no carro.
— Gerry Campbell.
— De onde você é, Gerry Campbell?
— Dublin.
— E antes disso?
— Derry.
— Quando você partiu?
— Não é problema seu.
Keller não estava mais sorrindo. Nem os dois homens no outro carro. O vidro subiu; o carro continuou pela rua tranquila e desapareceu na esquina uma segunda vez. Keller pensou quanto demoraria para eles descobrirem que Maggie Donahue, a esposa secreta de Eamon Quinn, estava no momento trabalhando no hotel Europa. Dois minutos, pensou. Talvez menos. Ele tirou o celular e ligou.
— Os nativos estão começando a ficar impacientes.
— Tente dar as flores a eles.
A linha ficou muda. Keller ligou o motor e segurou a Beretta. Ficou olhando pelo espelho retrovisor e esperou que o carro voltasse.
No alto das escadas havia duas portas. Gabriel entrou no quarto à direita. Era o maior dos dois, apesar de que estava longe de ser uma suíte master. Havia roupas espalhadas pelo chão e em cima da cama desfeita. As cortinas estavam bem fechadas; não havia nenhuma luz a não ser os dígitos vermelhos do alarme, que estava dez minutos adiantado. Gabriel abriu a gaveta do criado-mudo e iluminou o conteúdo com sua lanterna. Canetas sem tinta, pilhas usadas, um envelope contendo centenas de libras em notas velhas, outra carta de Quinn. Parece que ele queria ver sua filha. Não havia menção de onde ele estava vivendo ou onde o encontro poderia acontecer. Mesmo assim, sugeria que Liam Walsh não tinha sido verdadeiro quando afirmava que Quinn não tinha tido nenhum contato pessoal com sua família desde que havia fugido da Irlanda após o ataque de Omagh.
Gabriel acrescentou a carta a sua pequena coleção de provas e abriu a porta do armário. Procurou entre a roupa e encontrou vários itens claramente pertencentes a um homem. Era possível que Maggie Donahue tivesse tido um amante durante a longa ausência de seu marido. Era possível, também, que a roupa pertencesse a Quinn. Ele tirou um dos itens, uma calça de lã e mediu o tamanho com a própria perna. Quinn, ele lembrava, media 1,78m, não era um homem alto, mas era maior que Gabriel. Ele procurou algo nos bolsos. Em um, encontrou três moedas, euros e uma pequena passagem azul e amarela. Estava rasgada, só sobrava a metade. Gabriel conseguia ver quatro números, 5846, nada mais. Na parte de trás havia uns poucos centímetros de uma tarja magnética.
Gabriel enfiou a passagem no bolso, devolveu a calça em seu cabide original e entrou no banheiro. No armário de remédios encontrou lâmina de barbear, loção pós-barba e desodorante masculino. Depois cruzou o corredor e entrou no segundo quarto. Em limpeza, a filha de Quinn era exatamente o oposto de sua mãe. A cama estava arrumada; as roupas, penduradas no armário. Gabriel procurou nas gavetas da penteadeira. Não havia drogas nem cigarro, nenhuma prova de uma vida secreta escondida da mãe. Nem havia traço de Eamon Quinn.
Gabriel olhou a hora. Tinham se passado cinco minutos. Ele foi até a janela e viu o carro com dois homens passando lentamente na rua. Quando terminou, o BlackBerry vibrou. Ele o levou até a orelha e ouviu a voz de Christopher Keller.
— Acabou o tempo.
— Mais dois minutos.
— Não temos dois minutos.
Keller desligou sem falar mais nada. Gabriel olhou no quarto. Estava acostumado a procurar nas propriedades de profissionais, não adolescentes. Profissionais eram bons em esconder coisas, adolescentes, não. Eles presumiam que todos os adultos eram tontos, e o excesso de confiança era normalmente o que levava a erros.
Gabriel voltou ao armário e procurou dentro dos sapatos. Em seguida, folheou as revistas de moda, mas não encontrou nada a não ser ofertas de assinaturas e amostras de perfumes. Finalmente, repassou a pequena coleção de livros dela. Incluía uma história dos conflitos escrita por um autor simpático ao IRA e à causa do nacionalismo irlandês. E foi ali, entre duas páginas, que encontrou o que estava procurando.
Era uma fotografia de uma adolescente e um homem usando um chapéu com abas e óculos escuros. Estavam parados em uma rua com prédios antigos, talvez europeus, talvez sul-americanos. A garota era Catherine Donahue e o homem ao seu lado era o pai, Eamon Quinn.
Stratford Gardens estava quieta quando Gabriel saiu da casa número oito. Ele passou pelo portão de metal, caminhou até o Škoda e entrou no carro. Keller abriu caminho pelas ruas principais do Ardoyne católico e voltou a Crumlin Road. Então fez um rápido giro à direita na Cambrai e só aí soltou o acelerador. Havia bandeiras inglesas penduradas nos postes. Eles tinham cruzado uma das fronteiras invisíveis de Belfast. Estavam de volta à segurança do lado protestante.
— Encontrou algo? — perguntou Keller finalmente.
— Acho que sim.
— O quê?
Gabriel sorriu e disse:
— Quinn.
22
WARRING STREET, BELFAST
– PODERIA SER QUALQUER UM — disse Keller.
— Poderia — respondeu Gabriel. — Mas não é. É o Quinn.
Estavam no quarto de Keller, no Premiere Inn, na Warring. Era na esquina do Europa e muito menos luxuoso. Ele fez o check-in como Adrien LeBlanc e falou em inglês com um sotaque francês para os funcionários. Gabriel, durante sua breve passagem pelo lobby, não tinha dito nada.
— Onde você acha que eles estão? — perguntou Keller, ainda estudando a fotografia.
— Boa pergunta.
— Não há sinais no edifício ou carros na rua. É quase como se...
— Ele escolhesse o lugar com grande cuidado.
— Talvez seja Caracas.
— Ou talvez seja Santiago ou Buenos Aires.
— Já foi?
— Aonde?
— Buenos Aires — falou Keller.
— Várias vezes, na verdade.
— Negócios ou prazer?
— Não viajo por prazer.
Keller sorriu e olhou para a foto de novo.
— Parece um pouco com o centro velho de Bogotá para mim.
— Vou ter de acreditar em você nessa.
— Ou talvez seja Madri.
— Talvez.
— Deixe-me ver esse canhoto da passagem.
Gabriel entregou. Keller olhou cuidadosamente a parte da frente. Virou e passou os dedos pela parte da tarja magnética.
— Há alguns anos — ele falou finalmente —, Dom aceitou um contrato de um cavalheiro que tinha roubado muito dinheiro de pessoas que não gostam de ter seu dinheiro roubado. O cavalheiro estava escondido em uma cidade como a dessa foto. Era uma cidade velha que tinha perdido a beleza, uma cidade de colinas e bondes.
— Qual era o nome do cavalheiro?
— Prefiro não falar.
— Onde estava escondido?
— Vou chegar lá.
Keller estava estudando a parte da frente da passagem de novo.
— Como esse cavalheiro não tinha carro, era, por necessidade, um dedicado usuário de transporte público. Eu o segui por uma semana antes de atacar, o que significou que me tornei um dedicado usuário de transporte público, também.
— Você reconhece a passagem, Christopher?
— Pode ser.
Keller pegou o BlackBerry de Gabriel, abriu o Google e digitou vários caracteres na caixa de buscas. Quando os resultados apareceram, ele clicou em um e sorriu.
— Encontrou? — perguntou Gabriel.
Keller virou o BlackBerry para que Gabriel pudesse ver a tela. Nela, havia uma versão completa da passagem que tinha encontrado na casa de Maggie Donahue.
— De onde é? — perguntou Gabriel.
— Uma cidade de colinas e bondes.
— Acho que não está se referindo a San Francisco?
— Não — falou Keller. — É Lisboa.
— Isso não prova que a foto foi tirada lá — disse Gabriel depois de um momento.
— Concordo — respondeu Keller. — Mas se pudermos provar que Catherine Donahue esteve lá...
Gabriel não falou nada.
— Você não viu o passaporte dela quando esteve na casa, viu?
— Não tive a sorte.
— Então suponho que teremos de pensar em outra forma de dar uma olhada nele.
Gabriel pegou o BlackBerry e enviou uma breve mensagem a Graham Seymour em Londres, pedindo informações sobre todas as viagens ao exterior de Catherine Donahue, de Stratford Gardens, número oito, Belfast, Irlanda do Norte. Uma hora depois, quando a escuridão caía sobre a cidade, eles recebiam a resposta.
O ministério britânico tinha emitido o passaporte em dez de novembro de 2013. Uma semana depois, ela embarcou em um voo da British Airways, em Belfast, e desceu no Heathrow de Londres onde, noventa minutos depois, passou para um segundo voo da British Airways, com destino a Lisboa. De acordo com autoridades de imigração portuguesa, ela ficou no país por apenas três dias. Foi sua única viagem ao exterior.
— Nada disso prova que Quinn estava vivendo ali na época — afirmou Keller.
— Por que levá-la a Lisboa entre tantos lugares? Por que não Mônaco, Cannes ou St. Moritz?
— Talvez Quinn estivesse sem dinheiro.
— Ou talvez ele mantenha um apartamento ali, em um velho edifício charmoso no tipo de vizinhança onde ninguém notaria um estrangeiro indo e vindo.
— Conhece alguns lugares assim?
— Passei toda a minha vida em lugares assim.
Keller ficou em silêncio por um momento.
— E agora? — perguntou finalmente.
— Acho que poderíamos levar a foto e meu desenho do rosto dele, e começar a bater nas portas.
— Ou?
— Contratamos os serviços de alguém que é especialista em encontrar aqueles que preferem não ser encontrados.
— Algum candidato?
— Só um.
Gabriel pegou o BlackBerry e ligou para Eli Lavon.
23
BELFAST — LISBOA
ELES DECIDIRAM TOMAR O caminho mais longo até Lisboa. Melhor não chegar à cidade tão rapidamente, disse Gabriel. Melhor tomar cuidado com os arranjos de viagem e a trilha que deixariam. Pela primeira vez, Quinn era real para eles. Não era mais só um rumor. Era um homem em uma rua, com uma filha ao lado. Tinha carne em seus ossos, sangue em suas veias. Ele poderia ser encontrado. E então poderia ser tirado de seu sofrimento.
Então eles deixaram Belfast assim como entraram, em silêncio e sob falsos argumentos. Monsieur LeBlanc falou ao funcionário do Premiere que tinha uma pequena crise pessoal para resolver; Herr Klemp contou algo parecido no hotel Europa. Passando pelo lobby, viu Maggie Donahue, a esposa secreta do assassino, servindo um copo de uísque muito grande a um homem de negócios já bêbado. Ela evitou o olhar de Herr Klemp e ele evitou o dela.
Dirigiram até Dublin, abandonaram o carro no aeroporto e fizeram o check-in em dois quartos no Radisson. Pela manhã, tomaram café como estranhos no restaurante do hotel e depois embarcaram em voos separados para Paris: Gabriel, na Aer Lingus; Keller, na Air France. O voo de Gabriel chegou primeiro. Ele retirou um Citroën limpo do estacionamento e estava esperando no desembarque quando Keller saiu do terminal.
Passaram aquela noite em Biarritz, onde Gabriel já tinha matado alguém por vingança, e, na noite seguinte, na cidade espanhola de Vitoria, onde Keller, em nome de Dom Anton Orsati, já tinha matado um membro do grupo separatista basco ETA. Gabriel podia ver que as ligações de Keller com sua antiga vida estavam começando a entrar em choque; que Keller, a cada dia que passava, estava ficando mais confortável com a perspectiva de trabalhar para Graham Seymour no MI6. Quinn tinha iniciado a cadeia de eventos que havia levado à ruptura de laços de Keller com a Inglaterra. E agora, 25 anos depois, Quinn estava levando Keller de volta para casa.
De Vitoria, eles foram para Madri, e de Madri dirigiram até Badajoz, perto da fronteira portuguesa. Keller estava ansioso para ir a Lisboa, mas, por insistência de Gabriel, eles foram mais para o oeste e pegaram os últimos fracos raios de sol da temporada em Estoril. Ficaram em hotéis separados na praia e levaram vidas separadas de homens sem esposas, sem filhos, sem cuidados ou responsabilidade. Gabriel passava várias horas do dia garantindo que não estavam sendo vigiados. Sentiu a tentação de enviar uma mensagem a Chiara, em Jerusalém, mas não se atreveu. Nem fez contato com Eli Lavon. Lavon era um dos mais experientes rastreadores de homens do mundo. Quando jovem, tinha caçado os membros do Setembro Negro, que realizaram o massacre da Olimpíada de Munique de 1972. Então, depois de deixar o Escritório, tinha começado a trabalhar de forma privada, rastreando bens roubados no Holocausto e algum ocasional criminoso de guerra nazista. Se houvesse algum traço de Quinn em Lisboa — uma residência, um apelido, outra esposa ou filho — Lavon encontraria.
Mas quando se passaram mais dois dias sem nenhuma notícia, até Gabriel começou a ter dúvidas, não da capacidade de Lavon, mas em sua fé de que Quinn tinha algum tipo de ligação com Lisboa. Talvez Catherine Donahue tivesse viajado à cidade com amigos ou como parte de uma viagem escolar. Talvez as calças que Gabriel tinha encontrado no armário de Maggie Donahue pertencessem a outro homem, assim como a passagem rasgada do sistema de bondes de Lisboa. Eles teriam de procurar em outro lugar, ele pensou — no Irã, no Líbano, no Iêmen ou na Venezuela, ou em algum dos incontáveis outros lugares onde Quinn tinha exercido seu mortal negócio. Quinn era um homem do submundo. Ele poderia estar em qualquer lugar.
Mas na terceira manhã de sua estada, Gabriel recebeu uma breve, mas promissora mensagem de Eli Lavon sugerindo que o homem em questão era um visitante frequente da cidade de interesse. Ao meio-dia, Lavon tinha certeza disso, e, no fim da tarde, havia descoberto um endereço. Gabriel ligou para o hotel de Keller e contou que estavam prontos para agir. Eles deixaram Estoril assim como tinham entrado, em silêncio e sob falsos argumentos, dirigindo-se a Lisboa.
— Ele se chama Alvarez.
— Como em português ou espanhol?
— Isso depende do humor dele.
Eli Lavon sorriu. Estavam sentados em uma mesa no Café Brasileira, no bairro do Chiado, em Lisboa. Eram nove e meia e o café estava lotado. Ninguém parecia notar muito os dois homens de meia-idade em frente a xícaras de café em um canto. Eles conversavam em alemão baixinho, uma das muitas línguas que tinham em comum. Gabriel falava no sotaque de Berlim de sua mãe, mas o alemão de Lavon era definitivamente vienense. Usava um suéter de cardigã por baixo da jaqueta de tweed enrugada e um lenço no pescoço. O cabelo era ralo e despenteado; os traços do rosto eram comuns e facilmente esquecíveis. Era um dos seus maiores bens. Eli Lavon parecia ser uma das muitas pessoas pouco interessantes do mundo. Na verdade, era um predador natural que podia seguir um agente de inteligência altamente treinado ou um terrorista duro em qualquer rua do mundo sem atrair nenhum interesse.
— Primeiro nome? — perguntou Gabriel.
— Às vezes José. Outras vezes, ele é Jorge.
— Nacionalidade?
— Às vezes venezuelano, às vezes equatoriano. — Lavon sorriu. — Está começando a ver um padrão?
— Mas ele nunca tenta se passar por português.
— Não domina o idioma para isso. Até seu espanhol é duro. Aparentemente, ele tem bastante sotaque.
Alguém no bar deve ter dito algo divertido, porque uma explosão de risadas reverberou pelo chão de azulejos quadriculado e morreu no alto do teto, onde os candelabros emitiam um fraco brilho dourado. Gabriel olhou por cima do ombro de Lavon e imaginou que Quinn estava sentado na mesa ao lado. Mas não era Quinn; era Christopher Keller. Estava segurando uma xícara de café na mão direita. A mão direita significava que estava tudo bem, a esquerda significava problemas. Gabriel olhou para Lavon de novo e perguntou sobre a localização do apartamento de Quinn. Lavon inclinou a cabeça na direção do Bairro Alto.
— Como é o prédio?
Lavon fez um gesto com a mão para indicar que estava entre aceitável e condenável.
— Porteiro?
— No Bairro Alto?
— Que andar?
— Segundo.
— Podemos entrar?
— Estou surpreso por perguntar isso. A questão é — continuou Lavon — nós queremos entrar?
— Queremos?
Lavon balançou a cabeça.
— Quando temos a sorte de encontrar a segunda casa de um homem como Eamon Quinn, não nos arriscamos a jogar tudo fora correndo até a porta da frente. Adquirimos um posto de observação fixo e esperamos pacientemente o alvo aparecer.
— A menos que existam outros fatores a considerar.
— Como quais?
— A possibilidade de que outra bomba exploda.
— Ou que nossa esposa esteja a ponto de dar à luz a gêmeos?
Gabriel franziu a testa, mas não disse nada.
— Caso você esteja se perguntando — disse Lavon —, ela está bem.
— Está brava?
— Está de sete meses e meio, e seu marido está sentado em um café em Lisboa. Como você acha que ela se sente?
— Como está a segurança dela?
— A rua Narkiss é, possivelmente, a rua mais segura de toda Jerusalém. Uzi mantém uma equipe de segurança na porta o tempo todo.
Lavon hesitou, depois acrescentou:
— Mas todos os guarda-costas do mundo não substituem um marido.
Gabriel não falou nada.
— Posso fazer uma sugestão?
— Se você tiver.
— Volte a Jerusalém por uns dias. Seu amigo e eu podemos vigiar o apartamento. Se Quinn aparecer, você será o primeiro a saber.
— Se eu for a Jerusalém — respondeu Gabriel — não vou querer partir.
— Foi por isso que eu sugeri. — Lavon pigarreou gentilmente. Era um sinal de mais intimidade. — Sua esposa gostaria que você soubesse que daqui a um mês, talvez menos, você será pai de novo. Ela gostaria que você estivesse presente na ocasião. Ou, do contrário, sua vida não vai valer nada.
— Ela falou algo mais?
— Ela pode ter mencionado algo sobre Eamon Quinn.
— O que ela disse?
— Aparentemente, Uzi contou a ela sobre a operação. Sua esposa não aceita bem homens que explodem mulheres e crianças inocentes. Ela gostaria que você encontrasse Quinn antes de voltar para casa. E depois — acrescentou Lavon —, ela gostaria que você o matasse.
Gabriel olhou para Keller e disse:
— Isso não será necessário.
— Entendo — falou Lavon. — Sorte sua.
Gabriel sorriu e tomou um gole de café. Lavon enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um dispositivo USB. Colocou na mesa e empurrou na direção de Gabriel.
— Como pedido, o arquivo completo do Escritório sobre Tariq al-Hourani, nascido na Palestina durante a grande catástrofe árabe, morto a tiros nas escadas de um prédio de apartamentos de Manhattan pouco antes da queda das Torres Gêmeas.
Lavon esperou antes de falar:
— Acredito que você estava lá na época. Por algum motivo, não fui convidado.
Gabriel olhou para o dispositivo em silêncio. Havia partes do arquivo que ele não iria ler de novo — pois foi Tariq al-Hourani que, em uma noite de um janeiro com muita neve, em 1991, tinha plantado uma bomba embaixo do carro de Gabriel, em Viena. A explosão tinha matado seu filho, Dani, e mutilado Leah, sua primeira esposa. Ela vivia em um hospital psiquiátrico no alto do monte Herzl, dentro de uma prisão da memória e um corpo destruído pelo fogo. Durante uma recente visita, Gabriel tinha contado que ele logo seria pai de novo.
— Eu achava — disse Lavon, com a voz baixa — que você conhecia esse arquivo de cor.
— Conheço — disse Gabriel. — Mas gostaria de refrescar minha memória sobre uma parte especial da carreira dele.
— Qual?
— A época que passou na Líbia.
— Tem algum pressentimento?
— Talvez.
— Algo mais que você quer me contar?
— Fico feliz que esteja aqui, Eli.
Lavon mexeu lentamente o café.
— Pelo menos um dos dois está.
Eles saíram pela famosa porta verde do Brasileira em uma praça onde Fernando Pessoa estava sentado em bronze por toda a eternidade, sua punição por ser o poeta mais famoso de Portugal. O vento frio do Tejo rodopiava em um anfiteatro de graciosos edifícios amarelos; um bonde chacoalhava passando pelo largo do Chiado. Gabriel imaginou Quinn sentado em uma cadeira perto da janela, o Quinn do rosto alterado cirurgicamente e de coração sem misericórdia. Quinn, a prostituta da morte. Lavon estava subindo a colina, lentamente, como um flâneur. Gabriel ia ao lado dele e juntos caminharam por um labirinto de ruas escuras. Lavon nunca parou para pensar em seu rumo ou consultar um mapa. Estava falando em alemão sobre uma descoberta que tinha feito recentemente em uma escavação sob a Cidade Velha de Jerusalém. Quando não estava trabalhando para o Escritório, ele era professor-adjunto de arqueologia bíblica na Universidade Hebraica. Na verdade, por causa de uma descoberta monumental que tinha feito debaixo do monte do Templo, Eli Lavon era visto como a resposta de Israel a Indiana Jones.
Ele parou de repente e perguntou:
— Reconhece isso?
— Reconheço o quê?
— Esse lugar. — Com o silêncio como resposta, Lavon se virou. — Que tal agora?
Gabriel se virou também. Não havia nenhuma luz acesa na rua. A escuridão tinha deixado os edifícios sem formato, sem características ou detalhes.
— É onde eles estavam parados. — Lavon deu uns poucos passos subindo a rua com paralelepípedos. — E a pessoa que tirou a fotografia estava parada aqui.
— Pergunto-me quem poderia ser.
— Poderia ter sido alguém que passava na rua.
— Quinn não parece o tipo de pessoa que deixaria um completo estranho tirar uma foto dele.
Lavon voltou a caminhar sem dar outra palavra e subiu mais o bairro. Fez várias outras curvas, à esquerda e à direita, até Gabriel ter perdido todo o sentido de direção. Seu único ponto de orientação era o Tejo, que aparecia esporadicamente através dos espaços entre os prédios, sua superfície brilhando como as escamas de um peixe. Finalmente, Lavon parou e apontou com a cabeça para a entrada de um edifício. Era um pouco mais alto que a maioria dos edifícios no Bairro Alto, quatro andares em vez de três, e todo grafitado no térreo. Uma persiana no segundo andar estava aberta obliquamente; havia uma videira florescendo pendurada na sacada enferrujada. Gabriel caminhou até a entrada e inspecionou o interfone. Não havia nome no 2B. Ele colocou seu dedão no botão e a campainha soou forte, como através de uma janela aberta ou paredes de papel. Então colocou a mão suavemente sobre a maçaneta.
— Sabe quanto tempo demoraria para abrir isso?
— Uns 15 segundos — respondeu Lavon. — Mas quem espera alcança boas coisas.
Gabriel olhou para o declive da rua. No canto, havia um pequeno restaurante onde Keller estava estudando, indiferente, o menu em uma mesa na rua. Bem em frente ao prédio havia um par de casinhas, e uns passos depois havia um prédio de quatro andares com uma fachada cor de canário. Preso na entrada, meio enrolado como se estivesse há muito tempo sob o sol, havia um cartaz explicando em português e inglês que havia um apartamento no prédio disponível para aluguel.
Gabriel arrancou o cartaz e enfiou no bolso. Então, com Lavon a seu lado, passou por Keller sem dar uma palavra ou olhar e desceu a colina até o rio. Na manhã, enquanto tomava café no Brasileira, ele ligou para o número impresso no cartaz. E, ao meio-dia, depois de pagar seis meses de aluguel e um depósito de segurança antecipado, o apartamento era dele.
24
BAIRRO ALTO, LISBOA
GABRIEL SE MUDOU PARA o apartamento logo cedo com o ar de um homem cuja esposa não podia mais tolerar sua companhia. Ele não tinha posses a não ser uma mala bem viajada e manteve a cara fechada que mostrava que não estava ali para socializar. Eli Lavon chegou uma hora mais tarde trazendo duas sacolas de compras — para fazer, era o que parecia, uma refeição de consolo. Keller chegou por último. Entrou no prédio com o silêncio de um ladrão e se estabeleceu na frente de uma janela como se estivesse entrando no esconderijo do País dos Bandidos de Armagh. E assim começou a longa vigília.
O apartamento tinha móveis, mas poucos. A pequena reunião de cadeiras que não combinavam na sala de estar parecia ter sido adquirida em um mercado de móveis usados; os dois quartos eram como celas de monges ascéticos. A falta de camas não atrapalhava, pois um homem sempre estava vigiando na janela. Invariavelmente, era Keller. Ele tinha esperado muito tempo para que Quinn saísse de seu porão e queria a honra de ser o primeiro a colocar os olhos sobre ele. Gabriel pendurou o desenho do rosto de Quinn na parede como um retrato familiar, e Keller o consultava sempre que se aproximava um homem de idade e altura parecida — quarenta e poucos, talvez 1,77 — passando na rua estreita. Cedo, na terceira manhã, ele se convenceu de que viu Quinn indo da direção do café fechado. Era o rosto de Quinn, ele disse a Lavon em um sussurro animado. Mais importante, ele falou, era a forma como Quinn caminhava. Mas não era Quinn; era um homem português que, eles descobriram mais tarde, trabalhava em uma loja a poucas ruas dali. Lavon, um especialista em vigilância física, explicou que era um dos perigos de uma longa vigília. Às vezes, o vigilante vê o que quer ver. E, às vezes, o alvo está parado na frente dele e o vigilante está muito cego pela fadiga ou pela ambição para perceber.
O dono do apartamento acreditava que Gabriel era o único ocupante do lugar, então só ele aparecia em público. Era um homem com o coração machucado, um homem com muito tempo livre. Caminhava pelas ladeiras do Bairro Alto, andava de bonde aparentemente sem destino, visitou o Museu do Chiado, passava as tardes no Brasileira. E em um parque verde nas margens do Tejo, encontrou um mensageiro do Escritório que entregou uma mala cheia de ferramentas de um posto de campo: uma câmera com tripé com uma teleobjetiva com visão noturna, um microfone parabólico, rádios seguros, um transmissor miniatura e um laptop com um link de satélite seguro com o Boulevard Rei Saul. Além disso, havia um bilhete do chefe de Operações gentilmente dando uma bronca por Gabriel ter adquirido uma propriedade segura por meios próprios em vez de usar o departamento de Organização Interna. Havia também uma carta manuscrita de Chiara. Gabriel leu duas vezes antes de queimar na pia do banheiro. Depois disso, seu humor estava tão negro quanto as cinzas que ele jogou ritualmente no cano.
— Minha oferta ainda está de pé — disse Lavon.
— Qual?
— Eu fico aqui com o Keller. Você vai para casa ficar com sua esposa.
A resposta de Gabriel foi a mesma de antes, e Lavon nunca voltou a falar no assunto — mesmo tarde da noite, quando as mesas do canto do restaurante estavam vazias e a chuva batizava a rua silenciosa. Eles diminuíram as luzes do apartamento, assim suas sombras não seriam visíveis de fora, e, no escuro, os anos desapareceriam de seus rostos. Eles poderiam ter sido os mesmos garotos de vinte e poucos anos que o Escritório tinha despachado no outono de 1972 para caçar os realizadores do massacre da Olimpíada de Munique. A operação foi chamada de Ira de Deus. No léxico com base no hebreu da equipe, Lavon tinha sido um ayin, um rastreador. Gabriel era um aleph, um assassino. Durante três anos eles perseguiram suas presas por toda a Europa, matando na escuridão e em plena luz do dia, vivendo com medo de que a, qualquer momento, pudessem ser presos e acusados de assassinato. Tinham passado noites infinitas em quartos apertados vigiando entradas e homens, habitando secretamente a vida dos outros. Estresse e visões de sangue tiraram deles a capacidade de dormir. Um rádio transistor era a única ligação com o mundo real. Contava sobre guerras perdidas e vencidas, sobre um presidente norte-americano que renunciou e, às vezes, nas quentes noites de verão, tocava música para eles — a mesma música que garotos normais de vinte anos estavam ouvindo, garotos que não tinham sido chamados por seu país a servirem como executores, anjos de vingança dos 11 judeus assassinados.
A falta de sono logo era epidêmica no pequeno apartamento no Bairro Alto. Eles tinham planejado fazer turnos rotativos de duas horas no posto ao lado da janela, mas com o passar dos dias, e a insônia mútua dominando, os três agentes veteranos estabeleceram um tipo de vigilância permanente conjunta. Todos que passavam pela janela deles eram fotografados, independentemente de idade, gênero ou nacionalidade. Aqueles que entraram no prédio-alvo recebiam um exame adicional, assim como os moradores. Gradualmente, seus segredos foram descobertos no posto de observação. Essa era a natureza de qualquer observação de longo prazo. Com bastante frequência, os pecados venais dos inocentes eram expostos.
O apartamento tinha uma televisão com uma antena satélite que perdia o sinal sempre que chovia ou mesmo quando o vento mais leve soprava nas ruas. Servia como a ligação deles com o mundo que, a cada dia, parecia ir ficando cada vez mais descontrolado. Era o mundo que Gabriel iria herdar no momento em que fizesse seu juramento como o próximo chefe do Escritório. E seria o mundo de Keller também, se ele quisesse. Keller era a última restauração de Gabriel. Seu verniz sujo tinha sido removido, sua tela tinha sido realinhada e retocada. Ele não era mais o assassino inglês. Logo seria o espião inglês.
Como todos os bons vigilantes, Keller foi abençoado com uma paciência natural. Mas, com sete dias de observação, sua paciência já tinha acabado. Lavon sugeriu uma caminhada pelo rio ou uma viagem até a costa, qualquer coisa para quebrar a monotonia da vigilância, mas Keller se recusou a deixar o apartamento ou abandonar seu posto na janela. Ele fotografava os rostos que passavam na rua — velhos conhecidos, recém-chegados, transeuntes — e esperava por um homem com quarenta e poucos anos, aproximadamente 1,77m de altura, que parasse na entrada do prédio do outro lado da estreita rua. Para Lavon, parecia que Keller estava vigiando a Lower Market Street, em Omagh, esperando que um Vauxhall Cavalier vermelho andando devagar de marcha à ré parasse para estacionar no meio-fio; esperando que dois homens, Quinn e Walsh, descessem. Walsh tinha sido punido por seus pecados. Quinn seria o próximo.
Mas quando se passou outro dia sem sinal dele, Keller sugeriu que fizessem a busca em outro lugar. A América do Sul, ele falou, era o local mais lógico. Eles podiam ir até Caracas e começar a chutar umas portas até encontrarem a do Quinn. Gabriel parecia estar pensando seriamente na questão. Na realidade, ele estava olhando a mulher de uns trinta anos sentada sozinha no restaurante no final da rua. Ela havia colocado a bolsa na cadeira ao lado. Era uma bolsa grande, grande o suficiente para acomodar artigos de higiene, até uma muda de roupa. O zíper estava aberto, e a bolsa estava virada de uma forma que deixava os conteúdos facilmente acessíveis. Uma agente feminina do Escritório teria deixado a bolsa do mesmo jeito, pensou Gabriel, especialmente se houvesse uma arma ali.
— Está me ouvindo? — perguntou Keller.
— Cada palavra — mentiu Gabriel.
A última luz do crepúsculo estava se apagando; a mulher de uns trinta anos ainda estava usando óculos escuros. Gabriel virou a lente para o rosto dela, deu um zoom e tirou uma fotografia. Ele examinou cuidadosamente pelo visor da câmera. Era um rosto bonito, pensou, um rosto que valia uma pintura. As bochechas eram amplas, o queixo era pequeno e delicado, a pele era impecável e branca. Os óculos escuros escondiam seus olhos, mas Gabriel achava que eram azuis. O cabelo era na altura dos ombros e muito escuros. Ele duvidava que a cor fosse natural.
No momento em que Gabriel tirou a fotografia, a mulher estava olhando o menu. Agora estava olhando para a rua. Não era a melhor visão. A maioria dos frequentadores do restaurante olhava para o lado oposto, que tinha uma vista melhor da cidade. Apareceu um garçom. Tarde demais, Gabriel pegou o microfone parabólico e virou para a mesa. Ele ouviu o garçom dizer “Thank you”, em inglês, seguido por uma explosão de música. Era o toque do celular dela. A mulher desligou a chamada com um botão, colocou de novo o telefone na bolsa e tirou um guia de Lisboa. Gabriel novamente olhou pelo visor da câmera e deu um zoom, não no rosto da mulher, mas no guia que ela tinha nas mãos. Era um Frommer’s, em inglês. Ela o abaixou uns segundos e retomou o estudo da rua.
— O que você está olhando? — perguntou Keller.
— Não tenho certeza.
Keller se aproximou da janela e seguiu o olhar de Gabriel.
— Bonita — ele falou.
— Talvez.
— Recém-chegada ou habitué?
— Turista, aparentemente.
— Por que uma jovem turista bonita comeria sozinha?
— Boa pergunta.
O garçom reapareceu com uma taça de vinho branco, que colocou na mesa, ao lado do guia de Lisboa. Ele abriu o bloco de anotações, mas ela disse algo que o fez ir embora sem escrever nada. Ele voltou um momento depois com a conta. Colocou na mesa e foi embora. Não trocaram nenhuma palavra.
— O que acabou de acontecer? — perguntou Keller.
— Parece que a jovem turista bonita mudou de ideia.
— Por que será?
— Talvez tenha algo a ver com a ligação que não atendeu.
A mão da mulher agora estava mexendo na bolsa aberta. Quando reapareceu, havia uma nota em euros. Ela colocou em cima da conta, prendeu com a taça de vinho e se levantou.
— Acho que ela não gostou — disse Gabriel.
— Talvez tenha ficado com dor de cabeça.
A mulher pegou a bolsa, colocou-a no ombro e deu uma olhada final para a rua. Então se virou para a direção oposta, dobrou a esquina e desapareceu.
— Que pena — disse Keller.
— Vamos ver — disse Gabriel.
Ele estava olhando o garçom pegar o dinheiro. Mas, em seus pensamentos, estava calculando quanto tempo levaria para vê-la de novo. Dois minutos, calculou; era quanto tempo demoraria para voltar ao destino por uma rua paralela. Ele marcou o tempo no relógio e quando se passaram noventa segundos, olhou de novo pelo visor e começou a contar lentamente. Quando chegou a vinte, ele a viu surgir meio iluminada, a bolsa sobre o ombro, os óculos de sol sobre os olhos. Parou na entrada do prédio-alvo, enfiou uma chave na fechadura e abriu a porta. Quando entrou no hall, outro morador, um homem de vinte e poucos anos, estava saindo. Ele olhou por cima do ombro para ela; se era por admiração ou curiosidade, Gabriel não sabia dizer. Ele tirou uma foto do morador, depois olhou para as janelas escuras do segundo andar. Dez segundos depois, havia luz por trás das persianas.
CONTINUA
GUSTÁVIA, SÃO BARTOLOMEU
NADA DISSO TERIA ACONTECIDO se Spider Barnes não tivesse ido ao Eddy’s duas noites antes da partida do Aurora. Spider era visto como o melhor chef de cozinha de embarcações de todo o Caribe: bravo, mas também insubstituível, um gênio louco de jaleco branco e avental. Spider, sabem, tinha treinamento clássico. Ele tinha trabalhado um tempo em Paris, um tempo em Londres e também em Nova York e São Francisco, além de ter tido uma estada infeliz em Miami antes de deixar o negócio de restaurantes para sempre e ser livre no mar. Ele trabalhava em grandes iates agora, o tipo de embarcação que estrelas de cinema, rappers, bilionários e quem gosta de aparecer alugava sempre que queriam impressionar. E, quando Spider não estava atrás do fogão, estava caído sobre os melhores balcões de bar em terra firme. O Eddy’s estava entre os cinco melhores do Caribe, talvez os cinco melhores do mundo. Ele começou às sete horas aquela noite com umas cervejas, fumou um baseado no jardim escuro às nove e, às dez, estava contemplando seu primeiro copo de rum de baunilha. Tudo parecia ótimo no mundo. Spider Barnes estava tonto e no paraíso.
Mas então ele viu Verônica, e a noite fez uma curva perigosa. Ela era nova na ilha, uma garota perdida, uma europeia de procedência incerta que servia bebidas para turistas no bar de mergulhadores ao lado. Era bonita, no entanto — “bonita como um toque floral”, Spider comentou com seu companheiro de bebida — e se apaixonou por ela em dez segundos. Pediu a garota em casamento, que era a principal cantada de Spider, e quando ela recusou, ele sugeriu que fossem para a cama, então. De alguma forma, isso funcionou e os dois foram vistos cambaleando sob uma chuva torrencial à meia-noite. E essa foi a última vez que alguém o viu: à meia-noite e meia de uma noite chuvosa em Gustávia, totalmente molhado, bêbado e novamente apaixonado.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/15_O_ESPI_O_INGLES.jpg
O capitão do Aurora, um iate luxuoso de 154 pés de Nassau, era um homem chamado Ogilvy — Reginald Ogilvy, ex-membro da Royal Navy, um ditador benevolente que dormia com uma cópia do regulamento no criado-mudo, junto com a Bíblia do Rei James de seu avô. Ele nunca tinha se importado com Spider Barnes, não antes das nove da manhã seguinte, quando o renomado chef não apareceu na reunião regular da equipe. Não era uma reunião comum, pois o Aurora estava sendo preparado para um convidado muito importante. Só Ogilvy conhecia sua identidade. Ele também sabia que os acompanhantes incluíam uma equipe de seguranças e que a pessoa era exigente, para dizer o mínimo, o que explicava por que ficou alarmado pela ausência de Spider.
Ogilvy informou a situação ao supervisor do porto de Gustávia, que rapidamente informou à polícia local. Dois policiais bateram à porta da pequena casa de Verônica no alto da colina, mas não havia nenhum sinal dela também. Em seguida, realizaram uma busca nos vários pontos da ilha onde os bêbados e os apaixonados tipicamente se lavavam depois de uma noite de devassidão. Um sueco com o rosto vermelho no Le Select afirmou ter pagado uma Heineken a Spider aquela manhã. Outro disse que o viu caminhando pela praia em Colombier, e houve uma informação, nunca confirmada, de uma pessoa inconsolável uivando para a lua nos bosques de Toiny.
A polícia seguiu cada uma das pistas. Reviraram a ilha de norte a sul, de popa a proa, sem encontrar nada. Alguns minutos depois do pôr do sol, Reginald Ogilvy informou à equipe do Aurora que Spider Barnes tinha desaparecido e que um substituto à altura teria de ser encontrado o mais rápido possível. A equipe se espalhou pela ilha, dos restaurantes à beira-mar de Gustávia às barracas de praia do Grand Cul-de-Sac. E, às nove da noite, em um dos lugares menos prováveis, eles encontraram seu homem.
Ele tinha chegado à ilha no auge da temporada de furacões e se estabeleceu em uma casa no fim da praia de Lorient. Não tinha bagagem a não ser uma mochila de lona, uma pilha de livros bastante folheados, um rádio de onda curtas e uma scooter velha que tinha comprado em Gustávia com umas notas encardidas e um sorriso. Os livros eram grossos, pesados e muito usados; o rádio tinha uma qualidade raramente vista hoje em dia. No final da noite, quando ele se sentava na varanda meio inclinada, lendo à luz de uma lanterna à pilha, o som da música flutuava acima do farfalhar das folhas de palmeira e o gentil ir e vir das ondas. Jazz e clássica, principalmente, e às vezes um pouco de reggae das estações de outros países. A cada hora, ele deixava o livro e ouvia atentamente as notícias da BBC. Então, quando terminava o boletim, ele procurava algo de que gostasse, e as palmeiras e o mar mais uma vez dançavam ao ritmo de sua música.
No começo, não estava claro se estava de férias, de passagem, se escondendo ou planejando viver permanentemente na ilha. Dinheiro não parecia ser um problema. De manhã, quando ia à confeitaria tomar o café da manhã, sempre dava boas gorjetas às garotas. E à tarde, quando parava no pequeno mercado perto do cemitério para comprar cerveja alemã e cigarro americano, nunca se importava com o troco que saía do dispensador automático. Seu francês era razoável, mas tingido com um sotaque que ninguém conseguia identificar. Seu espanhol, que ele falava com o dominicano que trabalhava no balcão do JoJo Burger, era muito melhor, mas ainda havia aquele sotaque. As garotas na confeitaria decidiram que ele era australiano, mas os garotos do JoJo Burger achavam que era africânder. Estavam por todo o Caribe, os africânderes. Na maior parte, gente decente, mas uns poucos deles tinham negócios escusos.
Os dias dele, apesar de indefinidos, não pareciam totalmente despropositados. Ele tomava café na confeitaria, parava na banca de jornal em Saint-Jean para comprar vários jornais ingleses e americanos do dia anterior, fazia exercícios rigorosos na praia, lia densos volumes de literatura e história com um chapéu cobrindo os olhos. E, certa vez, ele alugou um barco e passou a tarde mergulhando na ilha de Tortu. Mas sua inatividade parecia mais forçada do que voluntária. Ele parecia um soldado ferido esperando voltar ao campo de batalha, um exilado sonhando com sua terra natal, onde quer que fosse.
De acordo com Jean-Marc, oficial de aduana no aeroporto, ele tinha chegado em um voo de Guadalupe com um passaporte venezuelano válido e o peculiar nome de Colin Hernandez. Parecia ser o produto de um breve casamento entre uma mãe anglo-irlandesa e um pai espanhol. A mãe tinha brincado de ser poeta; o pai tinha feito algo suspeito com dinheiro. Colin odiava o pai, mas falava da mãe como se a canonização fosse uma mera formalidade. Carregava a foto dela em sua carteira. O menino loiro no colo dela não se parecia muito com ele, mas o tempo fazia essas coisas.
O passaporte dizia que tinha 38, o que parecia correto, e sua ocupação era “empresário”, o que podia significar qualquer coisa. As garotas da padaria achavam que era um escritor buscando inspiração. O que mais explicaria o fato de que quase nunca era visto sem um livro? Mas as garotas do mercado criaram uma louca teoria, totalmente sem base, de que ele tinha assassinado um homem em Guadalupe e estava se escondendo em São Bartolomeu até a tempestade passar. O dominicano do JoJo Burger, que estava se escondendo, achou a hipótese ridícula. Colin Hernandez, ele declarou, era apenas outro preguiçoso vivendo do dinheiro de um pai que odiava. Ele ficaria ali até se cansar, ou até o dinheiro acabar. Aí voaria para outro lugar e, em dois ou três dias, ninguém nem se lembraria do nome dele.
Finalmente, um mês depois de sua chegada, houve uma pequena mudança na rotina. Depois de almoçar no JoJo Burger, ele foi até o barbeiro em Saint-Jean, e quando saiu, sua juba negra desgrenhada estava raspada, esculpida e lustrosamente azeitada. Na manhã seguinte, quando apareceu na padaria, estava recém-barbeado e vestido com calça cáqui e uma camisa branca bem passada. Ele tomou o café de sempre — uma xícara grande de café com leite e uma fatia de pão — enquanto lia o Times de Londres do dia anterior. Aí, em vez de voltar para casa, ele subiu na scooter e foi até Gustávia. Ao meio-dia, finalmente ficou claro por que o homem chamado Colin Hernandez tinha vindo a São Bartolomeu.
Ele foi primeiro ao velho e imponente hotel Carl Gustaf, mas o chef, depois de saber que ele não tinha nenhum treinamento formal, se recusou a entrevistá-lo. Os donos do Maya’s o recusaram educadamente, assim como os gerentes do Wall House, Ocean e La Cantina. Ele tentou o La Plage, mas não se interessaram. Nem o Eden Rock, o Guanahani, La Crêperie, Le Jardin ou Le Grain de Sel, o solitário posto de frente para os pântanos de sal de Saline. Até La Gloriette, fundado por um exilado político, não quis nada com ele.
Decidido, ele tentou a sorte nas joias pouco conhecidas da ilha: o bar do aeroporto, o boteco Creole do outro lado da rua, o pequeno estabelecimento que vendia pizza e panini no estacionamento do supermercado L’Oasis. E foi ali que a sorte finalmente sorriu para ele, pois descobriu que o chef no Le Piment tinha sido despedido depois de uma longa disputa sobre horas e salário. Às quatro horas daquela tarde, depois de demonstrar suas habilidades na minúscula cozinha do Le Piment, ele foi contratado. Trabalhou seu primeiro turno aquela mesma noite. As críticas foram todas brilhantes.
Na verdade, não demorou muito para que suas proezas culinárias se espalhassem pela pequena ilha. Le Piment, antes lugar frequentado apenas por nativos e habitués, logo estava cheio de uma nova clientela, todos elogiando o novo chef misterioso com esse peculiar nome anglo-espanhol. O Carl Gustaf tentou roubá-lo, assim como o Eden Rock, o Guanahani e o La Plage, todos sem sucesso. Portanto, Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, estava pessimista quando apareceu no Le Piment sem fazer reserva, na noite posterior ao desaparecimento de Spider Barnes. Foi forçado a esperar por trinta minutos no bar antes de finalmente conseguir uma mesa. Pediu três tira-gostos e três entradas. E depois de experimentar cada um, pediu para falar com o chef. Dez minutos se passaram antes de ele aparecer.
— Com fome? — perguntou o homem chamado Colin Hernandez, olhando os pratos de comida.
— Não muito.
— Então, por que veio aqui?
— Queria ver se você era tão bom quanto todos parecem pensar que é.
Ogilvy esticou a mão e se apresentou — posto e nome, seguido pelo nome do barco. O homem chamado Colin Hernandez levantou a sobrancelha, curioso.
— O Aurora é o barco de Spider Barnes, não é?
— Conhece o Spider?
— Acho que já tomei algo com ele uma vez.
— Não foi o único.
Ogilvy olhou bem para a figura parada na frente dele. Era compacto, forte, formidável. Para o olho agudo do inglês, ele parecia um homem que tinha navegado por mares duros. Sua sobrancelha era escura e grossa; o queixo era robusto e resoluto. É um rosto, pensou Ogilvy, feito para aguentar um soco.
— Você é venezuelano — ele disse.
— Quem falou?
— Todo mundo que se recusou a contratá-lo quando estava procurando emprego.
Os olhos de Ogilvy foram do rosto para a mão descansando nas costas da cadeira. Não havia evidências de tatuagens, o que ele viu como um sinal positivo. Ogilvy via a cultura moderna da tinta como uma forma de automutilação.
— Você bebe? — ele perguntou.
— Não como o Spider.
— Casado?
— Só uma vez.
— Filhos?
— Deus, não.
— Vícios?
— Coltrane e Monk.
— Já matou alguém?
— Não que me lembre.
Disse isso com um sorriso. Reginald Ogilvy também sorriu.
— Estou me perguntando se poderia tentá-lo a deixar esse lugar — falou, olhando para o modesto salão aberto do restaurante. — Estou preparado para pagar um salário generoso. E quando não estivermos no mar, você terá muito tempo livre para fazer o que gosta de fazer quando não está cozinhando.
— Quanto generoso?
— Dois mil por semana.
— Quanto o Spider estava ganhando?
— Três — respondeu Ogilvy depois de hesitar por um momento. — Mas o Spider ficou comigo por dois anos.
— Ele não está mais com você agora, está?
Ogilvy fingiu pensar um pouco.
— Três, então — ele falou. — Mas preciso que você comece imediatamente.
— Quando você parte?
— Amanhã de manhã.
— Nesse caso — disse o homem chamado Colin Hernandez — acho que terá de me pagar quatro.
Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, olhou os pratos de comida antes se levantar.
— Oito horas — ele falou. — Não se atrase.
François, o dono do Le Piment, um marselhês bravo, não recebeu bem a notícia. Soltou uma série de xingamentos no rápido patois do sul. Houve promessas de vingança. E também uma garrafa de um Bordeaux bastante bom, vazia, quebrando-se em milhares de pedaços quando se espatifou contra a parede da pequena cozinha. Mais tarde, François negaria que tinha mirado em seu antigo chef. Mas Isabelle, uma garçonete que presenciou o incidente, iria questionar a versão dele dos eventos. François, ela jurou, tinha jogado a garrafa como se fosse uma adaga diretamente na cabeça de Monsieur Hernandez. E Monsieur Hernandez, ela se lembra, tinha se esquivado do objeto com um movimento que foi tão curto e rápido que ocorreu em um piscar de olho. Depois, ele olhou friamente por um longo tempo para François como se estivesse decidindo a melhor forma de quebrar o pescoço dele. Então, calmamente, tirou seu avental branco limpo e subiu em sua scooter.
Passou o resto da noite na varanda de sua casa, lendo sob a luz da lâmpada de querosene. E, a cada hora, ele abaixava seu livro e ouvia o noticiário da BBC com o vaivém das ondas na praia e o balanço das folhas das palmeiras com o vento noturno. De manhã, após um mergulho revigorante no mar, tomou banho, se vestiu e empacotou as coisas na mochila: roupas, livros e o rádio. Além disso, empacotou dois itens que tinham sido deixados para ele na ilha de Tortu: uma Stechkin 9mm com silenciador e um pacote retangular, trinta por cinquenta centímetros. O pacote pesava exatamente sete quilos. Ele o colocou no centro da mochila, assim ela ficaria bem equilibrada quando fosse carregada.
Deixou a praia de Lorient pela última vez às sete e meia e, com a mochila sobre o joelho, foi para Gustávia. O Aurora brilhava na ponta do porto. Ele subiu às dez para as oito e a sous-chef, uma garota inglesa magra com o nome improvável de Amelia List, mostrou qual era a cabine dele. Guardou suas posses no armário — incluindo o revólver Stechkin e o pacote de sete quilos — e vestiu as roupas de chef que tinham sido deixadas na cama para ele. Amelia List estava esperando no corredor quando ele saiu. Ela o acompanhou até a cozinha e apresentou a despensa de produtos secos, a geladeira e a adega cheia de vinhos. Foi ali, no frio escuro, que ele teve seu primeiro pensamento sexual com a garota inglesa em seu uniforme branco. Não fez nada para evitar. Estava solteiro havia tantos meses que quase nem conseguia se lembrar como era tocar o cabelo de uma mulher ou acariciar a pele de um seio indefeso.
Alguns minutos antes das dez horas veio o anúncio pelo intercomunicador do barco instruindo a todos os membros da tripulação a se apresentarem no deque posterior. O homem chamado Colin Hernandez seguiu Amelia List até o lado de fora e estava parado ao lado dela quando duas Range Rovers negras brecaram na popa do Aurora. Da primeira saíram duas garotas queimadas de sol, rindo, e um homem com o rosto rosa-claro, de cerca de quarenta e poucos anos, carregando auma sacola de praia cor-de-rosa em uma mão e o gargalo de uma garrafa aberta de champanhe na outra. Dois homens atléticos desceram do segundo Rover, seguidos um momento depois por uma mulher que parecia estar sofrendo de um caso terminal de melancolia. Usava um vestido cor de pêssego que deixava a impressão de nudez parcial, um chapéu de amplas abas que escondiam seus ombros delgados e grandes óculos escuros que cobriam boa parte de seu rosto de porcelana. Mesmo assim, ela era instantaneamente reconhecível. Seu perfil a traía, o perfil tão admirado pelos fotógrafos de moda e os paparazzi que a seguiam para aonde fosse. Não havia paparazzi naquela manhã. Dessa vez, ela conseguiu enganá-los.
A mulher subiu no Aurora como se estivesse entrando em uma tumba aberta e passou pela equipe reunida sem uma palavra ou um olhar, caminhando tão perto do homem chamado Colin Hernandez que ele precisou suprimir a vontade de tocá-la para ter certeza de que era real e não um holograma. Cinco minutos depois, o Aurora partiu do porto e ao meio-dia a encantada ilha de São Bartolomeu era um ponto verde e marrom no horizonte. Esticada e de topless no deque da frente, uma bebida na mão, sua pele perfeita tostando ao sol, estava a mulher mais famosa do mundo. E no deque embaixo, preparando uma entrada de torta de atum, pepino e abacaxi, estava o homem que ia matá-la.
2
SAINDO DAS ILHAS DE BARLAVENTO
TODO MUNDO CONHECIA A história. Até aqueles que fingiam não se importar, ou mostravam desdém por seu culto de devoção mundial, conheciam todos os detalhes sórdidos. Ela era uma garota muito tímida e bonita de classe média de Kent, que tinha conseguido entrar em Cambridge e ele era o bonito e, um pouco mais velho, futuro rei da Inglaterra. Eles tinham se conhecido em um debate no campus que tinha algo a ver com o meio ambiente e, de acordo com a lenda, o futuro rei ficou instantaneamente apaixonado. Seguiu-se um longo namoro, quieto e discreto. A garota foi aprovada pelo povo do futuro rei; o futuro rei, pelo dela. Finalmente, um dos piores tabloides conseguiu tirar uma fotografia do casal deixando o baile de verão anual do duque de Rutland no castelo Belvoir. O Palácio de Buckingham soltou um comunicado morno confirmando o óbvio: que o futuro rei e a garota de classe média sem sangue aristocrático nas veias estavam namorando. Um mês depois, com os tabloides lotados de rumores e especulações, o palácio anunciou que a garota de classe média e o futuro rei planejavam se casar.
Isso aconteceu na catedral de St. Paul em uma manhã de junho, quando os céus do sul da Inglaterra estavam tomados pela chuva. Mais tarde, quando as coisas não foram bem, uma parte da imprensa britânica iria escrever que estavam condenados desde o começo. A garota, por temperamento e criação, não estava preparada para a vida no aquário real; e o futuro rei, pelas mesmas razões, não estava preparado para o casamento. Ele tinha muitas amantes, demais para serem contadas, e a garota o puniu levando um de seus guarda-costas para a cama. O futuro rei, quando ficou sabendo do caso dela, baniu o guarda para um posto solitário na Escócia. Consternada, a garota tentou se suicidar tomando uma overdose de pílulas para dormir e foi levada à emergência do Hospital St. Anne. O Palácio de Buckingham anunciou que ela estava sofrendo de desidratação causada por um surto de gripe. Quando perguntaram por que seu marido não a visitou no hospital, disseram algo sobre um conflito de agendas. A declaração oficial levantou muito mais perguntas do que respostas.
Quando ela teve alta, ficou óbvio para aqueles que seguiam a família real que a linda esposa do futuro rei não estava nada bem. Mesmo assim, ela cumpriu seus deveres matrimoniais dando dois herdeiros a ele, um menino e uma menina, os dois nascidos depois de períodos de gravidez breves e difíceis. O rei mostrou sua gratidão voltando para a cama de uma mulher a quem já tinha proposto casamento, e a princesa retaliou alcançando um grau de celebridade global que eclipsou a santa mãe do rei. Ela viajava pelo mundo apoiando causas nobres, uma horda de repórteres e fotógrafos acompanhando cada palavra e movimento dela e, mesmo assim, ninguém parecia notar que ela estava desenvolvendo algum tipo de loucura. Finalmente, com sua bênção e quieta assistência, a história apareceu nas páginas de um livro que contava tudo: as infidelidades de seu marido, os surtos de depressão, as tentativas de suicídio, os distúrbios alimentares causados pela constante exposição à imprensa e ao público. O futuro rei, com ódio, iniciou vários vazamentos de notícias retaliatórias sobre o comportamento errático de sua esposa. Aí aconteceu o golpe de misericórdia: a gravação de uma conversa telefônica apaixonada entre a princesa e seu amante favorito. Nesse momento, a rainha chegou ao limite. Com a monarquia em perigo, ela pediu que o casal se divorciasse o mais rápido possível. Eles fizeram isso um mês depois. O Palácio de Buckingham, sem um traço de ironia, publicou uma declaração afirmando que o fim do casamento real tinha sido “amigável”.
A princesa teve a permissão para manter seus aposentos no Palácio de Kensignton, mas perdeu o título de Sua Alteza Real. A rainha ofereceu um título inferior, mas ela recusou, preferindo ser chamada pelo nome. Ela até recusou seus guarda-costas SO14, pois achava que eram mais espiões do que seguranças. O palácio acompanhava discretamente seus movimentos e associações, assim como a inteligência britânica, que a via mais como um incômodo que como uma ameaça ao reino.
Em público, ela era o rosto radiante da compaixão global, mas por trás de portas fechadas, ela bebia muito e se cercava com um séquito que um conselheiro real descreveu como “eurolixo”. Nessa viagem, no entanto, havia menos acompanhantes que o normal. As duas mulheres bronzeadas eram amigas de infância; o homem que embarcou no Aurora com uma garrafa aberta de champanhe era Simon Hastings-Clarke, o visconde absurdamente rico que bancava o estilo de vida ao qual tinha se acostumado. Foi Hastings-Clarke que a levou para voar ao redor do mundo em sua frota de jatos, e era Hastings-Clarke que pagava a conta de seus guarda-costas. Os dois homens que a acompanhavam ao Caribe eram empregados de uma empresa de segurança privada em Londres. Antes de deixar Gustávia, eles tinham feito uma inspeção superficial sobre o Aurora e sua tripulação. Sobre o homem chamado Colin Hernandez, fizeram só uma pergunta: “O que vamos almoçar?”
A pedido da ex-princesa, o bufê foi leve, apesar de nem ela nem seus acompanhantes parecessem muito interessados. Beberam muito aquela tarde, torrando o corpo no forte sol, até que uma tempestade fez com que entrassem rindo em seus quartos. Ficaram lá até às nove da noite, quando saíram vestidos e penteados como se fossem a uma festa no jardim de Somerset. Tomaram coquetéis e comeram canapés no deque e depois foram até o salão principal para jantar: salada com trufas ao vinagrete, seguida de risoto de lagosta e costelas de cordeiro com alcachofra, limão forte, abobrinha e piment d’argile. A ex-princesa e seus acompanhantes declaram que a refeição tinha sido magnífica e exigiram a presença do chef. Quando ele finalmente apareceu, foi recebido com um aplauso infantil.
— O que vai nos fazer amanhã à noite? — perguntou a ex-princesa.
— É uma surpresa — ele respondeu, com seu peculiar sotaque.
— Ah, ótimo — ela disse, com o mesmo sorriso que ele já tinha visto em incontáveis capas de revistas. — Adoro surpresas.
Era uma equipe pequena, oito ao todo, e era responsabilidade do chef e da sua assistente cuidar da porcelana, das taças, da prataria e das panelas, além dos utensílios de cozinha. Eles ficaram lado a lado na pia muito depois que a ex-princesa e seus acompanhantes tinham saído, suas mãos ocasionalmente se tocando debaixo da água quente com sabão, o quadril ossudo dela pressionando a coxa dele. E, uma vez, quando passaram um atrás do outro no gabinete apertado, os bicos duros dos seios dela traçaram duas linhas nas costas dele, enviando uma descarga de eletricidade e sangue para o meio das pernas dele. Foram cada um para sua cabine, mas alguns minutos depois ele ouviu uma batida leve em sua porta. Ela o agarrou sem fazer nenhum som. Era como fazer amor com uma muda.
— Talvez tenha sido um erro — ela sussurrou no ouvido dele quando terminaram.
— Por que você está falando isso?
— Porque vamos trabalhar juntos por muito tempo.
— Não tanto.
— Você não está planejando ficar?
— Isso depende.
— Do quê?
Ele não falou mais nada. Ela deitou a cabeça no peito dele e fechou os olhos.
— Você não pode ficar aqui — ele disse.
— Eu sei — ela respondeu meio adormecida. — Só um pouco mais.
Ele ficou imóvel por muito tempo, com Amelia List dormindo em seu peito, o Aurora subindo e descendo debaixo dele e sua mente trabalhando sobre os detalhes do que iria acontecer. Finalmente, às três horas, ele saiu da cama e caminhou nu pela cabine até o armário. Em silêncio, vestiu sua calça preta, um suéter de lã e um casaco escuro à prova d’água. Tirou o envoltório do pacote — que media trinta por cinquenta centímetros e pesava exatamente sete quilos — e conectou a fonte de energia e o relógio do detonador. Colocou o pacote de volta no armário e ia pegar o revólver Stechkin quando ouviu a garota se mexer atrás dele. Virou-se lentamente e olhou para ela no escuro.
— O que era aquilo? — ela perguntou.
— Volte a dormir.
— Vi uma luz vermelha.
— Era meu rádio.
— Por que está ouvindo rádio às três da manhã?
Antes que ele pudesse responder, o abajur se acendeu. Os olhos dela correram pela roupa escura antes de pararem na arma com silenciador que ainda estava nas mãos dele. Ela abriu a boca para gritar, mas ele colocou sua palma sobre o rosto dela antes que qualquer som pudesse escapar. Enquanto ela lutava para se livrar da mão dele, o homem sussurrou baixinho no ouvido dela.
— Não se preocupe, meu amor — ele estava falando. — Só vai doer um pouco.
Os olhos se abriram com terror. Então ele girou a cabeça dela violentamente para a esquerda, quebrando sua coluna vertebral e a segurou gentilmente enquanto ela morria.
Não era costume de Reginald Ogilvy acordar logo cedo, mas a preocupação com a segurança de sua famosa passageira o levou à ponte de comando do Aurora nas primeiras horas daquela manhã. Estava verificando a previsão do tempo no computador de bordo, uma xícara de café fresco na mão, quando o homem chamado Colin Hernandez apareceu no alto da escada, vestido totalmente de preto. Ogilvy levantou a vista e perguntou:
— O que você está fazendo aqui? — Mas não recebeu nenhuma resposta a não ser dois tiros da Stechkin silenciada, que furaram seu uniforme e atingiram o coração.
A xícara de café caiu no chão; Ogilvy, instantaneamente morto, desabou pesado ao lado dela. Seu assassino caminhou calmamente pelo console, fez um ligeiro ajuste na direção do barco, e desceu a escada. O deque principal estava deserto, nenhum outro membro da tripulação estava de serviço. Ele baixou um dos botes no mar escuro, subiu e soltou a corda.
Deixou o bote livre, debaixo de um céu cheio de diamantes brancos, enquanto olhava o Aurora navegar para o leste em direção às linhas de barcos do Atlântico, sem piloto, um barco fantasma. Verificou seu relógio de pulso, que brilhava. Então, quando ele marcou zero, olhou para cima de novo. Mais 15 segundos se passaram, tempo suficiente para considerar a remota possibilidade de que a bomba tinha algum defeito. Finalmente, houve uma explosão no horizonte — a luz branca cegante do explosivo, seguida pelo laranja-amarelado da explosão secundária e do fogo.
O som era como um rumor de um trovão distante. Depois disso, só se ouvia o mar batendo contra a lateral do bote e o vento. Apertando um botão, ele ligou o motor de popa e ficou olhando enquanto o Aurora começava sua jornada para o fundo do mar. Então, direcionou o bote para o oeste e acelerou.
3
CARIBE — LONDRES
O PRIMEIRO INDICADOR DE PROBLEMAS veio quando o Pegasus Global Charters de Nassau informou que uma mensagem de rotina a um de seus barcos, o luxuoso iate de 47 metros, o Aurora, não tinha sido respondida. O centro de operações Pegasus imediatamente solicitou assistência de todos os barcos comerciais e de turismo na vizinha das Ilhas de Barlavento e, em poucos minutos, a tripulação de um petroleiro com bandeira liberiana informou que tinham visto uma luz estranha na área aproximadamente às 3h45 daquela manhã. Logo depois, a tripulação de um container viu um dos botes do Aurora flutuando vazio e sem rumo aproximadamente a cem milhas ao sudoeste de Gustávia. Simultaneamente, um barco particular encontrou coletes salva-vidas e outros restos flutuando algumas milhas ao oeste. Temendo o pior, a gerência da Pegasus ligou para o Alto Comissariado Britânico, em Kingston, e informou ao cônsul honorário que o Aurora estava desaparecido e possivelmente perdido. A gerência então enviou uma cópia da lista de passageiros, que incluía o nome da ex-princesa.
— Diga que não é ela — pediu o cônsul honorário, incrédulo, mas a gerência do Pegasus confirmou que a passageira era realmente a ex-esposa do futuro rei.
O cônsul imediatamente ligou para seus superiores no Foreign Office, em Londres, e os superiores determinaram que a situação era suficientemente grave para acordar o primeiro-ministro Jonathan Lancaster, e foi quando a crise realmente começou.
O primeiro-ministro deu a notícia ao futuro rei por telefone, à uma e meia, mas esperou até às nove para informar ao povo britânico e ao mundo. Parado na frente da porta preta do número 10 da Downing Street, o rosto triste, ele contou os fatos que eram conhecidos no momento. A ex-esposa do futuro rei tinha viajado ao Caribe na companhia de Simon Hastings-Clarke e duas amigas de longa data. Na ilha paradisíaca de São Bartolomeu, o grupo tinha subido ao luxuoso iate Aurora para um cruzeiro de uma semana. Todo contato com o barco tinha sido perdido e restos da embarcação foram encontrados espalhados pelo mar.
— Esperamos e oramos para que a princesa seja encontrada viva — disse o primeiro-ministro, solene. — Mas devemos nos preparar para o pior.
O primeiro dia de busca não foi bem-sucedido em encontrar sobreviventes ou pistas. Nem o segundo ou o terceiro. Depois de se reunir com a rainha, o primeiro-ministro Lancaster anunciou que seu governo estava trabalhando com a suposição de que a adorada princesa estava morta. No Caribe, as equipes de busca concentraram seus esforços em encontrar restos do barco em vez de corpos. Não seria uma longa busca. Na verdade, apenas 48 horas depois, um submarino automático operado pela marinha francesa descobriu o Aurora debaixo de dois mil pés de água salgada. Um especialista que viu as imagens de vídeo disse que era evidente que o barco tinha sofrido algum tipo de problema cataclísmico, quase certamente uma explosão.
— A pergunta é — ele disse —: foi um acidente ou foi intencional?
A maioria das pessoas do país — diziam pesquisas confiáveis — se recusava a acreditar que a ex-princesa tinha realmente morrido. Eles mantinham a esperança de que somente um dos dois botes do Aurora tinha sido encontrado. Claro, argumentavam, ela estava perdida no mar aberto ou tinha sido levada pela correnteza até uma ilha deserta. Um site pouco sério chegou a informar que ela foi vista em Montserrat. Outro disse que estava vivendo tranquila à beira-mar, em Dorset. Teóricos da conspiração de todos os tipos criaram histórias sensacionalistas sobre um plano para matar a princesa que foi concebido pelo Conselho Privado da Rainha e realizado pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânico, mais conhecido como MI6. Havia muita pressão para que seu chefe, Graham Seymour, fizesse uma declaração negando as alegações, mas ele se recusou.
— Isso não são alegações — ele disse ao secretário de relações exteriores durante uma tensa reunião na enorme sede do serviço ao lado do rio. — São fantasias criadas por pessoas com problemas mentais, e não vou me rebaixar a dar uma resposta a elas.
Em particular, no entanto, Seymour já tinha chegado à conclusão de que a explosão a bordo do Aurora não tinha sido um acidente. Da mesma forma que sua contraparte no DGSE, o bastante eficiente serviço de inteligência francês. Um analista francês,vendo o vídeo dos destroços, tinha determinado que o Aurora fora destruído por uma bomba detonada no deque inferior. Mas quem tinha levado a bomba para dentro do barco? E quem tinha ligado o detonador? O principal suspeito do DGSE era o homem que tinha sido contratado para substituir o chef desaparecido do Aurora na noite antes da partida do iate. Os franceses enviaram ao MI6 um vídeo granulado de sua chegada ao aeroporto de Gustávia, junto com algumas fotos de baixa qualidade capturada por câmeras de segurança de algumas lojas. Mostrava um homem que não se importava em aparecer em fotos.
— Ele não me parece o cara que afundaria um barco — Seymour disse em uma reunião de sua equipe. — Ele está solto por aí, em algum lugar. Descubram quem ele é e onde está se escondendo, preferencialmente antes dos franceses.
Ele era um sussurro em uma capela meio acesa, um fio perdido na bainha de uma roupa descartada. Eles verificaram as fotografias nos computadores. E, quando os computadores não encontraram uma combinação, procuraram por ele da forma antiga, com sapatos de couro e envelopes cheios de dinheiro — dinheiro norte-americano, claro, pois nas regiões inferiores do mundo da espionagem, os dólares continuavam a ser a moeda comum. O homem do MI6 em Caracas não encontrou nenhum traço dele. Nem conseguiram encontrar alguma pista de uma mãe anglo-irlandesa com um coração poético, ou um pai empresário espanhol. O endereço de seu passaporte terminou sendo uma favela em Caracas; seu último número conhecido há muito estava desconectado. Um informante pago dentro da polícia secreta venezuelana disse que tinha ouvido um rumor sobre uma ligação com Castro, mas uma fonte perto da inteligência cubana murmurou algo sobre os cartéis colombianos.
— Talvez antes — disse um policial incorruptível em Bogotá —, mas ele se afastou dos grandes traficantes há muito tempo. A última coisa que ouvi é que estava vivendo no Panamá com uma das antigas amantes de Noriega. Tinha muitos milhões guardados em um banco panamenho sujo e um condomínio em Playa Farallón.
A antiga amante negou conhecê-lo e o gerente do banco em questão, depois de aceitar um suborno de dez mil dólares, não conseguiu encontrar nenhum registro de conta em nome dele. Quanto ao condomínio na praia em Farallón, um vizinho quase não conseguia se lembrar de sua aparência, só da voz dele.
— Ele falava com um sotaque peculiar — disse. — Parecia que era da Austrália. Ou seria da África do Sul?
Graham Seymour monitorou a busca pelo suspeito do conforto de seu escritório, o melhor de todo o mundo da espionagem, com um jardim inglês no vestíbulo, uma enorme mesa de mogno usada por todos os chefes antes dele, janelas enormes voltadas para o rio Tâmisa e o imponente relógio de seu avô construído por ninguém menos que Sir Mansfield Smith Cumming, o primeiro “C” do Serviço Secreto Britânico. O esplendor do que tinha ao seu redor deixava Seymour inquieto. Em seu distante passado, ele tinha sido um homem de campo de alguma reputação — não no MI6, mas no MI5, o serviço de segurança interno menos glamoroso da Grã-Bretanha, onde havia servido com distinção antes de fazer a curta viagem da Thames House a Vauxhall Cross. Havia alguns no MI6 que se ressentiam da indicação de alguém de fora, mas a maioria via “a transferência”, como tinha ficado conhecida no meio, como um tipo de volta para casa. O pai de Seymour foi um lendário oficial do MI6, enganando nazistas, com importante participação em vários eventos no Oriente Médio. E agora seu filho, no auge da vida, se sentava atrás da mesa na qual Seymour pai tinha se apresentado para receber ordem.
Com o poder, no entanto, geralmente vem um sentimento de desamparo. E Seymour, o espiocrata, o espião de sala de reuniões, caiu vítima dele. Com busca cada vez mais infrutífera, e com a pressão de Downing Street e do palácio crescendo, seu mau humor ia piorando. Ele mantinha uma foto do alvo em sua mesa, perto do tinteiro vitoriano e da caneta-tinteiro Parker que usava para marcar documentos com seu criptograma pessoal. Algo no rosto era familiar. Seymour suspeitava que, em algum lugar — em outro campo de batalha, em outra terra —, seus caminhos tinham se cruzado. Não importava que os bancos de dados do serviço não afirmassem isso. Seymour confiava em sua memória mais do que na memória de qualquer computador do governo.
E assim, com as mãos em campo levando a falsas pistas e a poços vazios, Seymour conduzia uma busca própria a partir da gaiola dourada no alto de Vauxhall Cross. Ele começou esquadrinhando sua prodigiosa memória, e quando não deu certo, pediu acesso a uma pilha de casos antigos do MI5 e procurou ali também. Novamente não encontrou nenhuma pista. Finalmente, na manhã do décimo dia, o telefone na mesa de Seymour tocou levemente. O tom diferente mostrou que quem ligava era Uzi Navot, o chefe do tão falado serviço de inteligência de Israel. Seymour hesitou, depois levantou o telefone de forma cautelosa. Como sempre, o chefe dos espiões israelense não se importou em alguma troca de amabilidade.
— Acho que podemos ter encontrado o homem que você está procurando.
— Quem é ele?
— Um velho amigo.
— Seu ou nosso?
— Seu — disse o israelense. — Não temos nenhum amigo.
— Pode nos dizer o nome dele?
— Não pelo telefone.
— Quão rapidamente pode chegar a Londres?
A linha ficou muda.
4
VAUXHALL CROSS, LONDRES
UZI NAVOT CHEGOU A Vauxhall Cross pouco antes das onze da noite e foi levado à suíte executiva pelo elevador. Estava usando um terno cinza que parecia apertado para os ombros fortes, uma camisa branca aberta em seu grosso pescoço e óculos sem aro que marcavam a ponte de seu nariz de pugilista. À primeira vista, poucos presumiam que Navot era israelense, ou mesmo judeu, um traço que tinha funcionado bem durante sua carreira. Uma vez, ele tinha sido um katsa, o termo usado por seu serviço para descrever agentes de campo disfarçados. Armado com bom conhecimento de vários idiomas e uma pilha de falsos passaportes, Navot tinha penetrado em redes de terror e recrutado vários espiões e informantes espalhados pelo mundo. Em Londres, ficou conhecido como Clyde Bridges, o diretor de marketing europeu de uma obscura empresa de software. Tinha dirigido várias operações bem-sucedidas em solo britânico na época, quando era responsabilidade de Seymour evitar essas atividades. Seymour não guardava rancor, pois essa era a natureza dos relacionamentos entre espiões: adversários um dia, aliados no outro.
Um frequente visitante em Vauxhall Cross, Navot não comentou nada sobre a beleza do grande escritório de Seymour. Nem se dedicou à fofoca profissional que precedia a maioria dos encontros entre habitantes do mundo secreto. Seymour sabia os motivos do humor taciturno do israelense. O primeiro mandato de Navot como chefe estava terminando, e o primeiro-ministro tinha pedido que ele saísse para que outro homem assumisse, um lendário agente com quem Seymour tinha trabalhado em diversas ocasiões. Havia boatos de que a lenda tinha feito um acordo para que Navot continuasse. Era algo pouco ortodoxo permitir que seu predecessor continuasse no serviço, mas a lenda raramente se preocupava com a ortodoxia. A disposição para correr riscos era sua maior força — e às vezes, pensou Seymour, sua ruína.
Na forte mão direita de Navot estava pendurada uma maleta de aço inoxidável com trava de combinação. Dela, tirou uma fina pasta, que colocou sobre a mesa de mogno. Dentro havia um documento, uma página; os israelenses se orgulhavam da brevidade de seus arquivos. Seymour leu a linha de assunto. Aí olhou para a fotografia ao lado de seu tinteiro e xingou baixinho. Do lado oposto da mesa imponente, Uzi Navot se permitiu um breve sorriso. Não era comum que conseguissem contar ao diretor-geral do MI6 algo que ele ainda não sabia.
— Quem é a fonte da informação? — perguntou Seymour.
— É possível que seja um iraniano — respondeu Navot, vagamente.
— O MI6 tem acesso regular a seu produto?
— Não — respondeu Navot. — Ele é exclusivamente nosso.
O MI6, a CIA e a inteligência israelense trabalharam juntos durante mais de uma década para evitar que os iranianos chegassem a ter armas nucleares. Os três serviços tinham operado conjuntamente contra a rede de suprimentos nuclear iraniana e compartilharam grande quantidade de dados técnicos e de inteligência. Era reconhecido que os israelenses tinham as melhores fontes humanas em Teerã e, para contrariedade dos norte-americanos e britânicos, eles as protegiam com todo cuidado. Julgando pelo escrito no relatório, Seymour suspeitava de que o espião de Navot trabalhava para o VEVAK, o serviço de inteligência iraniano. As fontes do VEVAK eram famosas pela dificuldade de trato. Às vezes a informação que trocavam por dinheiro ocidental era genuína. Outras vezes estava a serviço da taqiyya, a prática persa de mostrar uma intenção enquanto abrigava outra.
— Acredita nele? — perguntou Seymour.
— Não estaria aqui se não acreditasse. — Navot fez uma pausa e acrescentou: — E algo me diz que você acredita também.
Quando Seymour não respondeu, Navot tirou um segundo documento da maleta e colocou na mesa, perto dele.
— É uma cópia de um relatório que enviamos ao MI6 há três anos — ele explicou. — Sabíamos sobre sua conexão com os iranianos já naquela época. Também sabíamos que estava trabalhando com Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda e qualquer um que pagasse.
Navot acrescentou:
— Seu amigo não discrimina muito com quem ele anda.
— Foi antes da minha época — respondeu Seymour.
— Mas agora é seu problema. — Navot apontou para uma passagem perto do final do documento. — Como consegue ver, fizemos a proposta de uma operação para tirá-lo de circulação. Até nos apresentamos como voluntários para fazer o serviço. E como você acha que seu predecessor respondeu a nossa generosa oferta?
— Obviamente, ele recusou.
— Com extremo preconceito. Na verdade, ele nos disse em termos bem claros que não deveríamos colocar um dedo nele. Estava com medo de que isso abriria uma caixa de Pandora. — Navot balançou a cabeça lentamente. — E, agora, aqui estamos nós.
A sala estava silenciosa, exceto pelo tique-taque do velho relógio do avô de C. Finalmente, Navot perguntou com a voz baixa:
— Onde você estava naquele dia, Graham?
— Que dia?
— Cinco de agosto, mil novecentos e noventa e oito.
— O dia da bomba?
Navot assentiu.
— Sabe muito bem onde eu estava — respondeu Seymour. — Estava no Cinco.
— Você era o chefe de contraterrorismo.
— É.
— O que significa que era sua responsabilidade.
Seymour não falou nada.
— O que aconteceu, Graham? Como ele conseguiu?
— Foram cometidos erros. Sérios erros. Sérios o suficiente para arruinar carreiras, até hoje. — Seymour juntou os dois documentos e os devolveu a Navot. — Sua fonte iraniana contou por que ele fez isso?
— É possível que ele tenha voltado a uma antiga briga. Também é possível que estivesse agindo em nome de outros. De qualquer forma, é preciso lidar com ele, antes que seja tarde demais.
Seymour não respondeu.
— Nossa oferta ainda está de pé, Graham.
— Que oferta?
— Vamos cuidar dele — respondeu Navot. — E depois vamos enterrá-lo em um buraco tão fundo que ninguém da época dos conflitos vai conseguir recuperá-lo.
Seymour ficou em um silêncio contemplativo.
— Só existe uma pessoa a quem eu confiaria um trabalho como esse — ele falou, finalmente.
— Isso poderia ser difícil.
— A gravidez?
Navot assentiu.
— Quando ela vai ter?
— Infelizmente isso é informação confidencial.
Seymour deu um breve sorriso.
— Você acha que ele poderia ser persuadido a aceitar essa missão?
— Tudo é possível — respondeu Navot, sem querer se comprometer. — Eu ficaria feliz em falar com ele em seu nome.
— Não — falou Seymour. — Eu faço isso.
— Há mais um problema — falou Navot depois de um momento.
— Só um?
— Ele não conhece muito essa parte do mundo.
— Eu conheço alguém que pode servir como guia.
— Ele não vai trabalhar com alguém que não conhece.
— Na verdade, eles são bons amigos.
— Ele é do MI6?
— Não — respondeu Seymour. — Ainda não.
5
AEROPORTO FIUMICINO, ROMA
– POR QUE VOCÊ ACHA que meu voo está atrasado? — perguntou Chiara.
— Pode ser um problema mecânico — respondeu Gabriel.
— Pode ser — ela repetiu sem convicção.
Estavam sentados em um canto silencioso da sala de espera da primeira classe. Não importava a cidade, pensou Gabriel, eram todos iguais. Jornais abandonados, garrafas quentes de pinot grigio suspeito, a CNN International silenciosa em uma televisão grande de tela plana. Pelos seus cálculos, Gabriel tinha passado um terço de sua carreira em lugares assim. Ao contrário da sua esposa, ele era extraordinariamente bom em esperar.
— Vá perguntar à garota bonita no balcão de informações por que meu voo ainda não começou a embarcar — ela disse.
— Não quero falar com a garota bonita no balcão de informações.
— Por que não?
— Porque ela não sabe nada e vai simplesmente falar algo que acha que quero ouvir.
— Por que você sempre precisa ser tão fatalista?
— Evita que me desaponte depois.
Chiara sorriu e fechou os olhos; Gabriel olhava a televisão. Um repórter britânico com capacete e colete à prova de balas estava falando sobre os últimos ataques aéreos contra Gaza. Gabriel se perguntou por que a CNN tinha ficado tão apaixonada pelos jornalistas britânicos. Ele achava que era o sotaque. As notícias sempre pareciam mais fortes quando dadas com um sotaque britânico, mesmo se fossem completas mentiras.
— O que ele está falando? — perguntou Chiara.
— Você realmente quer saber?
— Vai ajudar a passar o tempo.
Gabriel apertou os olhos para ler as legendas.
— Diz que um avião israelense atacou uma escola onde várias centenas de palestinos estavam se escondendo da batalha. Diz que pelo menos 15 pessoas foram mortas e várias dezenas seriamente feridas.
— Quantas eram mulheres e crianças?
— Todas elas, aparentemente.
— A escola era o verdadeiro alvo do ataque aéreo?
Gabriel digitou uma breve mensagem no BlackBerry e enviou com segurança para o Boulevard Rei Saul, o quartel-general do serviço de inteligência de Israel. Tinha um nome comprido e enganador que tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os funcionários chamavam de Escritório e nada mais.
— O verdadeiro alvo — ele falou, os olhos no BlackBerry— era uma casa do outro lado da rua.
— Quem vive na casa?
— Muhammad Sarkis.
— O Muhammad Sarkis?
Gabriel assentiu.
— Muhammad ainda está entre os vivos?
— Aparentemente, não.
— E a escola?
— Não foi atingida. As únicas vítimas foram Sarkis e membros de sua família.
— Talvez alguém deveria contar a verdade ao jornalista.
— Em que isso ajudaria?
— Mais fatalismo — disse Chiara.
— Nenhum desapontamento.
— Por favor, descubra por que meu voo está atrasado.
Gabriel digitou outra mensagem no BlackBerry. Um momento depois, chegou a resposta.
— Um dos foguetes do Hamas caiu perto do Ben-Gurion.
— Muito perto? — perguntou Chiara.
— Perto o suficiente para causar desconfortos.
— Você acha que a garota bonita no balcão de informações sabe que meu destino está sendo atacado por foguetes?
Gabriel ficou em silêncio.
— Tem certeza de que quer continuar com isso? — perguntou Chiara.
— Com o quê?
— Não me obrigue a falar em voz alta.
— Está perguntando se eu ainda quero ser chefe em um momento como esse?
Ela assentiu.
— Em um momento como esse — ele falou, vendo as imagens de combate e explosões na tela —, eu gostaria de poder ir até Gaza e lutar junto com nossos rapazes.
— Achei que você tinha odiado o exército.
— Odiei.
Ela virou a cabeça para ele e abriu os olhos. Eram cor de caramelo com toques de ouro. O tempo não tinha deixado nenhuma marca em seu lindo rosto. Não fosse pela barriga inchada e o anel dourado no dedo, ela poderia ser a mesma garota jovem que ele tinha encontrado há muito tempo, no antigo gueto de Veneza.
— Combina, não?
— O quê?
— Que os filhos de Gabriel Allon nasçam em tempo de guerra.
— Com um pouco de sorte, a guerra vai terminar quando eles nascerem.
— Não estou tão segura disso. — Chiara olhou para o quadro de embarque. A situação do voo 386 para Tel Aviv ainda aparecia a mesma. — Se meu avião não partir logo, eles vão nascer aqui na Itália.
— Sem chance.
— O que tem de errado com isso?
— Tínhamos um plano. E vamos continuar com ele.
— Na verdade — ela disse, com astúcia —, o plano era que voltássemos a Israel juntos.
— É verdade — disse Gabriel, sorrindo. — Mas houve a intervenção de eventos.
— Eles sempre fazem isso.
Setenta e duas horas antes, em uma igreja comum perto do lago Como, Gabriel e Chiara tinham descoberto um dos quadros roubados mais famosos do mundo: a Natividade com São Francisco e São Lourenço, de Caravaggio. A pintura, bastante danificada, agora estava no Vaticano, onde esperava restauração. Era intenção de Gabriel realizar os primeiros estágios, ele mesmo. Essa era sua combinação única de talentos. Ele era restaurador de arte, espião e assassino, uma lenda que tinha participado de algumas das maiores operações na história da inteligência israelense. Logo seria pai de novo e depois se tornaria o chefe. Não escrevem histórias sobre chefes, ele pensou. Escrevem histórias sobre os homens que os chefes mandam a campo para fazer o trabalho sujo.
— Não sei por que você é tão cabeça-dura em relação àquele quadro — disse Chiara.
— Eu encontrei, eu quero restaurá-lo.
— Na verdade, nós encontramos. Mas isso não muda o fato de que não existe uma maneira possível de terminá-lo antes que as crianças nasçam.
— Não importa se vou conseguir terminar ou não. Só queria...
— Deixar sua marca nele?
Ele assentiu lentamente.
— Poderia ser o último quadro que tenho a chance de restaurar. Além disso, tenho uma dívida com ele.
— Quem?
Ele não respondeu; estava lendo as legendas na televisão.
— O que estão falando agora? — Chiara perguntou.
— Sobre a princesa.
— O que tem?
— Parece que a explosão que afundou o barco foi um acidente.
— Acredita nisso?
— Não.
— Então por que eles falariam algo assim?
— Acho que querem ter um pouco de tempo e espaço.
— Para quê?
— Para encontrar o homem que estão procurando.
Chiara fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dele. O cabelo escuro dela, com tons ruivos e luzes castanhas, tinha um delicioso cheiro de baunilha. Gabriel beijou o cabelo dela e sentiu o perfume. De repente, não queria que ela subisse sozinha no avião.
— O que o painel de embarque está mostrando sobre meu voo? — ela perguntou.
— Atrasado.
— Não pode fazer algo para acelerar as coisas?
— Você superestima meus poderes.
— Falsa modéstia não combina com você, querido.
Gabriel digitou outra breve mensagem no BlackBerry e enviou para o Boulevard Rei Saul. Um momento depois, o aparelho vibrou levemente com a resposta.
— E então? — perguntou Chiara.
— Olha o painel.
Chiara abriu os olhos. O status do voo 386 da El Al ainda mostrava ATRASADO. Trinta segundos depois, mudou para EMBARCANDO.
— Pena que você não consegue acabar com a guerra tão facilmente — disse Chiara.
— Só o Hamas pode parar a guerra.
Ela juntou a bagagem de mão e uma pilha de revistas de moda e se levantou cuidadosamente.
— Seja um bom menino — ela falou. — E se alguém pedir um favor, lembre-se das três adoráveis palavras.
— Encontre outra pessoa.
Chiara sorriu. Então beijou Gabriel com uma urgência surpreendente.
— Venha para casa, Gabriel.
— Logo.
— Não — ela falou. — Venha para casa agora.
— É melhor correr, Chiara. Ou vai perder o voo.
Ela o beijou pela última vez. Então se afastou sem outra palavra e entrou no avião.
Gabriel esperou até o voo de Chiara estar seguro no ar antes de deixar o terminal e caminhar pelo caótico estacionamento do Fiumicino. Seu anônimo sedan alemão estava no canto da terceira plataforma, com a frente virada para fora, caso ele tivesse motivos para fugir da garagem apressadamente. Como sempre, ele olhou embaixo do carro para ver se havia explosivos escondidos antes de entrar atrás do volante e ligar o carro. Uma canção pop italiana começou a tocar no rádio, uma das músicas bobinhas que Chiara estava sempre cantando quando achava que ninguém estava ouvindo. Gabriel mudou para a BBC, mas estava cheia de notícias sobre a guerra, então, ele abaixou o volume. Haveria tempo suficiente para a guerra mais tarde, pensou. Nas próximas semanas só haveria o Caravaggio.
Gabriel cruzou o Tibre sobre a ponte Cavour e entrou na via Gregoriana. O velho apartamento seguro do Escritório estava no final da rua, perto do alto das escadarias da praça da Espanha. Estacionou o sedan em um espaço vazio ao longo do meio-fio e tirou a Beretta 9 mm do porta-luvas antes de descer. O ar frio da noite tinha cheiro de alho frito e folhas molhadas, o cheiro de Roma no outono. Algo nisso sempre fazia Gabriel pensar em morte.
Passou a entrada do seu edifício, o toldo do hotel Hassler Villa Medici e foi até a igreja de Trinità dei Monti. Um momento depois, quando determinou que não estava sendo seguido, voltou ao prédio. Uma única lâmpada de baixo consumo iluminava um pouco o vestíbulo; ele caminhou debaixo da esfera de luz e subiu a escada escura. Quando pisou no terceiro andar, parou. A porta do apartamento estava entreaberta e de dentro vinha o som de gavetas abrindo e fechando. Calmamente, ele tirou a Beretta das costas e usou o cano para lentamente empurrar a porta. No começo, não conseguiu ver nenhum sinal do invasor. Então, a porta se abriu mais um centímetro e ele viu Graham Seymour parado na pia da cozinha, uma garrafa fechada de Gavi em uma mão e um saca-rolha na outra. Gabriel enfiou a arma no bolso do casaco e entrou. E, em sua cabeça, ele estava pensando nas três adoráveis palavras.
Encontre outra pessoa...
6
VIA GREGORIANA, ROMA
– TALVEZ SEJA MELHOR QUE eu faça isso, Gabriel. Ou alguém vai acabar machucado.
Seymour entregou a garrafa de vinho e o saca-rolha, encostando-se na pia da cozinha. Estava usando calça de flanela cinza, uma jaqueta espinha de peixe e uma camisa azul com punho francês. A ausência de ajudantes pessoais ou segurança sugeria que tinha viajado a Roma usando um passaporte falso. Era um mau sinal. O chefe do MI6 viajava clandestinamente só quando tinha um problema sério.
— Como você entrou aqui? — perguntou Gabriel.
Seymour puxou uma chave do bolso de sua calça. Presa a ela estava o medalhão preto tão amado pela Organização Interna, a divisão do Escritório que procurava e gerenciava propriedades seguras.
— Onde conseguiu isso?
— Uzi me deu ontem em Londres.
— E o código do alarme? Suponho que ele tenha dado também.
Seymour recitou o número de oito dígitos.
— É uma violação do protocolo do Escritório.
— Houve circunstâncias atenuantes. Além disso — acrescentou Seymour —, depois de todas as operações que fizemos juntos, sou praticamente membro da família.
— Até membros da família batem antes de entrar em um aposento.
— É você quem está dizendo.
Gabriel tirou a rolha da garrafa, serviu duas taças e entregou uma a Seymour. O inglês levantou a taça meio centímetro e disse:
— À paternidade.
— Dá azar beber por crianças que ainda não nasceram, Graham.
— Então pelo que vamos beber?
Quando Gabriel não respondeu, Seymour foi até a sala de estar. De sua janela era possível ver a torre da igreja e o alto das escadarias. Ele ficou ali por um momento olhando os tetos como se estivesse admirando, do terraço de sua casa, as colinas de sua cidade natal. Com suas mechas cor de chumbo e queixo robusto, Graham Seymour era o típico funcionário público britânico, um homem que tinha nascido, sido criado e educado para liderar. Ele era bonito, mas não muito; era alto, mas não muito. Fazia os outros se sentirem inferiores, principalmente os norte-americanos.
— Sabe — ele disse, finalmente —, você realmente deveria encontrar outro lugar para ficar quando está em Roma. Todo mundo conhece esse apartamento seguro, o que significa que não é nada seguro.
— Gosto da vista.
— Dá para ver o motivo.
Seymour voltou seu olhar para os tetos escuros. Gabriel sentiu que algo o preocupava. Ele falaria sobre isso em algum momento. Sempre chegava.
— Ouvi dizer que sua esposa saiu da cidade hoje — falou finalmente.
— Que outra informação privilegiada o chefe do meu serviço compartilhou com você?
— Ele mencionou algo sobre um quadro.
— Não é um quadro qualquer, Graham. É o...
— Caravaggio — falou Seymour, terminando a sentença.
Então, sorriu e acrescentou:
— Você tem jeito para encontrar coisas, não?
— Isso deveria ser um elogio?
— Acho que sim.
Seymour bebeu. Gabriel perguntou por que Uzi Navot tinha ido a Londres.
— Ele tinha uma informação que queria me mostrar. Tenho de admitir — acrescentou Seymour —, ele parecia bem para um homem em sua posição.
— Que posição é essa?
— Todo mundo no meio sabe que Uzi está saindo — respondeu Seymour. — E está deixando para trás uma grande confusão. Todo o Oriente Médio está pegando fogo e vai piorar bastante antes de melhorar.
— Não foi o Uzi que fez a bagunça.
— Não — concordou Seymour —, foram os norte-americanos que fizeram. O presidente e seus conselheiros foram muito rápidos em se afastar dos árabes fortes. Agora o presidente enfrenta um mundo que ficou louco e ele não tem ideia do que fazer.
— E se você estivesse aconselhando o presidente, Graham?
— Diria para ressuscitar os árabes fortes. Funcionou antes, pode funcionar de novo.
— Todos os cavalos do rei, e todos os homens do rei.
— O que quer dizer?
— A velha ordem está destruída e não pode ser recuperada. Além disso — acrescentou Gabriel —, foi a velha ordem que criou Bin Laden e os jihadistas em primeiro lugar.
— E quando os jihadistas tentarem expulsar o Estado judeu da Casa do Islã?
— Eles estão tentando, Graham. E caso você não tenha notado, o Reino Unido não tem muita utilidade para eles também. Goste ou não, estamos nessa juntos.
O BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa.
— O que foi? — perguntou Seymour.
— Outro cessar fogo.
— Quanto tempo vai durar esse?
— Acho que até o Hamas decidir rompê-lo. — Gabriel colocou o BlackBerry na mesa de café e, curioso, olhou para Seymour. — Você estava a ponto de me dizer o que está fazendo no meu apartamento.
— Tenho um problema.
— Qual é o nome dele?
— Quinn — respondeu Seymour. — Eamon Quinn.
Gabriel passou o nome pelo banco de dados de sua memória, mas não encontrou nada.
— Irlandês? — ele perguntou.
Seymour assentiu.
— Republicano?
— Do pior tipo.
— Então, qual é o problema?
— Há muito tempo cometi um erro e pessoas morreram.
— E Quinn foi o responsável?
— Quinn acendeu o pavio, mas, em última análise, eu fui o responsável. É a parte maravilhosa de nosso negócio. Nossos erros sempre voltam para nos assombrar, e no final todas as dívidas são pagas. — Seymour levantou sua taça. — Podemos brindar por isso?
7
VIA GREGORIANA, ROMA
O CÉU TINHA FICADO ASSUSTADOR a tarde toda. Finalmente, às dez e meia, uma chuva torrencial transformou, por um tempo, a via Gregoriana em um canal de Veneza. Graham Seymour estava parado na janela vendo como gotas grossas de chuva caíam no terraço, mas estava pensando no otimista verão de 1998. A União Soviética era uma memória. As economias da Europa e dos Estados Unidos estavam rugindo. Os jihadistas da Al-Qaeda eram objetos de estudo em seminários incrivelmente chatos sobre ameaças futuras.
— Nós nos enganamos ao pensar que tínhamos chegado ao fim da história — ele estava dizendo. — Havia alguns no Parlamento que realmente estavam propondo acabar com os Serviços de Segurança e o MI6, e nos queimar na fogueira. — Olhou sobre o ombro. — Eram os dias de vinho e rosas. Foram os dias da ilusão.
— Não para mim, Graham. Eu estava fora do negócio na época.
— Eu lembro.
Seymour se afastou de Gabriel e ficou olhando a chuva batendo no vidro.
— Estava vivendo na Cornualha na época, não estava? Naquela pequena casa no rio Helford. Sua primeira esposa estava no hospital psiquiátrico em Stafford e você a mantinha limpando quadros para Julian Isherwood. E havia aquele rapaz que vivia na casa ao lado. Não lembro o nome dele.
— Peel — falou Gabriel. — O nome dele era Timothy Peel.
— Ah, sim, o jovem mestre Peel. Nunca conseguimos entender por que você passava tanto tempo com ele. Então, percebemos que ele tinha exatamente a mesma idade do filho que você perdeu para uma bomba em Viena.
— Achei que estivessemos falando de você, Graham.
— Estamos — respondeu Seymour.
Ele, então, lembrou a Gabriel, desnecessariamente, de que no verão de 1998 ele era chefe de contraterrorismo no MI5. Dessa forma, era o responsável por proteger a Grã-Bretanha dos terroristas do IRA, o Exército Republicano Irlandês. E, mesmo em Ulster, cena de um conflito secular entre protestantes e católicos, havia sinais de esperança. Os eleitores da Irlanda do Norte tinham ratificado os acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e o IRA Provisório estava aderindo aos termos do cessar fogo. Só o IRA Autêntico, um pequeno grupo de dissidentes de linha dura, continuava com a luta armada. Seu líder era Michael McKevitt, ex-intendente geral do IRA. Sua esposa, Bernadette Sands-McKevitt, dirigia a ala política: o Movimento pela Soberania dos 32 Condados. Era irmã de Bobby Sands, o membro do IRA Provisório que fez uma greve de fome até a morte na prisão de Maze, em 1981.
— E então — falou Seymour — havia Eamon Quinn. Quinn planejava as operações. Quinn construía as bombas. Infelizmente, ele era bom. Muito bom.
Um trovão fez o prédio tremer. Seymour se encolheu um pouco antes de continuar.
— Quinn tinha certa genialidade para construir bombas bastante eficientes e entregá-las em seus alvos. Mas o que ele não sabia — acrescentou Seymour — era que eu tinha um agente na cola dele.
— Quanto tempo ele ficou?
— Minha agente era uma mulher — respondeu Seymour. — E ela estava desde o começo.
Administrar a agente e sua inteligência, continuou Seymour, provou ser algo delicado para equilibrar. Como a agente tinha um alto posto dentro da organização, ela geralmente tinha conhecimento avançado dos ataques, incluindo o alvo, a hora e o tamanho da bomba.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour. — Impedir os ataques e colocar a agente em risco? Ou permitir que os ataques acontecessem e tentar garantir que ninguém fosse morto?
— O segundo — respondeu Gabriel.
— Você fala como um verdadeiro espião.
— Não somos policiais, Graham.
— Graças a Deus.
— Na maior parte do tempo — disse Seymour —, a estratégia funcionou. Vários carros-bombas foram desarmados, e vários outros explodiram com poucos estragos, apesar de que um praticamente nivelou a High Street de Portadown, uma fortaleza legalista, em fevereiro de 1998. Aí, seis meses depois, a espiã do MI5 informou que o grupo estava planejando um grande ataque. Algo grande, ela avisou. Algo que iria explodir em pedaços o processo de paz da Sexta-Feira Santa.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour.
Do lado de fora, o céu explodiu com um raio. Seymour esvaziou sua taça e contou a Gabriel o resto da história.
Na noite de 13 de agosto de 1998, um Vauxhall Cavalier marrom, placa 91 DL 2554, desapareceu de uma casa em Carrickmacross, na República da Irlanda. Foi levado até uma fazenda isolada na fronteira, onde colocaram placas falsas da Irlanda do Norte. Então Quinn colocou a bomba: 220 quilos de fertilizante, uma vareta feita à máquina com fortes explosivos, um detonador, uma fonte escondida em um recipiente plástico para alimentos, um interruptor no porta-luvas. Na manhã de domingo, 15 de agosto, ele dirigiu o carro pela fronteira até Omagh e estacionou na frente da loja de departamentos S.D. Kells, em Lower Market Street.
— Obviamente — falou Seymour —, Quinn não entregou a bomba sozinho. Havia outro homem no Vauxhall, mais dois no carro acompanhante e outro que dirigia o carro de fuga. Eles se comunicavam por celular. E estávamos ouvindo cada palavra.
— O Serviço de Segurança?
— Não — respondeu Seymour. — Nossa capacidade de monitorar ligações telefônicas não se estendia além das fronteiras do Reino Unido. A conspiração de Omagh nasceu na República da Irlanda, então tivemos de confiar no GCHQ para fazer as escutas para nós.
O Government Communications Headquarters (GCHQ), o quartel-general de comunicações do governo, era a versão britânica da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos EUA. Às 14h20 tinha interceptado uma ligação de um homem que parecia Eamon Quinn. Ele falou cinco palavras: “Os tijolos estão na parede.” O MI5 sabia por experiências passadas que a frase significava que a bomba estava no lugar. Doze minutos depois, a Ulster Television recebeu um aviso telefônico anônimo: “Há uma bomba, tribunal, Omagh, rua principal, duzentos e vinte quilos, explosão em trinta minutos.” O Royal Ulster Constabulary começou a evacuar as ruas ao redor do tribunal de Omagh e a procurar pela bomba. O que não perceberam era que estavam olhando o lugar errado.
— O aviso por telefone era incorreto — disse Gabriel.
Seymour assentiu lentamente.
— O Vauxhall não estava nem perto do tribunal. Estava a várias centenas de metros mais para baixo, na Lower Market Street. Quando o RUC começou a evacuação, eles sem querer levaram as pessoas na direção da bomba em vez de afastá-las.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Era exatamente o que Quinn queria. Queria que pessoas morressem, então deliberadamente estacionou o carro no lugar errado. Ele enganou a própria organização.
Dez minutos depois das três, a bomba detonou. Vinte e nove pessoas foram mortas, outras duzentas ficaram feridas. Foi o ataque terrorista mais mortal na história do conflito. A oposição foi tão poderosa que o IRA Autêntico sentiu-se obrigado a divulgar um pedido de desculpas. De alguma forma, o processo de paz foi mantido. Depois de trinta anos de sangue e bombas, o povo da Irlanda do Norte finalmente se cansou.
— E, então, a imprensa e as famílias das vítimas começaram a fazer perguntas desconfortáveis — disse Seymour. — Como o IRA Autêntico conseguiu plantar uma bomba no meio de Omagh sem o conhecimento da polícia e dos serviços de segurança? E por que ninguém foi preso?
— O que você fez?
— Fizemos o que sempre fazemos. Fechamos as fileiras, queimamos nossos arquivos e esperamos a tempestade passar.
Seymour se levantou, carregou sua taça até a cozinha e tirou a garrafa de Gavi da geladeira.
— Você tem algo mais forte que isso?
— Como o quê?
— Algo destilado.
— Eu prefiro tomar acetona a bebidas destiladas.
— Acetona com alguma coisa poderia funcionar. — Seymour serviu um pouco de vinho em sua taça e colocou a garrafa na pia.
— O que aconteceu com Quinn depois de Omagh?
— Quinn começou a trabalhar sozinho. Quinn se tornou internacional.
— Que tipo de trabalho ele faz?
— O de sempre — respondeu Seymour. — Trabalho de segurança para bandidos e ditadores, clínicas de fabricação de bombas para revolucionários e dementes religiosos. Conseguimos encontrá-lo de vez em quando, mas na maior parte do tempo ele voa abaixo do nosso radar. Então, o chefe da inteligência iraniana o convidou a ir a Teerã, e foi quando o Boulevard Rei Saul entrou em cena.
Seymour abriu as travas de sua maleta, tirou uma única folha de papel e colocou sobre a mesinha. Gabriel olhou para o documento e franziu a testa.
— Outra violação do protocolo do Escritório.
— O quê?
— Carregar documentos confidenciais do Escritório em uma maleta insegura.
Gabriel pegou o documento e começou a ler. Afirmava que Eamon Quinn, ex-membro do IRA Autêntico, organizador do ataque terrorista de Omagh, tinha sido retido pela inteligência iraniana para desenvolver bombas muito letais para serem usadas contra forças britânicas e norte-americanas no Iraque. O mesmo Eamon Quinn tinha realizado um serviço parecido para o Hezbollah, no Líbano; e o Hamas, na Faixa de Gaza. Além disso, tinha viajado ao Iêmen, onde ajudou a Al-Qaeda, na península arábica, a construir uma pequena bomba líquida que poderia ser colocada dentro de um avião norte-americano. Ele era, dizia o relatório em seu parágrafo de conclusão, um dos homens mais perigosos do mundo e precisava ser eliminado imediatamente.
— Você deveria aceitar o conselho do Uzi.
— É fácil ver isso agora — respondeu Seymour. — Mas eu não seria tão superficial. Afinal, Uzi teria provavelmente dado o trabalho para você.
Gabriel metodicamente rasgou o documento em pequenos pedaços.
— Isso não é suficiente — disse Seymour.
— Vou queimar mais tarde.
— Faça um favor e queime Eamon Quinn junto.
Gabriel ficou em silêncio por um momento.
— Meus dias no campo terminaram — disse ele, finalmente. — Trabalho no escritório agora, Graham, como você. Além disso, a Irlanda do Norte nunca foi minha praia.
— Então acho que teremos de encontrar um parceiro para você. Alguém que conhece o lugar. Alguém que pode passar por residente se for necessário. Alguém que realmente conhece Eamon Quinn pessoalmente.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição?
— Não — falou Gabriel enfaticamente.
— Eu conheço — respondeu Seymour. — Mas tem um pequeno problema.
— Qual?
Seymour sorriu e disse:
— Ele está morto.
8
VIA GREGORIANA, ROMA
– ESTARÁ MESMO?
Seymour retirou duas fotografias de sua maleta e colocou uma na mesa de café. Mostrava um homem de altura e corpo médios caminhando pelo controle de passaporte no aeroporto de Heathrow, em Londres.
— Você o reconhece? — perguntou Seymour.
Gabriel não falou nada.
— É você, claro. — Seymour apontou para a hora na base da imagem. — Foi tirada no inverno passado durante o caso Madeline Hart. Você entrou no Reino Unido sem ser anunciado para fazer algumas pesquisas.
— Eu estava lá, Graham. Lembro bem.
— Então você também vai lembrar que começou sua pesquisa para Madeline Hart na ilha da Córsega, um ponto de início lógico porque foi onde ela desapareceu. Logo depois da sua chegada, você foi ver um homem chamado Anton Orsati. Dom Orsati dirige a família do crime organizado mais poderosa da ilha, uma família que se especializou em matar por encomenda. Ele entregou a você uma informação valiosa sobre os sequestradores dela. Também permitiu que você pegasse emprestado o melhor assassino dele. — Seymour sorriu. — Isso o faz lembrar algo?
— Obviamente, estavam me espionando.
— De uma distância discreta. Afinal, você estava procurando a amante do primeiro-ministro britânico para mim.
— Ela não era só a amante dele, Graham. Era...
— Esse assassino da Córsega é uma pessoa interessante — interrompeu Seymour. — Na verdade, ele não é da Córsega, apesar de conseguir falar com o sotaque de um local. É inglês, ex-membro do Special Air Service que escapou do campo de batalha no Iraque, em janeiro de 1991, depois de um incidente envolvendo fogo amigo. Os militares britânicos acreditam que está morto. Infelizmente, os pais dele também acham. Mas, claro, você já sabia disso.
Seymour colocou a segunda fotografia na mesinha. Como a primeira, mostrava um homem caminhando no aeroporto de Heathrow. Ele era vários centímetros mais alto que Gabriel, com cabelo loiro curto, pele da cor de couro e ombros quadrados e fortes.
— Foi tirada no mesmo dia da primeira foto, alguns minutos depois. Seu amigo entrou no país com um passaporte francês falso, um dos muitos que ele possui. Nesse dia em especial, ele era Adrien Leblanc. Seu nome verdadeiro é...
— Eu já entendi o que você quer, Graham.
Seymour juntou as duas fotos e entregou a Gabriel.
— O que devo fazer com elas?
— Guarde como lembrança da sua amizade.
Gabriel rasgou as fotos no meio e colocou-as perto dos pedaços do memorando do Escritório.
— Há quanto tempo você sabe?
— A inteligência britânica ouve rumores há anos sobre um inglês trabalhando na Europa como assassino profissional. Nunca conseguimos descobrir seu nome. E nunca, em nossos sonhos mais loucos, imaginamos que ele poderia ser um membro pago do Escritório.
— Ele não é um membro pago.
— Como você o descreveria?
— Um velho adversário que agora é um amigo.
— Adversário?
— Um consórcio de banqueiros suíços já o contratou para me matar.
— Considere-se afortunado — falou Seymour. — Christopher Keller raramente falha em cumprir seus contratos. Ele é muito bom no que faz.
— Ele fala muito bem de você também, Graham.
Seymour ficou sentado em silêncio enquanto uma sirene tocava e desaparecia na rua lá embaixo.
— Keller e eu éramos próximos — ele falou finalmente. — Eu lutava contra o IRA do conforto da minha mesa e Keller estava do lado mais duro. Ele fazia tudo que fosse necessário para manter a Grã-Bretanha segura. E, no final, pagou um preço terrível por isso.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Vou deixar que o Keller conte essa parte da história. Não tenho certeza se posso contar melhor que ele.
Uma rajada de vento fez a chuva bater forte contra a janela. As luzes da sala piscaram.
— Não concordei com nada ainda, Graham.
— Mas vai. Ou — acrescentou Seymour — vou arrastar seu amigo de volta à Grã-Bretanha preso e entregá-lo ao Governo de Sua Majestade para ser processado.
— Com que acusações?
— É desertor e assassino profissional. Tenho certeza de que vamos pensar em alguma coisa.
Gabriel apenas sorriu.
— Um homem em sua posição não deveria fazer ameaças vazias.
— Não estou fazendo.
— Christopher Keller sabe muito sobre a vida privada do primeiro-ministro britânico para que o HMG tente processá-lo por deserção ou qualquer outra coisa. Além disso, suspeito que você tenha outros planos para ele.
Seymour não falou nada. Gabriel perguntou:
— O que você tem na sua maleta?
— Um arquivo grosso do histórico de Eamon Quinn.
— O que quer que a gente faça?
— O que deveríamos ter feito há muitos anos. Tirá-lo do mercado o mais rápido possível. E, falando nisso, descubra quem ordenou e financiou a operação para matar a princesa.
— Talvez Quinn tenha voltado à luta.
— A luta por uma Irlanda unida? — Seymour balançou a cabeça. — Essa luta terminou. Se eu tivesse que adivinhar, ele a matou em nome de alguns de seus patrões. E nós dois conhecemos a regra fundamental quando se trata de assassinatos. Não é importante quem puxa o gatilho, mas quem paga a bala.
Outra rajada de vento bateu contra a janela. As luzes diminuíram e depois morreram. Os dois espiões ficaram sentados na escuridão por vários minutos, nenhum dos dois falou nada.
— Quem falou isso? — Gabriel perguntou finalmente.
— Falou o quê?
— Essa coisa da bala.
— Acho que foi o Ambler.
Houve um silêncio.
— Tenho outros planos, Graham.
— Eu sei.
— Minha esposa está grávida. Muito grávida.
— Então você vai ter de trabalhar rápido.
— Acho que o Uzi já aprovou.
— Foi ideia dele.
— Lembre-me de dar uma tarefa horrível ao Uzi assim que eu assumir como chefe.
Um raio iluminou o riso de Seymour. Então, a escuridão voltou.
— Acho que vi umas velas na cozinha quando estava procurando o saca-rolha.
— Gosto da escuridão — falou Gabriel. — Clareia meu pensamento.
— No que você está pensando?
— Estou pensando no que vou dizer para minha esposa.
— Algo mais?
— Sim — falou Gabriel. — Estou pensando como Quinn sabia que a princesa estaria naquele barco.
9
BERLIM — CÓRSEGA
O HOTEL SAVOY ESTAVA EM uma região meio decadente de uma das ruas que estavam mais na moda em Berlim. Um tapete vermelho se esticava de sua entrada; mesas vermelhas ficavam debaixo de guarda-sóis vermelhos na frente da fachada. Na tarde anterior, Keller tinha visto um ator famoso tomando café ali, mas agora, quando saiu do hotel, as mesas estavam desertas. As nuvens estavam baixas e pesadas, havia um vento frio arrancando as últimas folhas das árvores alinhadas na calçada. O breve outono de Berlim estava acabando. Logo seria inverno de novo.
— Táxi, monsieur?
— Não, obrigado.
Keller colocou uma nota de cinco euros na mão esticada do manobrista e saiu caminhando. Ele tinha se registrado no hotel com um nome francês — a gerência tinha a impressão de que era um jornalista freelancer que escrevia sobre cinema — e ficou só uma noite. Ele tinha passado a noite anterior em um hotel modesto chamado Seifert e, antes disso, ficara acordado à noite em uma triste pensão chamada Bella Berlin. Os três estabelecimentos tinham uma coisa em comum: estavam perto do hotel Kempinski, que era o destino de Keller. Ali, ele ia encontrar um homem, um líbio, antigo funcionário de Kadafi que tinha fugido para a França com duas malas cheias de dinheiro e joias depois da revolução. O líbio tinha investido dois milhões de dólares com alguns empresários franceses depois de receber garantias de um lucro substancial. Os empresários franceses já estavam preocupados com sua associação com o líbio. Estavam preocupados também com sua reputação de violência no passado, pois diziam que o líbio costumava gostar de enfiar pregos nos olhos dos oponentes do regime. Os empresários franceses tinham procurado a ajuda de Dom Anton Orsati e ele tinha dado a tarefa a seu assassino mais eficiente. Keller teve de admitir que ficou animado. Ele nunca gostou do agora falecido ditador líbio ou dos capangas que tinham mantido seu regime no poder. Kadafi tinha permitido que todo tipo de terrorista treinasse em seus campos no deserto, incluindo os membros do IRA Provisório. Também tinha fornecido armas e explosivos ao IRA. Na verdade, quase todo Semtex usado nas bombas do IRA tinha vindo diretamente da Líbia.
Keller cruzou a Kantstrasse e desceu a rampa de um estacionamento no subsolo. No segundo nível, em uma parte da garagem sem câmeras de segurança, havia uma BMW preta deixada para ele por um membro da organização Orsati. No porta-malas havia uma pistola Heckler & Koch 9mm com um silenciador; no porta-luvas havia um cartão que abriria a porta de qualquer quarto no hotel Kempinski. O cartão tinha sido adquirido por cinco mil euros de um gambiano que trabalhava na lavanderia do hotel. O gambiano tinha garantido ao homem da organização que o cartão continuaria operacional por outras 48 horas. Depois disso, os códigos passavam por uma mudança de rotina, e a segurança do hotel daria novos cartões a todos os principais funcionários. Keller esperava que o gambiano estivesse falando a verdade. Ou haveria logo uma vaga na lavanderia do Kempinski.
Keller enfiou a arma e o cartão na maleta. Então colocou a mochila no porta-malas da BMW e subiu a rampa de volta para a rua. O Kempinski ficava a cerca de cem metros seguindo pela Fasanenstrasse; um grande hotel com luzes brilhantes estilo Las Vegas na entrada e um café estilo francês de frente para a Kurfürstendamm. Em uma das mesas estava sentado o líbio. Estava acompanhado de um homem de uns sessenta anos e uma mulher que já tinha sido bonita, com cabelo bem escuro e maquiagem estilo Cleópatra. O homem parecia um velho camarada da corte de Kadafi; a mulher parecia muito bem cuidada e bastante entediada. Keller presumiu que pertencia ao amigo, pois o líbio gostava de suas mulheres loiras, profissionais e caras.
Keller entrou no hotel, sabendo que várias câmeras de segurança o observavam. Não importava; ele estava usando uma peruca escura e óculos falsos. Cinco hóspedes do hotel, recém-chegados, julgando pelo jeito deles, estavam esperando um elevador. Keller permitiu que entrassem no primeiro disponível e depois subiu ao quinto andar sozinho, a cabeça baixa de uma forma que a câmera de vigilância não pudesse capturar claramente os traços de seu rosto. Quando as portas se abriram, ele saiu do elevador com o ar de um homem que não estava contente por voltar à solidão de outro quarto de hotel. Um empregado de limpeza o cumprimentou, mas fora isso o corredor estava vazio. O cartão agora estava no bolso de seu casaco. Ele o tirou quando se aproximou do quarto 518 e inseriu na porta. Brilhou uma luz verde, a trava eletrônica abriu. O gambiano iria viver mais um dia.
O quarto tinha sido recentemente arrumado. Mesmo assim, o cheiro da horrível colônia do líbio persistia. Keller foi até a janela e olhou para a rua. O líbio e seus dois acompanhantes ainda estavam na mesa deles no café, apesar de a mulher parecer cansada. Desde que Keller tinha passado por eles, haviam tirado seus pratos e o café tinha sido servido. Dez minutos, ele pensou. Talvez menos.
Ele se afastou da janela e calmamente revisou o quarto. O Kempinski se achava superior, mas era realmente bastante comum: uma cama dupla, uma mesinha, um aparelho de televisão, um guarda-roupas. As paredes eram grossas o suficiente para abafar todo som dos quartos adjacentes, apesar de que não seriam grossas o suficiente para aguentar uma bala normal, mesmo uma bala que tivesse penetrado um corpo humano. Como resultado, a HK de Keller estava usando balas de ponta côncava de 124 grãos que se expandiam na hora do impacto. Qualquer bala que acertasse o alvo ficaria ali. E na improvável hipótese de que Keller errasse, a bala iria se alojar tranquilamente na parede com um barulho fraco.
Ele voltou à janela e viu que o líbio e seus dois acompanhantes estavam de pé. O homem de talvez sessenta anos estava apertando a mão do líbio; a mulher que já tinha sido bonita com cabelo escuro estava olhando com esperanças para as lojas exclusivas alinhadas na Ku-Damm. Keller puxou as cortinas pesadas, se sentou na poltrona azul-marinho, e tirou a HK da maleta. Do corredor veio o barulho do carrinho da mulher da limpeza. Então, tudo ficou em silêncio. Ele olhou para o relógio e marcou o tempo. Cinco minutos, pensou. Talvez menos.
Um sol benevolente brilhava forte sobre a ilha da Córsega quando a balsa noturna de Marselha entrou no porto de Ajaccio. Keller saiu do barco com os outros passageiros e caminhou até o estacionamento onde tinha deixado sua velha van Renault. Havia muita poeira cobrindo as janelas e o capô. Keller pensou que a poeira era um mau sinal. O mais provável é que o sirocco tivesse trazido do norte da África. Instintivamente, ele tocou o pequeno coral vermelho pendurado ao redor de seu pescoço por um fio de couro. Quem é da Córsega acredita que o talismã tem o poder de afastar o occhju, o mau-olhado. Keller acreditava também, apesar da presença de poeira do norte da África no carro aquela manhã depois de ter matado o líbio sugerisse que o talismã não tinha conseguido protegê-lo. Havia uma velha na sua vila, uma signadora, que tinha o poder de retirar o mal do corpo dele. Keller não queria vê-la, pois a velha também tinha o poder de olhar tanto o passado quanto o futuro. Era uma das poucas pessoas na ilha que sabiam a verdade sobre ele. Conhecia sua longa litania de pecados e erros, e até afirmava saber quais serão a hora e as circunstâncias de sua morte. Era uma das coisas que se recusava a contar.
— Não devo fazer isso — ela sussurrava para ele sob a luz da vela. — Além disso, saber como a vida termina só poderia arruinar a história.
Keller sentou atrás do volante do Renault e desceu para a costa ocidental acidentada da ilha, o mar azul turquesa à sua direita, os altos picos do interior à sua esquerda. Para passar o tempo, ele ouvia as notícias no rádio. Não havia nada sobre um líbio morto em um hotel de luxo em Berlim. Keller duvidava que o corpo já tivesse sido encontrado. Ele tinha cometido o ato em silêncio e, ao deixar o quarto, havia pendurado a plaquinha de “Não Perturbe” na maçaneta. Em algum momento, a gerência do Kempinski teria de bater à porta. E, depois de não receber nenhuma resposta, teriam de entrar no quarto e encontrar um valioso hóspede com dois buracos de bala no coração e um terceiro no centro da testa. A gerência imediatamente ligaria para a polícia, claro, e uma busca ligeira iria começar por um homem de cabelo escuro e bigode que tinha sido visto entrando no quarto. Eles conseguiriam rastrear seus movimentos imediatamente depois do assassinato, mas a pista esfriaria na tristeza arborizada do Tiergarten. A polícia nunca conseguiria estabelecer sua identidade. Alguns suspeitariam que fosse líbio como sua vítima, mas poucos dos veteranos mais espertos especulariam que era o mesmo profissional muito caro que há anos matava na Europa. E, então lavariam suas mãos, pois sabiam que assassinatos cometidos por assassinos profissionais raramente eram resolvidos.
Keller seguiu a costa até a cidade de Porto e depois virou para o interior. Era domingo; as estradas estavam calmas e, nas cidades de colinas, tocavam os sinos das igrejas. No centro da ilha, perto do seu ponto mais alto, estava o pequeno vilarejo dos Orsati. Estava ali, era o que diziam, desde a época dos vândalos, quando as pessoas da costa subiram às colinas por segurança. O tempo parecia ter parado naquele lugar. As crianças brincavam nas ruas sempre porque não havia predadores. Nem havia nenhum narcótico ilegal, pois nenhum traficante se arriscaria a sentir a ira dos Orsati por colocar drogas na vila deles. Nunca acontecia nada ali, e às vezes não havia muito trabalho. Mas era limpa, bonita e segura, e os habitantes pareciam contentes em comer bem, beber vinho e passar tempo com seus filhos e seus idosos. Keller sempre sentia falta deles quando ficava muito tempo longe da Córsega. Ele se vestia como eles, falava o dialeto local e, à noite, quando jogava boules com os homens na praça da vila, balançava a cabeça com desgosto sempre que alguém falava dos franceses ou, Deus perdoe, dos italianos. No passado, as pessoas da vila o chamavam de “Inglês”. Agora ele era somente Christopher. Era um deles.
A histórica propriedade do clã Orsati estava pouco além da vila, em um pequeno vale de oliveiras que produzia o melhor azeite da ilha. Dois guardas armados cuidavam da entrada; eles tocaram seus chapéus típicos respeitosamente quando Keller cruzou o portão e começou a longa subida até a casa. Pinheiros-larício cobriam a entrada, mas no jardim murado a luz brilhante do sol iluminava a longa mesa que tinha sido colocada para o tradicional almoço de domingo da família. Por enquanto, a mesa estava vazia. O clã ainda estava na missa, e o Dom, que não pisava mais na igreja, estava no andar de cima, em seu escritório. Ele estava sentado em uma grande mesa de madeira, olhando um livro aberto com capa de couro, quando Keller entrou. Perto de seu cotovelo havia uma garrafa decorativa do azeite de oliva Orsati — azeite de oliva era o negócio legítimo através do qual o Dom lavava os lucros da morte.
— Como estava Berlim? — ele perguntou sem levantar a cabeça.
— Fria — respondeu Keller. — Mas produtiva.
— Alguma complicação?
— Não.
Orsati sorriu. A única coisa que ele detestava mais que complicações eram os franceses. Fechou o livro e olhou para o rosto de Keller. Como sempre, Dom Orsati estava vestido com uma camisa branca bem passada, calças folgadas de algodão claro e sandálias de couro que pareciam ter sido compradas no mercado local, o que era verdade. Seu bigode pesado tinha sido aparado e sua cabeça com cabelos escuros e toques grisalhos brilhava com gel. O Dom sempre cuidava muito de sua aparência aos domingos. Ele não acreditava mais em Deus, mas insistia em manter o descanso sagrado. Evitava palavrões no dia do Senhor, tentava pensar em coisas boas e, mais importante, proibia que seus taddunaghiu, seus matadores, cumprissem os contratos. Mesmo Keller, que tinha sido criado como anglicano e era, por isso, considerado um herege, seguia as regras do Dom. Recentemente, ele tinha sido forçado a passar mais uma noite em Varsóvia porque Dom Orsati não deu permissão para que matasse o alvo, um mafioso russo, no dia de descanso.
— Você vai ficar para almoçar — o Dom estava falando.
— Obrigado, Dom Orsati — disse Keller formalmente —, mas não quero incomodar.
— Você? Incomodar? —O homem fez um gesto com a mão.
— Estou cansado — falou Keller. — Foi uma viagem complicada.
— Você não dormiu na balsa?
— Evidentemente — disse Keller —, você não viajou em uma balsa recentemente.
Era verdade. Anton Orsati raramente se aventurava além das paredes bem guardadas de sua propriedade. O mundo o procurava com seus problemas, e ele os resolvia — por um valor substancial, claro. Pegou um envelope grosso e colocou na frente de Keller.
— O que é isso?
— Considere um bônus de Natal.
— É outubro.
Dom deu de ombros. Keller levantou a aba do envelope e olhou dentro. Estava cheio de maços de notas de cem euros. Abaixou a aba e empurrou o envelope para o centro da mesa.
— Aqui na Córsega — disse Dom, franzindo a testa —, é falta de educação recusar um presente.
— O presente não é necessário.
— Aceite, Christopher. Você merece.
— Você me fez ser rico, Dom Orsati, mais rico do que achei que seria possível.
— Mas?
Keller ficou sentado em silêncio.
— Em boca fechada não entra mosca nem comida — disse Dom, citando um provérbio da Córsega, dos muitos que conhecia.
— O que quer dizer?
— Fale, Christopher. Conte-me o que o incomoda.
Keller estava olhando o dinheiro, conscientemente evitando o olhar do Dom.
— Está chateado com seu trabalho?
— Não é isso.
— Talvez você devesse dar uma parada. Poderia concentrar suas energias no lado legítimo do negócio. Há muito dinheiro para ganhar aí.
— Azeite de oliva não é a resposta, Dom Orsati.
— Então há um problema.
— Não falei isso.
— Não precisa. — Dom olhou para Keller cuidadosamente. — Quando você arrancar o dente, Christopher, vai parar de doer.
— A menos que tenha um péssimo dentista.
— A única coisa pior que um péssimo dentista é uma péssima companhia.
— É melhor estar sozinho — falou Keller filosoficamente — do que ter péssimas companhias.
Dom sorriu.
— Você pode ter nascido inglês, Christopher, mas tem alma de corso.
Keller se levantou. O Dom empurrou o envelope pela mesa.
— Tem certeza de que não quer ficar para almoçar?
— Tenho planos.
— Quaisquer que forem — disse Dom —, terão de esperar.
— Por quê?
— Tem um visitante.
Keller não precisou perguntar o nome do visitante. Havia poucas pessoas no mundo que sabiam que ele ainda estava vivo e só uma que ousaria aparecer sem avisar antes.
— Quando ele chegou?
— Ontem à noite — respondeu Dom.
— O que ele quer?
— Não tinha liberdade para contar. — Dom olhou para Keller analisando-o profundamente. — É minha imaginação — perguntou finalmente — ou seu humor melhorou de repente?
Keller saiu sem responder. Dom Orsati ficou olhando-o se afastar. Então, olhou para a mesa e xingou baixinho. O inglês tinha se esquecido de levar o envelope.
10
CÓRSEGA
CHRISTOPHER KELLER SEMPRE TINHA muito cuidado com seu dinheiro. Pelos próprios cálculos, ele ganhara mais de vinte milhões de dólares trabalhando para Dom Anton Orsati e, através de investimentos prudentes, tinha se tornado muito rico. A maior parte de sua fortuna estava em bancos em Genebra e Zurique, mas havia também contas em Mônaco, Liechtenstein, Bruxelas, Hong Kong e nas Ilhas Caimã. Ele até mantinha uma pequena quantidade de dinheiro em um banco com boa reputação em Londres. Seu gerente de conta britânico acreditava que era um residente recluso da Córsega que, como Dom Orsati, pouco saía da ilha. O governo da França tinha a mesma opinião. Keller pagava impostos de seus ganhos legítimos e de um respeitável salário que recebia da Orsati Olive Oil Company, onde era diretor de vendas para a Europa central. Votava nas eleições francesas, doava a instituições de caridade francesas, torcia por times franceses e, de vez em quando, tinha sido forçado a utilizar os serviços da saúde pública francesa. Nunca tinha sido acusado de nenhum tipo de crime, uma conquista importante para um homem do sul, e seu registro no departamento de trânsito era impecável. No geral, com uma exceção significativa, Christopher Keller era um cidadão-modelo.
Esquiador e montanhista habilidoso, foi o dono silencioso de um chalé nos Alpes franceses por algum tempo. No momento, ele mantinha uma única residência, uma casa de campo de proporções modestas em um local depois do vale dos Orsati. A casa tinha paredes exteriores marrom-amareladas, telhado de telhas vermelhas, uma grande piscina e um amplo terraço que recebia o sol de manhã e, à tarde, ficava protegido pelos pinheiros. Dentro, os quartos largos eram confortavelmente decorados com móveis rústicos em branco, bege e amarelo. Havia muitas estantes cheias de livros sérios — Keller tinha estudado brevemente história militar em Cambridge e era um leitor voraz de política e questões contemporâneas — e nas paredes havia pendurada uma coleção modesta de quadros modernos e impressionistas. O trabalho mais valioso era uma pequena paisagem de Monet, que Keller, através de um intermediário, tinha comprado em um leilão da Christie’s, em Paris. Parado na frente dele agora, uma mão descansando no queixo, a cabeça meio de lado, estava Gabriel. Ele lambeu a ponta do dedo, esfregou na superfície e balançou a cabeça lentamente.
— Algo errado? — perguntou o inglês.
— A superfície está coberta de sujeira. Você realmente deveria me deixar limpá-lo. Só vai demorar uns...
— Gosto dele assim.
Gabriel limpou o dedo em seu jeans e se virou para Keller. O inglês era dez anos mais jovem que Gabriel, dez centímetros mais alto, e 13 quilos mais pesado, especialmente em ombros e braços, onde carregava uma quantidade letal de força e massa bem esculpidas. Seu cabelo curto era loiro desbotado pelo mar; sua pele era muito bronzeada pelo sol. Ele tinha olhos azuis brilhantes, rosto quadrado, e um queixo grosso com um furo no centro. Sua boca parecia fixada permanentemente em um sorriso debochado. Keller era um homem sem lealdade, sem medo e sem moral, exceto quando se tratava de questões de amizade e amor. Tinha vivido segundo as próprias regras e de certa forma tinha saído ganhando.
— Achei que estaria em Roma — ele falou.
— Eu estava — respondeu Gabriel. — Mas Graham Seymour apareceu na cidade. Ele tinha algo que queria me mostrar.
— O que era?
— A fotografia de um homem caminhando pelo aeroporto de Heathrow.
O meio sorriso de Keller desapareceu, seus olhos azuis se entrecerraram.
— Quanto ele sabe?
— Tudo, Christopher.
— Estou em perigo?
— Isso depende.
— Do quê?
— De você concordar em fazer um trabalho para ele.
— O que ele quer?
Gabriel sorriu.
— O que você faz melhor.
Do lado de fora, o sol ainda dominava o terraço de Keller. Eles se sentaram em duas cadeiras de jardim confortáveis, uma pequena mesa de ferro forjado entre eles. Sobre ela, o grosso arquivo de Graham Seymour acerca dos trabalhos de Eamon Quinn. Keller ainda não tinha aberto ou olhado. Estava ouvindo, interessado, Gabriel contar do papel de Quinn no assassinato da princesa.
Quando Gabriel terminou, Keller pegou a fotografia de sua recente passagem pelo aeroporto de Heathrow.
— Você me deu sua palavra — ele falou. — Jurou que nunca ia contar a Graham que estávamos trabalhando juntos.
— Não precisei contar. Ele já sabia.
— Como?
Gabriel explicou.
— Bastardo desonesto— murmurou Keller.
— Ele é britânico — falou Gabriel. — É algo natural.
Keller olhou cuidadosamente para Gabriel por um momento.
— É engraçado — ele falou —, mas você não parece muito chateado com a situação.
— É uma oportunidade interessante para você, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava o meio-dia. Keller colocou a fotografia em cima do arquivo e acendeu um cigarro.
— Você precisa? — perguntou Gabriel, afastando a fumaça com a mão.
— Que escolha eu tenho?
— Você pode parar de fumar e acrescentar vários anos à sua vida.
— Em relação ao Graham — disse Keller, exasperado.
— Acho que pode ficar aqui na Córsega e esperar que ele não decida contar sobre você aos franceses.
— Ou?
— Pode me ajudar a encontrar Eamon Quinn.
— E depois?
— Pode voltar para casa, Christopher.
Keller apontou o vale com a mão e disse:
— Esta é a minha casa.
— Não é real, Christopher. É uma fantasia. É uma invenção.
— Você também é.
Gabriel sorriu, mas não disse nada. O sino da igreja tinha ficado em silêncio; as sombras da tarde estavam se juntando na beira do terraço. Keller esmagou o cigarro e olhou para o arquivo fechado.
— Leitura interessante? — ele perguntou.
— Bastante.
— Reconhece alguém?
— Um homem do MI5 chamado Graham Seymour — falou Gabriel — e um oficial da SAS que é chamado somente por seu codinome.
— Qual é?
— Mercador.
— Sugestivo.
— Também achei.
— O que fala sobre ele?
— Diz que operou em segredo em Belfast Oeste por cerca de um ano no final dos anos oitenta.
— Por que parou?
— Seu disfarce foi descoberto. Aparentemente, houve uma mulher envolvida.
— Menciona o nome dela? — perguntou Keller.
— Não.
— O que aconteceu em seguida?
— Mercador foi sequestrado pelo IRA e levado a uma fazenda remota para ser interrogado e executado. A fazenda era no condado de Armagh. Quinn estava lá.
— Como terminou?
— Mal.
Uma rajada de vento dobrou o pinheiro. Keller olhou para o vale corso como se estivesse escapando de seu controle. Aí, acendeu outro cigarro e contou a Gabriel o resto da história.
11
CÓRSEGA
FOI A HABILIDADE DE Keller com idiomas que o destacou — não idiomas estrangeiros, mas as várias formas em que o Inglês é falado nas ruas de Belfast e nos seis condados da Irlanda do Norte. As sutilezas dos sotaques locais fizeram com que fosse quase impossível para os oficiais da SAS trabalharem sem serem detectados dentro das pequenas e muito conectadas comunidades da província. Como resultado, a maioria dos homens da SAS era forçada a usar os serviços de um Fred — o termo do regimento para um ajudante local — quando seguiam membros do IRA ou realizavam vigilância nas ruas. Mas não Keller. Ele desenvolveu a capacidade de imitar os vários dialetos de Ulster com a velocidade e a confiança de um nativo. Ele podia até mudar de sotaque de repente — um católico de Armagh um minuto, um protestante da Shankill Road de Belfast no seguinte, depois um católico de Ballymurphy. Suas habilidades linguísticas foram notadas por seus superiores. Nem demorou muito para eles perceberem um ambicioso oficial de inteligência que dirigia o MI5 na Irlanda do Norte.
— Presumo— falou Gabriel — que o jovem oficial do MI5 era Graham Seymour.
Keller assentiu. Então, explicou que Seymour, no final dos anos oitenta, estava insatisfeito com o nível das informações que estava recebendo dos informantes do MI5 na Irlanda do Norte. Ele queria inserir o próprio agente nas fileiras do IRA de Belfast Oeste para informar sobre os movimentos e associações de conhecidos comandantes e voluntários do IRA. Não era um trabalho para um oficial comum do MI5. O agente teria de saber como se virar em um mundo onde um passo em falso, um olhar errado, poderia matar um homem. Keller se encontrou com Seymour em uma casa segura em Londres e aceitou a missão. Dois meses depois, ele estava de volta a Belfast fingindo ser Michael Connelly, um católico. Alugou um apartamento de dois quartos na Divis Tower, em Falls Road. Seu vizinho era membro da brigada do IRA de Belfast Oeste. O exército britânico mantinha um posto de observação no telhado e usava os dois últimos andares como escritório e depósito. Quando os conflitos estavam no auge, os soldados entravam e saíam de helicóptero.
— Era uma loucura — disse Keller, balançando a cabeça devagar. — Loucura total.
Enquanto boa parte de Belfast Oeste estava desempregada e recebendo seguro-desemprego, Keller logo encontrou trabalho como entregador de uma lavanderia em Falls Road. O emprego permitia que se movesse livremente pela vizinhança e enclaves de Belfast Oeste sem levantar suspeitas, e dava acesso às casas e roupas de conhecidos membros do IRA. Era uma conquista impressionante, mas não foi por acaso. A lavanderia era propriedade da inteligência britânica, que a operava.
— Era uma das operações mais controladas — disse Keller. — Nem o primeiro-ministro sabia dela. Tínhamos uma pequena frota de vans, equipamento de escuta e um laboratório nos fundos. Testávamos toda roupa que chegava em nossas mãos buscando traços de explosivos. E, se tínhamos um positivo, colocávamos o dono e sua casa sob vigilância.
Gradualmente, Keller começou a fazer amizades com membros da disfuncional comunidade ao redor dele. Seu vizinho do IRA o convidou para jantar, e, uma vez, em um bar do IRA em Falls Road, um recrutador fez um convite não tão sutil, o qual Keller recusou educadamente. Ele ia regularmente à missa na igreja de S. Paul — como parte de seu treinamento, tinha aprendido os rituais e doutrinas do catolicismo — e, em um domingo úmido em Lent, conheceu uma linda jovem chamada Elizabeth Conlin. Seu pai era Ronnie Conlin, um comandante de campo do IRA em Ballymurphy.
— Um personagem sério— disse Gabriel.
— O mais sério.
— Você decidiu investir na relação.
— Não tive muita escolha na questão.
— Estava apaixonado por ela.
Keller assentiu lentamente.
— Como você se encontrava com ela?
— Costumava entrar escondido em seu quarto. Ela pendurava um lenço violeta na janela se fosse seguro. Era uma casa com terraço e paredes finas como papel. Eu conseguia ouvir o pai dela no quarto ao lado. Era...
— Uma loucura — disse Gabriel.
Keller não falou nada.
— Graham sabia?
— Claro.
— Contou a ele?
— Não precisei. Eu estava sob constante vigilância do MI5 e da SAS.
— Presumo que ele mandou você romper com ela.
— Em termos bem diretos.
— O que você fez?
— Concordei — respondeu Keller. — Com uma condição.
— Quis vê-la uma última vez.
Keller ficou em silêncio e, quando finalmente falou, sua voz tinha mudado. Usava as vogais alongadas e os toques duros da classe trabalhadora de Belfast Oeste. Ele não era mais Christopher Keller, era Michael Connelly, o entregador de roupas de Falls Road que tinha se apaixonado pela linda filha de um chefe do IRA de Ballymurphy. Em sua última noite em Ulster, ele deixou a van em Springfield Road e escalou o muro do jardim da casa de Conlin. O lenço violeta estava pendurado no lugar de sempre, mas o quarto de Elizabeth estava escuro. Keller levantou a janela sem fazer barulho, abriu as cortinas e entrou. Instantaneamente, recebeu um golpe na cabeça, como se fosse a ponta de um machado e começou a perder a consciência. A última coisa que se lembra antes de desmaiar foi o rosto de Ronnie Conlin.
— Estava falando comigo — disse Keller. — Estava dizendo que eu ia morrer.
Keller foi amarrado, amordaçado, encapuzado e enfiado no porta-malas de um carro. Foi levado dos bairros pobres de Belfast Oeste a uma fazenda em Armagh. Lá foi para um celeiro e apanhou muito. Então, foi amarrado a uma cadeira para ser interrogado e julgado. Quatro homens da famosa brigada localdo IRA seriam os jurados. Eamon Quinn seria o promotor, juiz e executor. Ele planejava realizar a sentença com uma faca que tinha roubado de um soldado britânico morto. Quinn era o melhor fabricante de bombas do IRA, um mestre na técnica mas, quando se tratava de assassinato pessoal, ele preferia a faca.
— Ele me falou que se eu cooperasse, minha morte seria razoável. Se não, ele iria me cortar em pedaços.
— O que aconteceu?
— Tive sorte — falou Keller. — Fizeram um péssimo trabalho com as cordas e eu os cortei em pedaços. Foi tão rápido que nem souberam o que os acertou.
— Quantos?
— Dois — respondeu Keller. — Então, consegui pegar uma das armas e atirei em outros dois.
— O que aconteceu com Quinn?
— Quinn sabiamente fugiu. Ele viveu para lutar outro dia.
Na manhã seguinte, o exército britânico anunciou que quatro membros da Brigada de South Armagh tinham sido mortos em uma operação na remota casa segura do IRA. A contagem não fazia nenhuma menção a um oficial da SAS disfarçado chamado Christopher Keller. Nem mencionou um serviço de lavanderia em Falls Road secretamente dirigido pela inteligência britânica. Keller foi levado de volta à Inglaterra para tratamento; a lavanderia foi fechada discretamente. Foi uma grande derrota para os esforços britânicos na Irlanda do Norte.
— E Elizabeth? — perguntou Gabriel.
— Encontraram seu corpo dois dias depois. Rasparam seu cabelo. A garganta foi cortada.
— Quem fez isso?
— Ouvi dizer que foi o Quinn — disse Keller. — Aparentemente, ele insistiu em fazer isso.
Depois de sair do hospital, Keller voltou ao quartel-general da SAS em Hereford para descansar e se recuperar. Ele fazia longas e autopunitivas caminhadas em Brecon Beacons e treinava novos recrutas na arte de matar em silêncio, mas era claro a seus superiores que a experiência em Belfast tinha mudado sua cabeça. Então, em agosto de 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuait. Keller voltou a seu antigo esquadrão Sabre e foi deslocado para o Oriente Médio. Na noite de 28 de janeiro de 1991, enquanto procurava os lançadores de mísseis Scud no deserto ocidental do Iraque, sua unidade foi atacada por uma aeronave da coalizão em um trágico caso de fogo amigo. Só Keller sobreviveu. Com ódio, ele abandonou o campo de batalha e, disfarçado de árabe, cruzou a fronteira para a Síria. De lá, caminhou para o ocidente cruzando Turquia, Grécia e Itália, até finalmente terminar na costa da Córsega, onde caiu nos braços de Dom Anton Orsati.
— Já procurou por ele?
— Quinn?
Gabriel assentiu.
— Dom proibiu.
— Mas isso não o impediu, não é?
— Digamos que segui sua carreira de perto. Sabia que tinha ido com o IRA Autêntico depois dos acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e sabia que foi ele quem plantou aquela bomba no meio de Omagh.
— E quando fugiu da Irlanda?
— Fiz perguntas educadas sobre seu paradeiro. Perguntas mal-educadas, também.
— Alguma delas deu resultado?
— Certamente.
— Mas você nunca tentou matá-lo?
— Não — falou Keller, balançando a cabeça. — Dom proibiu.
— Mas agora você tem uma chance.
— Com a bênção do Serviço Secreto de Sua Majestade. — Keller deu um breve sorriso. — Bastante irônico, não acha?
— Como assim?
— Quinn me tirou do jogo e agora está me levando de volta. — Keller olhou sério para Gabriel por um momento. — Tem certeza de que quer se envolver nisso?
— Por que não iria querer?
— Porque é pessoal — respondeu Keller. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
— Eu me envolvo em coisas pessoais o tempo todo.
— Confusas, também. — As sombras estavam tomando o terraço. O vento fazia ondas na superfície da piscina de Keller. — E se eu fizer isso? — ele perguntou. — E aí?
— Graham vai dar a você uma nova identidade britânica. Um emprego, também. — Gabriel parou.— Se estiver interessado.
— Um emprego fazendo o quê?
— Use sua imaginação.
Keller franziu a testa.
— O que você faria se fosse eu?
— Aceitaria a proposta.
— E desistir de tudo isso?
— Não é real, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava uma hora.
— O que vou dizer ao Dom? — perguntou Keller.
— Infelizmente não posso ajudá-lo com isso.
— Por quê?
— Porque é pessoal — respondeu Gabriel. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
Havia uma balsa partindo de Nice às seis, àquela tarde. Gabriel embarcou às cinco e meia, bebeu um café na cafeteria e foi até o deque de observação para esperar por Keller. Às 17h45 ele não tinha chegado. Mais cinco minutos se passaram sem sinal dele. Então, Gabriel viu um Renault maltratado entrando no estacionamento e um momento depois viu Keller subindo a rampa correndo com uma mochila pendurada nos poderosos ombros. Eles ficaram lado a lado na grade olhando as luzes de Ajaccio diminuindo ao longe. O gentil vento noturno tinha cheiro de macchia, a densa vegetação rasteira de quermes, alecrim e lavanda que cobria boa parte da ilha. Keller respirou fundo antes de acender um cigarro. A brisa carregou sua primeira exalação de fumaça sobre o rosto de Gabriel.
— Você precisa?
Keller não falou nada.
— Estava começando a pensar que tinha mudado de ideia.
— E deixar que você vá sozinho atrás do Quinn?
— Não acha que consigo fazer isso?
— Eu falei isso?
Keller fumou em silêncio por um momento.
— O que o Dom achou?
— Ele recitou muitos provérbios corsos sobre a ingratidão dos filhos. E depois concordou em me deixar partir.
As luzes da ilha estavam ficando mais opacas; o vento tinha cheiro apenas de mar. Keller pegou seu casaco, tirou um talismã corso e entregou a Gabriel.
— Um presente da signadora.
— Não acreditamos nessas coisas.
— Eu aceitaria se fosse você. A velha sugeriu que a coisa poderia ficar feia.
— Feia?
Keller não falou nada. Gabriel aceitou o talismã e o colocou no pescoço. Uma a uma, as luzes da ilha desapareceram. Até a última.
12
DUBLIN
TECNICAMENTE, A OPERAÇÃO EM que Gabriel e Christopher embarcaram no dia seguinte era um trabalho conjunto entre o Escritório e o MI6. O papel britânico era tão secreto, no entanto, que só Graham Seymour sabia dele. Portanto, foi o Escritório que fez os arranjos de viagem e alugou o sedan Škoda que estava esperando no estacionamento do aeroporto de Dublin. Gabriel revisou a parte de baixo antes de entrar no veículo. Keller sentou no banco do passageiro e, franzindo a testa, fechou a porta.
— Não dava para ter conseguido algo melhor que um Škoda?
— É um dos carros mais populares da Irlanda, o que quer dizer que não vai se destacar.
— E as armas?
— Abra o porta-luvas.
Keller abriu. Dentro havia uma Beretta 9mm, carregada, com um pente extra e um silenciador.
— Só uma?
— Não estamos entrando em uma guerra, Christopher.
— É o que você acha.
Keller fechou o porta-luvas, Gabriel enfiou a chave na ignição. O motor hesitou, tossiu e finalmente ligou.
— Ainda acha que deveriam ter alugado um Škoda? — perguntou Keller.
Gabriel colocou o carro em movimento.
— Por onde começamos?
— Ballyfermot.
— Bally onde?
Keller apontou para a placa de saída e disse:
— Bally, para aquele lado.
A República da Irlanda já foi uma terra quase sem crimes violentos. Até o final dos anos sessenta, a força policial da Irlanda, a Garda Síochána, só tinha uns sete mil policiais, e em Dublin havia somente sete carros de patrulha. A maioria dos crimes era leve: arrombamento, batedor de carteira, um ou outro roubo mais violento. E, quando havia violência envolvida, era normalmente alimentada por paixão, álcool ou uma combinação dos dois.
Isso mudou com o início dos conflitos na fronteira com a Irlanda do Norte. Desesperados por dinheiro e armas para lutar contra o exército britânico, o IRA Provisório começou a roubar bancos no sul. Os ladrões pequenos dos bairros pobres de Dublin aprenderam com as táticas dos provos, como eram conhecidos os membros do IRA, e começaram a realizar assaltos à mão armada. A Gardaí, com poucos homens e em situação inferior, foi rapidamente superada pelas ameaças do IRA e dos criminosos locais. Em 1970, a Irlanda não era mais tranquila. Era uma terra de ninguém, onde criminosos e revolucionários operavam com impunidade.
Em 1979, dois eventos improváveis longe da costa da Irlanda aceleraram a decadência do país em um caos social. O primeiro foi a revolução iraniana. O segundo foi a invasão soviética do Afeganistão. Os dois resultaram em uma invasão de heroína barata nas ruas das cidades da Europa ocidental. A droga entrou nos bairros pobres do sul de Dublin em 1980. Um ano depois arrasava os guetos do lado norte. Vidas foram destruídas, famílias foram abaladas e as taxas de crimes aumentaram quando viciados desesperados tentavam alimentar seu hábito. Comunidades inteiras se tornaram terras destroçadas distópicas, onde junkies se drogavam abertamente nas ruas e os traficantes eram reis.
O milagre econômico dos anos noventa transformou a Irlanda de um dos países mais pobres da Europa em um dos mais ricos mas, com a prosperidade, veio um apetite ainda maior por drogas, especialmente cocaína e ecstasy. Os velhos chefes criminosos abriram caminho a uma nova geração de líderes que realizaram guerras sangrentas para dominar territórios e porções do mercado. Onde os mafiosos irlandeses antes usavam armas de cano serrado para impor a vontade deles, os novos membros da gangue se armavam com AK-47 e outros armamentos pesados. Corpos cheios de balas começaram a aparecer nas ruas dos bairros pobres. De acordo com uma estimativa da Garda, em 2012, 25 gangues de tráfico violentas faziam seu comércio mortal na Irlanda. Várias tinham estabelecido conexões lucrativas com grupos criminosos organizados do exterior, inclusive remanescentes do IRA Autêntico.
— Achei que eram contra as drogas — disse Gabriel.
— Isso pode ser verdade lá em cima — disse Keller, apontando para o norte —, mas aqui embaixo, na República, a história é outra. No fundo, o IRA Autêntico é outra gangue de traficantes. Às vezes negociam diretamente. Às vezes gerenciam redes de proteção. Principalmente, tiram dinheiro de traficantes.
— O que LiamWalsh faz?
— Um pouco de tudo.
A chuva embaçava os faróis de trânsito da hora do rush à noite. O tráfego estava mais leve do que Gabriel tinha esperado. Ele achou que era a economia. A Irlanda tinha caído mais do que todos. Até os traficantes estavam com problemas.
— Walsh era republicano em suas veias — Keller estava falando. — Seu pai era do IRA, assim como seus tios e irmãos. Ele foi com o IRA Autêntico depois da grande divisão, e quando a guerra efetivamente terminou, ele veio a Dublin ganhar sua fortuna no negócio das drogas.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Omagh. — Keller apontou para a direita e disse: — Você tem que virar aqui.
Gabriel guiou o carro até Kennelsfort Road. Havia casas de dois andares com terraços dos dois lados da rua. Não era exatamente o milagre irlandês, mas não era uma favela também.
— Aqui é Ballyfermot?
— Palmerstown.
— Para que lado?
Com um movimento de mão, Keller instruiu Gabriel a continuar em frente. Eles saíram em um parque industrial de armazéns cinzentos baixos e de repente estavam em Ballyfermot Road. Após um tempo, chegaram a uma série de pequenas lojas tristonhas: um outlet, uma loja de roupa de cama, uma ótica, uma lanchonete. Do outro lado da rua havia um supermercado Tesco e próximo a ele havia uma casa de apostas. Quatro homens de casacos de couro preto cuidavam da entrada. Liam Walsh era o menor do grupo. Estava fumando um cigarro; estavam todos fumando. Gabriel entrou no estacionamento do Tesco e ocupou uma vaga. Tinha uma clara visão da casa de apostas.
— Talvez você devesse deixar o motor ligado — falou Keller.
— Por quê?
— Poderia não voltar a ligar.
Gabriel desligou o motor e apagou o farol. A chuva batia forte contra o vidro. Depois de uns segundos, Liam Walsh desapareceu em um caleidoscópio borrado de luz. Então, Gabriel ligou o limpador de para-brisa e Walsh reapareceu. Uma comprida Mercedes preta tinha parado em frente à casa de apostas. Era a única Mercedes na rua, provavelmente a única no bairro. Walsh estava conversando com o motorista pela janela aberta.
— Parece um verdadeiro pilar da comunidade — falou Gabriel em voz baixa.
— É como gosta de se mostrar.
— Então por que está parado em frente a uma casa de apostas?
— Quer que as outras gangues saibam que ele está cuidando da área. Um rival tentou matá-lo nesse mesmo lugar no ano passado. Se você olhar de perto, consegue ver os buracos das balas na parede.
A Mercedes foi embora. Liam Walsh voltou a seu abrigo na entrada.
— Quem são esses rapazes de aparência tão boa com ele?
— Os dois à esquerda são os guarda-costas dele. O outro é o seu segundo em comando.
— IRA Autêntico?
— Até os ossos.
— Armados?
— Certamente.
— Então o que você propõe?
— Vamos esperar que ele se mova.
— Aqui?
Keller balançou a cabeça.
— Se nos virem sentados em um carro estacionado, vão achar que somos da Garda ou membros de uma gangue rival. E, se acharem isso, estamos mortos.
— Então talvez não devêssemos nos sentar aqui.
Keller apontou para a lanchonete do outro lado da rua e saiu. Gabriel o seguiu. Eles caminharam lado a lado na beira da rua, as mãos nos bolsos, cabeças abaixadas por causa da chuva, esperando para atravessar.
— Estão olhando para nós — disse Keller.
— Você notou isso também?
— É difícil não notar.
— Walsh conhece seu rosto?
— Conhece agora.
O trânsito parou; eles cruzaram a estrada e foram até a entrada da lanchonete.
— É melhor você não falar — disse Keller. — Esse não é o tipo de bairro que recebe muitos visitantes de terras exóticas.
— Eu falo um inglês perfeito.
— Esse é o problema.
Keller abriu a porta e entrou primeiro. Era uma sala apertada com um piso de linóleo quebrado e paredes descascando. O ar era pesado com gordura, amido e um cheiro de algodão molhado. Havia uma garota bonita atrás do balcão e uma mesa vazia encostada na janela. Gabriel se sentou de costas para a rua enquanto Keller foi até o balcão e fez seu pedido comum sotaque de alguém do sul de Dublin.
— Muito impressionante — murmurou Gabriel quando Keller se sentou. — Por um minuto pensei que você fosse começar a cantar When Irish Eyes Are Smiling.
— Para aquela garota linda, sou tão irlandês quanto ela.
— É — falou Gabriel, duvidando. — E eu sou o Oscar Wilde.
— Não acha que posso fingir ser irlandês?
— Talvez um que passou umas férias muito longas sob o sol.
— Essa é a minha história.
— Onde você estava?
— Maiorca — respondeu Keller. — Os irlandeses adoram Maiorca, especialmente os mafiosos irlandeses.
Gabriel olhou ao redor do interior do café.
— Eu imagino por quê.
A garota foi até à mesa e depositou um prato de batatas e dois copos de isopor com chá e leite. Quando ela estava se afastando, a porta se abriu e dois homens muito pálidos de vinte e poucos anos entraram. Uma mulher com um casaco úmido e sapatos velhos entrou um momento depois. Os dois homens se sentaram a uma mesa perto de Keller e Gabriel e começaram a falar em um dialeto que Gabriel achou quase impenetrável. A mulher se sentou no fundo da lanchonete. Ela só pediu chá e estava lendo um livro bastante usado.
— O que está acontecendo do lado de fora? — perguntou Gabriel.
— Quatro homens parados na frente de uma casa de apostas. Um homem parece que já está cansado da chuva.
— Onde ele mora?
— Não muito longe — respondeu Keller. — Gosta de morar entre o povo.
Gabriel bebeu um pouco do chá e fez uma careta. Keller empurrou o prato de batatas.
— Coma um pouco.
— Não.
— Por que não?
— Quero viver o suficiente para ver meus filhos nascerem.
— Boa ideia.
Keller sorriu, depois acrescentou:
— Homens da sua idade realmente deveriam se preocupar com o que comem.
— Olha quem fala.
— Quantos anos você tem, exatamente?
— Não consigo me lembrar.
— Problemas de perda de memória?
Gabriel bebeu um pouco do chá. Keller mordiscou as batatas.
— Não são tão boas quanto as fritas do sul da França — falou.
— Pegou o recibo?
— Para que eu precisaria de recibo?
— Ouvi que os contadores do MI6 são muito exigentes.
— Não vamos continuar com isso do MI6 ainda. Não tomei nenhuma decisão.
— Às vezes nossas melhores decisões acontecem sozinhas.
— Você parece o Dom. — Keller comeu outra batata. — É verdade isso dos contadores do MI6?
— Só estava puxando conversa.
— São duros?
— Os piores.
— Mas não com você.
— Não muito.
— Então por que não conseguiram algo melhor que um Škoda para você?
— O Škoda está ótimo.
— Espero que ele caiba no porta-malas.
— Podemos bater a porta na cabeça dele algumas vezes se for preciso.
— E a casa segura?
— Tenho certeza de que é adorável, Christopher.
Keller não parecia convencido. Pegou outra batata, pensou melhor e jogou-a no prato.
— O que está acontecendo atrás de mim? — ele perguntou.
— Dois caras estão falando um idioma desconhecido. Uma mulher está lendo.
— O que está lendo?
— Acho que é John Banville.
Keller assentiu, pensativo, os olhos na Ballyfermot Road.
— O que você está vendo? — perguntou Gabriel.
— Um homem parado em frente a uma casa de apostas. Três homens entrando em um carro.
— Que tipo de carro?
— Mercedes preta.
— Melhor que um Škoda.
— Muito melhor.
— Então, o que vamos fazer?
— Deixamos as batatas e levamos o chá.
— Quando?
Keller se levantou.
13
BALLYFERMOT, DUBLIN
ELES JOGARAM OS COPOS de isopor em uma lata de lixo no estacionamento do Tesco e subiram no Škoda. Dessa vez, Keller dirigiu; era sua área. Ele entrou na Ballyfermot Road e cruzou o trânsito até que houvesse apenas dois carros separando-os da Mercedes. Dirigia calmamente, uma mão se equilibrando no alto do volante, a outra descansando no câmbio automático. Os olhos estavam fixos à frente. Gabriel estava controlando o espelho lateral e estava olhando o trânsito atrás deles.
— Então? — perguntou Keller.
— Você é muito bom, Christopher. Vai ser um ótimo agente do MI6.
— Eu estava perguntando se estávamos sendo seguidos.
— Não estamos.
Keller tirou a mão do câmbio e a usou para tirar um cigarro do bolso do casaco. Gabriel bateu no aviso preto e amarelo no visor e disse:
— É proibido fumar neste carro.
Keller acendeu o cigarro. Gabriel baixou o vidro uns centímetros para ventilar a fumaça.
— Estão parando — ele disse.
— Eu vi.
A Mercedes entrou em um estacionamento na frente de uma banca de jornal. Por alguns segundos ninguém saiu. Então Liam Walsh desceu da porta de trás do lado do passageiro e entrou na loja. Keller dirigiu mais uns cinquenta metros e estacionou em frente a uma pizzaria. Apagou as luzes, mas deixou o motor ligado.
— Acho que ele precisava pegar umas coisas a caminho de casa.
— Como o quê?
— Um Herald— sugeriu Keller.
— Ninguém mais lê jornais, Christopher. Não ouviu falar?
Keller olhou para a pizzaria.
— Talvez você devesse entrar e comprar uma pizza.
— Como eu peço sem falar o idioma?
— Vai pensar em algo.
— Qual sabor de pizza você quer?
— Vá — respondeu Keller.
Gabriel desceu do carro e entrou no lugar. Havia três pessoas na fila na frente dele. Ele ficou ali esperando em meio ao cheiro de queijo quente e fermento. Então, ouviu uma breve buzinada e, virando-se, viu a Mercedes preta entrando rápido na Ballyfermot Road. Gabriel saiu e entrou no banco do passageiro. Keller deu a volta, entrou na rua e acelerou lentamente.
— Ele comprou algo? — perguntou Gabriel.
— Uns jornais e um maço de Winston.
— Como ele estava quando saiu?
— Como se realmente não precisasse de jornal ou cigarro.
— Imagino que a Garda o vigia regularmente?
— Espero que sim.
— O que significa que está acostumado a ser seguido de vez em quando por homens em carros comuns.
— Eu pensaria isso.
— Está virando — falou Gabriel.
— Eu vi.
O carro entrou em uma rua escura de pequenas casas com terraço. Nenhum trânsito, nenhuma loja, nenhum lugar onde dois caras de fora poderiam ter algo a fazer. Keller parou no meio-fio e apagou os faróis. Cem metros à frente na rua, a Mercedes entrou em uma casa. As luzes do carro se apagaram. Quatro portas se abriram, quatro homens desceram.
— Casa de Walsh? — perguntou Gabriel.
Keller assentiu.
— Casado?
— Não é mais.
— Namorada?
— Pode ter.
— E um cachorro?
— Tem algum problema com cachorros?
Gabriel não respondeu. Em vez disso, ficou olhando os quatro homens se aproximarem da casa e desaparecerem pela porta da frente.
— O que fazemos agora? — ele perguntou.
— Acho que poderíamos passar os próximos dias esperando uma oportunidade melhor.
— Ou?
— Pegamos ele agora.
— Há quatro deles e dois nossos.
— Um — respondeu Keller. — Você não vai.
— Por que não?
— Porque o futuro chefe do Escritório não pode se envolver em algo assim. Além disso — acrescentou Keller, batendo na protuberância debaixo da jaqueta —, só temos uma arma.
— Quatro contra um — disse Gabriel depois de um momento. — Não é uma boa aposta.
— Na verdade, com meu histórico, eu gosto das minhas chances.
— Como você pretende fazer?
— Da mesma forma que costumávamos fazer na Irlanda do Norte — respondeu Keller. — Jogo de gente grande, regras de gente grande.
Keller desceu sem falar nada e fechou a porta sem fazer barulho. Gabriel passou uma perna sobre o console do centro e deslizou atrás do volante. Ele ligou o para-brisas e olhou Keller caminhando pela rua, as mãos no bolso do casaco, os ombros inclinados pelo vento. Verificou seu BlackBerry. Eram 20h27 em Dublin, 22h27 em Jerusalém. Pensou em sua linda esposa sentada sozinha no apartamento deles na rua Narkiss, e em seus dois filhos descansando confortavelmente no útero dela. E aqui estava ele em uma rua deserta no sul de Dublin, sentinela de outra vigília, esperando um amigo cobrar uma velha dívida. A chuva batia contra o vidro, a rua escura foi se enchendo de água. Gabriel ligou o para-brisa uma segunda vez e viu Keller passar por uma esfera de luz amarela. E, quando ligou pela terceira vez, Keller tinha desaparecido.
A casa estava localizada no número 48 da Rossmore Road. Seu exterior era cinzento, com uma janela de marcos brancos no térreo e outras duas no andar de cima. A entrada estreita tinha espaço suficiente para um carro. Ao lado da entrada havia um portão com um caminho e um pedaço de grama bordeada por uma sebe baixa. Era respeitável, exceto pelo homem que vivia ali.
Como todas as casas no final da rua, o número 48 tinha um quintal no fundo, que dava para os campos esportivos de uma escola católica para garotos. A entrada da escola virava a esquina em Le Fanu Road. O portão principal estava aberto; parecia que estava ocorrendo uma reunião na sala principal. Keller passou pelo portão sem ser notado e cruzou uma quadra marcada para diversos tipos de jogos. De repente, estava de volta à terrível escola em Surrey para onde seus pais o enviaram aos dez anos. Esperavam muito dele — uma boa família, um excelente estudante, um líder natural. Os garotos mais velhos nunca tocavam nele porque tinham medo. O diretor não usava castigos físicos contra ele porque secretamente o diretor também tinha medo.
Na beira da quadra havia uma fileira de árvores. Keller passou por baixo dos galhos secos e cruzou as quadras escuras. Junto ao lado norte havia um muro de aproximadamente dois metros de altura coberto de videiras. Além dele estavam os jardins de fundo das casas da Rossmore Road. Keller foi até o canto mais distante do campo e contou 57 passos precisamente. Então, silenciosamente, escalou o muro e pulou para o outro lado. Quando seus sapatos caíram sobre a terra úmida, tirou a Beretta com silenciador e apontou para a porta do fundo da casa. Havia luzes lá dentro; sombras se moviam contra as cortinas fechadas. Keller segurava a arma, vendo, ouvindo. Jogo de gente grande, ele pensou. Regras de gente grande.
Dez minutos depois das nove, o BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele o levou ao ouvido, escutou, e depois desligou. A chuva tinha dado lugar a uma névoa; Rossmore Road estava vazia de trânsito e pedestres. Dirigiu até a casa de número 48, estacionou na rua e desligou o motor. Novamente seu BlackBerry vibrou, mas dessa vez ele não atendeu. Em vez disso, tirou um par de luvas de borracha coloridas, desceu e abriu o porta-malas modesto. Dentro havia uma maleta deixada pelo mensageiro da Estação de Dublin. Gabriel a tirou e carregou até o jardim. A porta da frente abriu com seu toque; ele entrou e a fechou. Keller estava no hall de entrada, a Beretta em sua mão. O ar tinha cheiro de cordite e, levemente, de sangue. Era um cheiro muito familiar a Gabriel. Ele passou por Keller sem falar nada e entrou na sala de estar. Havia uma nuvem de fumaça no ar. Três homens, cada um com um buraco de bala no centro da testa, um quarto com um nariz quebrado e um queixo que parecia ter sido deslocado com um martelo. Gabriel se abaixou e viu se tinha pulso. Depois de ver que estava vivo, abriu a mala e começou a trabalhar.
A mala continha três rolos de fita adesiva grossa, uma dúzia de algemas flexíveis descartáveis, uma bolsa de nylon capaz de envolver um homem de 1,80m, um capuz preto, um agasalho azul e branco, duas mudas de roupa, um kit de primeiros socorros, fones de ouvido, sedativo, seringas, álcool e uma cópia do Corão. O Escritório se referia ao conteúdo da mala como pacote móvel do detido. Entre os agentes de campo veteranos, no entanto, era conhecido como um kit de viagem do terrorista.
Depois de determinar que Walsh não corria risco de morrer, Gabriel o mumificou com fita adesiva. Ele não se importou com as algemas de plástico; em questão de arte e restrição física, era um tradicionalista por natureza. Enquanto estava aplicando as últimas faixas de fita na boca e nos olhos de Walsh, o irlandês começou a recuperar a consciência. Gabriel aplicou uma dose do sedativo. Então, com a ajuda de Keller, colocou Walsh na sacola de lona e fechou o zíper.
A casa não tinha garagem, o que significava que não tinham escolha a não ser tirar Walsh pela porta da frente, à vista dos vizinhos. Gabriel encontrou a chave do Mercedes no corpo de um dos mortos. Moveu o carro para a rua e colocou o Škoda na entrada. Keller carregou Walsh para fora sozinho e o depositou no porta-malas aberto. Então subiu no banco do passageiro e deixou que Gabriel dirigisse. Foi o melhor. Na experiência de Gabriel, era pouco inteligente permitir que um homem que tinha acabado de matar três pessoas operasse um veículo motorizado.
— Você apagou as luzes?
Keller assentiu.
— E as portas?
— Estão trancadas.
Keller tirou o silenciador e o pente da Beretta e colocou tudo no porta-luvas. Gabriel saiu para a rua e começou o caminho de volta para Ballyfermot Road.
— Quantas balas você usou? — ele perguntou.
— Três — respondeu Keller.
— Quanto tempo antes que a Garda encontre os corpos?
— Não é com a Garda que deveríamos nos preocupar.
Keller jogou o cigarro na escuridão da rua. Gabriel viu faíscas explodindo pelo espelho.
— Como se sente? — ele perguntou.
— Como se nunca tivesse ido embora.
— Esse é o problema com a vingança, Christopher. Nunca faz a gente se sentir melhor.
— É verdade — disse Keller, acendendo outro cigarro. — E eu só estou começando.
14
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
A CASA ESTAVA NO MEIO da Doonen Road, no alto de uma colina com vista para as águas escuras do Salt Lake. Tinha três quartos, uma cozinha grande com utensílios modernos, uma sala de jantar formal, uma pequena biblioteca e um escritório, e um porão com paredes de pedra. O dono, um advogado de Dublin bem-sucedido, quis mil euros por uma semana. A Organização Interna tinha feito a proposta de mil e quinhentos por duas, e o advogado, que raramente recebia ofertas no inverno, aceitou. O dinheiro apareceu em sua conta bancária na manhã seguinte. Veio de algo chamado Taurus Global Entertainment, uma empresa de produção televisiva com sede na cidade suíça de Montreux. Falaram ao advogado que os dois homens que iam ficar em sua casa eram executivos da Taurus que estavam indo à Irlanda para trabalhar em um projeto que era de natureza delicada. Isso, pelo menos, era verdade.
A casa estava distante da Doonen Road por pelo menos uns cem metros. Havia um portão de alumínio frágil que devia ser aberto e fechado à mão e um caminho de pedras que subia pela colina atravessando a vegetação. No ponto mais alto da terra havia três árvores muito antigas derrubadas pelo vento que soprava do Atlântico norte e que se estreitava pela baía de Clifden. O vento era frio e sem remorso. Balançava as janelas da casa, agarrava as telhas e rondava os quartos sempre que uma porta se abria. O pequeno terraço era inabitável, uma terra de ninguém. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Doonen Road não era uma estrada de verdade, mas uma faixa estreita de asfalto, suficiente para um carro, com uma faixa de grama verde no centro. As pessoas de férias viajavam para lá ocasionalmente, mas ela servia basicamente como a porta dos fundos da vila de Clifden. Era uma cidade jovem pelos padrões irlandeses, fundada em 1814 por um dono de terras e xerife chamado John d’Arcy, que queria criar uma ilha de ordem dentro da violenta e sem lei Connemara. D’Arcy construiu um castelo para si e para os moradores da vila, uma linda cidade com ruas pavimentadas, praças e um par de igrejas com torres que podiam ser vistas de longe. O castelo agora estava em ruínas, mas a vila, que já tinha quase desaparecido por causa da Grande Fome, estava entre as mais vibrantes do oeste da Irlanda.
Um dos homens que estava na casa alugada, o menor dos dois, caminhava até a vila todos os dias, normalmente no final da manhã, vestindo um casaco verde-escuro, carregando uma mochila no ombro e usando um chapéu mole puxado sobre a testa. Ele comprava umas poucas coisas no supermercado e uma ou duas garrafas na Ferguson Fine Wines, italianos normalmente, às vezes franceses. E então, tendo comprado suas provisões, ele passeava pelas vitrines da Main Street com o ar de alguém preocupado com questões mais importantes. Em uma ocasião, ele entrou na Lavelle Art Gallery para dar uma olhada rápida no que tinham. O proprietário ia se lembrar depois que ele parecia conhecer muito sobre quadros e isso chamou sua atenção. Era difícil saber de onde era seu sotaque. Talvez alemão, talvez outra coisa. Não importava; para o povo de Connemara, todo mundo tinha sotaque.
No quarto dia, sua caminhada pela Main Street era mais superficial do que o normal. Ele entrou em apenas um lugar, na banca de jornal, e comprou quatro maços de cigarro norte-americano e uma cópia do The Independent. A primeira página estava cheia de notícias de Dublin, sobre três membros do IRA Autêntico que tinham sido encontrados mortos em uma casa em Ballyfermot. Outro homem estava desaparecido e supostamente tinha sido sequestrado. A Garda estava procurando por ele. Também os membros do IRA Autêntico.
— Gangue de traficantes — murmurou o homem atrás do balcão.
— Terrível — concordou o visitante com o sotaque que ninguém conseguia localizar.
Ele enfiou o jornal na mochila e, com alguma relutância, o cigarro. Aí caminhou de novo para a casa do advogado de Dublin, que, na realidade era odiado pelos residentes de Clifden. O outro homem, que tinha a pele curtida como couro, estava ouvindo atentamente as notícias do meio-dia na RTÉ.
— Estamos perto— foi tudo que ele disse.
— Quando?
— Talvez essa noite.
O menor dos dois homens foi até o terraço enquanto o outro fumava. Uma nuvem escura estava sobre Clifden e o vento parecia estar cheio de lascas. Cinco minutos foi tudo que ele aguentou. Então entrou, para a fumaça e a tensão da espera. Não sentiu vergonha. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Em toda sua carreira, Gabriel tinha tido o desprazer de conhecer vários terroristas: terroristas palestinos, egípcios, sauditas; terroristas motivados pela fé, motivados por uma perda; que tinham nascido nas piores favelas do mundo árabe; terroristas que tinham sido criados no conforto material do ocidente. Geralmente, ele imaginava o que esses homens poderiam ter conseguido se tivessem escolhido outro caminho. Muitos eram bastante inteligentes, e em seus olhos impiedosos, via curas de doenças nunca encontradas, softwares nunca criados, músicas nunca compostas e poemas nunca escritos. Liam Walsh, no entanto, não causou nenhuma impressão. Walsh era um assassino sem remorso ou boa educação, que não tinha ambição a não ser a destruição de vidas e propriedades. Em seu caso, uma carreira no terrorismo, até pelos reduzidos padrões dos republicanos irlandeses conservadores, era o melhor que ele poderia ter conseguido.
Ele não tinha medo, no entanto, e possuía uma obstinação natural que o tornava difícil de quebrar. Nas primeiras 48 horas foi deixado em total isolamento no frio do porão, olhos vendados, amordaçado, com fones de ouvido, imobilizado por fita adesiva. Não ofereceram comida, apenas água, que ele recusou. Keller o levou ao banheiro, mas suas necessidades eram mínimas por causa de sua dieta restritiva. Quando necessário, ele falava com Walsh com o sotaque de um protestante da classe trabalhadora de Belfast oriental. O irlandês não recebeu nenhuma oferta para sair de sua situação e não pediu nada. Tendo visto três de seus companheiros mortos num piscar de olhos, parecia resignado ao seu destino. Como a SAS, os terroristas e traficantes irlandeses jogavam com as regras de gente grande.
Na manhã do terceiro dia, louco de sede, ele aceitou um pouco de água à temperatura ambiente. Ao meio-dia bebeu chá com leite e açúcar, e à noite recebeu mais chá e uma única torrada. Foi então que Keller falou com ele pela primeira vez.
— Você está atolado em problemas, Liam — disse em seu sotaque de Belfast oriental. — E a única forma de sair é me contar o que quero saber.
— Quem é você? — perguntou Walsh com dor no queixo quebrado.
— Isso depende inteiramente de você — respondeu Keller. — Se falar comigo, serei seu melhor amigo no mundo. Se não, vai terminar como seus três amigos.
— O que quer saber?
— Omagh — foi tudo que Keller disse.
Na manhã do quarto dia, Keller tirou os fones do ouvido de Walsh e a mordaça de sua boca, falando sobre a situação em que se encontrava o irlandês agora. Keller afirmou que era membro de um pequeno grupo vigilante de protestantes procurando justiça pelas vítimas do terrorismo republicano. Sugeriu que tinha ligações com o Ulster Volunteer Force, o grupo paramilitar legalista que tinha matado pelo menos quinhentas pessoas, principalmente civis católicos romanos, durante o pior dos problemas na Irlanda do Norte. O UVF aceitou um cessar-fogo em 1994, mas seus murais, com imagens de homens mascarados e armados, ainda estavam nos muros dos bairros protestantes e nas cidades em Ulster. Muitos dos murais tinham o mesmo slogan: “Preparados para a paz, prontos para a guerra.” O mesmo poderia ser dito de Keller.
— Estou procurando quem montou a bomba — ele explicou. — Você sabe de que bomba estou falando, Liam. A bomba que matou 29 pessoas inocentes em Omagh. Você estava lá aquele dia. Estava no carro com ele.
— Não sei do que você está falando.
— Você estava lá, Liam — repetiu Keller. — E esteve em contato com ele depois que o movimento deu em merda. Ele veio aqui para Dublin. Você cuidou dele até que ficou complicado demais.
— Não é verdade. Nada disso é verdade.
— Ele voltou a circular, Liam. Conte-me onde posso encontrá-lo.
Walsh não falou nada por um tempo.
— E se eu contar? — ele perguntou finalmente.
— Vai passar algum tempo preso, um longo tempo, mas vai viver.
— Mentira — cuspiu Walsh.
— Não estamos interessados em você, Liam — respondeu Keller calmamente. — Só nele. Diga onde podemos encontrá-lo e vamos deixar você viver. Tente dar uma de esperto e vou matar você. E não vai ser uma bela bala na cabeça. Vai doer, Liam. Vai doer muito.
Naquela tarde, uma tempestade caiu em toda Connemara. Gabriel se sentou ao lado do fogo lendo um livro de Fitzgerald enquanto Keller dirigia pela região procurando atividades incomuns da Garda. Liam Walsh permaneceu isolado no porão, amarrado, amordaçado, com os olhos e os ouvidos cobertos. Ele não recebeu bebida ou comida. Naquela noite, estava tão fraco de fome e desidratação que Keller quase teve de carregá-lo ao banheiro.
— Quanto tempo? — perguntou Gabriel no jantar.
— Estamos perto— disse Keller.
— Foi o que você falou antes.
Keller ficou em silêncio.
— Tem algo que possamos fazer para acelerar as coisas? Gostaria de sair daqui antes que a Garda venha bater à porta.
— Ou o IRA Autêntico — acrescentou Keller.
— Então?
— Ele está imune à dor nesse ponto.
— E água?
— Água é sempre bom.
— Ele sabe?
— Ele sabe.
— Você precisa de ajuda?
— Não — falou Keller, se levantando. — É pessoal.
Quando Keller saiu, Gabriel foi até o terraço e ficou sob a chuva. Só demorou cinco minutos. Mesmo um homem duro como Liam Walsh não podia aguentar a água por muito tempo.
15
THAMES HOUSE, LONDRES
A CADA NOITE DE SEXTA-FEIRA, normalmente às seis horas, mas às vezes um pouco mais tarde se Londres ou o mundo estivesse em crise, Graham Seymour tomava uma bebida com Amanda Wallace, diretora-geral do MI5. Era, sem dúvida, sua reunião menos agradável da semana. Wallace era a antiga chefe de Seymour. Eles entraram no MI5 no mesmo ano e tinham avançado em suas carreiras de forma paralela; Seymour no departamento de contraterrorismo, Wallace no de contraespionagem. No final, foi Amanda quem venceu a corrida para a sala do DG. Mas agora, bastante inesperadamente e no fim de sua carreira, Seymour tinha recebido o melhor prêmio de todos. Amanda o odiava por isso, pois ele agora era o espião mais poderoso de Londres. Em silêncio, ela trabalhava para miná-lo sempre que podia.
Como Seymour, Amanda Wallace tinha espionagem em seu DNA. Sua mãe trabalhara muito na sala de arquivos do registro do MI5 durante a guerra e, ao se formar em Cambridge, Amanda nunca tinha considerado outra carreira a não ser na inteligência. A linhagem comum deles deveria tê-los tornado aliados. Em vez disso, Amanda tinha imediatamente colocado Seymour no papel de rival. Ele era o canalha bonitão para quem o sucesso tinha chegado muito facilmente e ela era a garota estranha, até tímida, que iria derrubá-lo. Eles se conheciam havia trinta anos e juntos tinham chegado aos dois postos mais importantes da inteligência britânica e, mesmo assim, a dinâmica básica do relacionamento deles nunca tinha mudado.
Na sexta-feira anterior, Amanda tinha ido a Vauxhall Cross, o que significava que sob as regras do relacionamento deles, era a vez de Seymour viajar. Ele não via isso como uma imposição; sempre gostava de voltar a Thames House. Seu Jaguar oficial entrou no estacionamento do subsolo às 17h55 e, dois minutos depois, o elevador de Amanda o deixou no andar mais alto. O corredor principal estava muito silencioso. Seymour supôs que a equipe sênior estava misturada com as tropas em um dos dois bares privativos do prédio. Como sempre, ele parou para dar uma olhada dentro de seu velho escritório. Miles Kent, seu sucessor como vice-diretor, estava olhando para o computador. Parecia que não dormia há uma semana.
— Como ela está? — perguntou Seymour, cauteloso.
— Brava e agitada. Mas é melhor você correr — acrescentou Kent. — Não deve deixar a rainha esperando.
Seymour continuou pelo corredor até a sala da DG. Um membro da equipe toda masculina de Amanda o cumprimentou na antessala e imediatamente abriu a porta do escritório dela. Estava parada contemplando uma janela que dava para o Parlamento. Virando-se, ela consultou o relógio. Amanda valorizava a pontualidade acima de todos os outros atributos.
— Graham — ela falou, tranquila, como se estivesse lendo o nome dele em um dos densos documentos de briefing que sua equipe sempre preparava antes de uma reunião importante. Então deu um sorriso eficiente. Parecia que tinha aprendido a fazer a expressão praticando em frente ao espelho. — Que bom que veio.
Uma bandeja com bebidas tinha sido deixada na longa e brilhante mesa de reuniões. Ela preparou um gim-tônica para Seymour e, para si mesma, um martini seco com azeitonas e cebolas em conserva. Ela se orgulhava da habilidade para preparar sua bebida, uma habilidade que, em sua opinião, era obrigatória para um espião. Era uma de suas poucas qualidades amáveis.
— Saúde — disse Seymour, levantando o copo um centímetro, mas novamente Amanda só sorriu. A BBC estava sintonizada e silenciada em uma grande televisão de tela plana. Um oficial sênior da Garda Síochána estava parado em frente a uma pequena casa em Ballyfermot onde três homens, todos da gangue de traficantes do IRA Autêntico, tinham sido encontrados mortos.
— Bastante horrível — disse Amanda.
— Uma guerra por território, aparentemente — murmurou Seymour sobre o copo.
— Nossos amigos na Garda têm dúvidas sobre isso.
— Do que eles sabem?
— Nada, na verdade, e é por isso que estão preocupados. Os telefones normalmente tocam com muitos dedos-duros depois de um grande assassinato entre gangues, mas não dessa vez. E também — ela acrescentou — a forma como eles foram mortos. Normalmente, esses mafiosos destroem toda a sala com armas automáticas. Mas quem fez isso foi muito preciso. Três tiros, três corpos. A Garda está convencida de que estão lidando com profissionais.
— Têm alguma ideia de onde está Liam Walsh?
— Estão trabalhando com a suposição de que ele está em algum lugar da República, mas não têm ideia de onde. — Ela olhou para Seymour e levantou uma sobrancelha. — Ele não está amarrado em uma cadeira em alguma casa segura do MI6, está, Graham?
— Infelizmente, não.
Seymour olhou para a televisão. A BBC tinha passado para a próxima notícia. O primeiro-ministro Jonathan Lancaster estavam em Washington para uma reunião com o presidente norte-americano. Não tinha ido tão bem quanto ele esperava. A Grã-Bretanha não estava muito em voga em Washington no momento, pelo menos não na Casa Branca.
— Seu amigo — disse Amanda friamente.
— O presidente norte-americano?
— Jonathan.
— Seu também — respondeu Seymour.
— Minha relação com o primeiro-ministro é cordial — disse Amanda deliberadamente —, mas não chega perto da sua. Você e Jonathan são muito ligados.
Estava claro que Amanda queria falar mais sobre a conexão especial de Seymour com o primeiro-ministro. Em vez disso, serviu mais uma bebida para ele enquanto contava uma fofoca sobre a esposa de certo embaixador de um emirado árabe rico em petróleo. Seymour também contou sobre um relatório que tinha recebido de um homem com sotaque britânico que estava comprando mísseis antitanque portáteis no bazar de armas na Líbia. Depois disso, com o gelo sendo rompido, eles continuaram conversando do jeito que só dois espiões experientes poderiam. Compartilharam, revelaram, se aconselharam e em duas ocasiões chegaram a rir. Na verdade, por alguns minutos parecia que a rivalidade entre eles não existia. Eles conversaram sobre a situação no Iraque e na Síria, sobre a China, sobre a economia global e seu impacto na segurança e também sobre o presidente norte-americano, a quem culparam por muitos dos problemas do mundo. Em algum momento, conversaram sobre os russos. Naqueles dias, eles sempre conversavam.
— Os cyberguerreiros deles — disse Amanda — estão atacando nossas instituições financeiras com tudo que têm em suas pequenas caixinhas-surpresa. Também estão atrás de nossos sistemas governamentais e das redes de computadores das maiores empresas de defesa.
— Estão atrás de algo específico?
— Na verdade — ela respondeu —, eles não parecem estar procurando alguma coisa. Só estão tentando causar os maiores danos possíveis. Há uma imprudência como nunca tínhamos visto antes.
— Alguma mudança na postura deles aqui em Londres?
— D4 notou um aumento importante na atividade da Estação Londres. Não temos certeza do que isso significa, mas está claro que estão envolvidos em algo grande.
— Maior do que plantar uma russa ilegal na cama do primeiro-ministro?
Amanda levantou a sobrancelha e girou uma azeitona na borda do copo. O rosto da princesa apareceu na televisão. Sua família tinha anunciado a criação de um fundo para apoiar as causas de que ela gostava. Jonathan Lancaster tinha tido a permissão para fazer a primeira doação.
— Ouviu algo novo? — perguntou Amanda.
— Sobre a princesa?
Ela assentiu.
— Nada. Você?
Ela colocou sua bebida na mesa e olhou Seymour por um momento, em silêncio. Finalmente, perguntou:
— Por que não me contou que foi Eamon Quinn?
Amanda bateu com as unhas no braço da cadeira enquanto esperava uma resposta, o que nunca era um bom sinal. Seymour decidiu que não tinha escolha a não ser contar a verdade, ou pelo menos uma versão dela.
— Não contei — ele disse finalmente — porque não queria envolvê-la.
— Porque não confia em mim?
— Porque não quero que você seja contaminada de nenhuma forma.
— Por que eu seria contaminada? Afinal, Graham, você era o chefe do contraterrorismo na época da bomba de Omagh, não eu.
— E é por isso que você se tornou DG do Serviço de Segurança.
Ele fez uma pausa, depois acrescentou:
— E não eu.
Um silêncio pesado caiu entre eles. Seymour queria ir embora, mas não podia. A questão tinha de ter alguma resolução.
— Quinn estava agindo em nome do IRA Autêntico — perguntou Amanda finalmente — ou de alguém mais?
— Devemos ter uma resposta para isso em algumas horas.
— Assim que Liam Walsh contar?
Seymour não deu nenhuma resposta.
— É uma operação do MI6 autorizada?
— Por fora.
— Sua especialidade.— Disse Amanda, cáustica. — Acho que está trabalhando com os israelenses. Afinal, eles queriam tirar Quinn de circulação há muito tempo.
— E deveríamos ter aceitado a oferta.
— Quanto Jonathan sabe?
— Nada.
Ela xingou baixinho, algo que raramente fazia.
— Vou dar a você muita liberdade de ação nisso — ela falou, finalmente. — Não por você, entenda, mas pelo bem do Serviço de Segurança. Mas espero um aviso antecipado se sua operação entrar em solo britânico. E se algo explodir, vou garantir que seja o seu pescoço na guilhotina, não o meu. — Ela sorriu. — Para que tudo fique claro.
— Eu não teria esperado outra coisa.
— Muito bem, então. — Ela olhou para o relógio. — Infelizmente preciso ir, Graham. Próxima semana no seu escritório?
— Estarei esperando. — Seymour se levantou e esticou a mão. — Sempre um prazer, Amanda.
16
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
ELES O LEVARAM PARA cima e, com os olhos ainda vendados pela fita adesiva, permitiram que tomasse um banho pela primeira vez. Então colocaram o casaco azul e branco e deram um pouco de comida e um chá com leite para beber. Ajudou um pouco sua aparência. Com o rosto inchado, a pele branca e o aspecto geral muito magro, ele parecia um cadáver que se levantou do caixão.
Quando a refeição foi terminada, Keller repetiu seu conselho. O irlandês seria tratado bem desde que respondesse corretamente as perguntas de Keller e em uma voz normal. Se ele mentisse, gritasse ou fizesse alguma tentativa estúpida de fugir, voltaria ao porão e as condições de seu confinamento seriam muito menos agradáveis do que antes. Gabriel não falou, mas Walsh, com os sentidos auditivos ampliados pela escuridão e pelo medo, estava claramente consciente de sua presença. Gabriel preferia dessa forma. Ele não queria deixar Walsh com a impressão equivocada de que estava sob o controle de um único homem, mesmo se esse homem fosse um dos mais mortais do mundo.
Keller não tinha treinamento formal nas técnicas de interrogatório, mas como todos os bons interrogadores, estabeleceu em Walsh o hábito de responder perguntas corretamente e sem hesitar ou se evadir. Eram perguntas simples no começo, perguntas com respostas que eram facilmente verificáveis. Data de nascimento. Local de nascimento. Nomes dos pais e irmãos. As escolas que tinha estudado. Seu recrutamento pelo Exército Republicano Irlandês. Walsh declarou que tinha nascido em Ballybay, condado de Monaghan, em 16 de outubro de 1972. O lugar de seu nascimento era significativo, pois era a três quilômetros da Irlanda do Norte, na tensa região da fronteira. Seu nascimento era significativo, também; era o mesmo de Michael Collins, o líder revolucionário irlandês. Ele frequentou escolas católicas até os 18 anos, quando entrou no IRA. Seu recrutador não fez nenhuma tentativa de glamourizar a vida que Walsh tinha escolhido. Ele teria um salário ridículo e viveria sempre perto do perigo. O mais provável é que passasse vários anos na prisão. As chances eram grandes de que ele morreria violentamente.
— E o nome do recrutador? — perguntou Keller em seu sotaque de Ulster.
— Não tenho a liberdade de dizer.
— Agora você tem.
— Era Seamus McNeil — disse Walsh depois de um momento de hesitação. — Ele era...
— Membro da Brigada South Armagh — Keller cortou. — Foi morto em uma emboscada por soldados britânicos e enterrado com honras pelo IRA, que descanse em paz.
— Na verdade — disse Walsh —, ele morreu durante um tiroteio com a SAS.
— Só caubóis e gangsters fazem tiroteio — respondeu Keller. — Mas você estava a ponto de me contar sobre seu treinamento.
Foi o que Walsh fez. Ele foi mandado a um remoto campo na República para treinamento de armas leves e lições na manufatura e entrega de bombas. Disseram para parar de beber e evitar socializar com pessoas que não eram membros do IRA. Finalmente, seis meses depois de seu recrutamento, foi designado a uma unidade de serviço ativo de elite do IRA. Sua militância era junto com um mestre na confecção de bombas e planejador operacional chamado Eamon Quinn. Quinn era vários anos mais velho que Walsh e já era uma lenda. Nos anos oitenta, fora enviado a um campo no deserto da Líbia para treinamento. Mas, no final, disse Walsh, Quinn mais ensinou que aprendeu com os líbios. Na verdade, Eamon foi quem deu aos líbios o design para a bomba que derrubou o voo 103 da Pan Am em Lockerbie, na Escócia.
— Mentira — respondeu Keller.
— Se não quiser acreditar... — respondeu Walsh.
— Quem mais estava no campo com ele?
— Eram da OLP, principalmente, e alguns caras de uma das organizações que se separaram.
— Qual?
— Acredito que era a Frente Popular para a Libertação da Palestina.
— Você conhece os grupos terroristas da Palestina...
— Temos muito em comum com os palestinos.
— Por quê?
— Os dois estão ocupados por potências coloniais racistas.
Keller olhou para Gabriel, que estava olhando, impassível, para as mãos. Walsh, ainda vendado, parecia sentir a tensão na sala. Do lado de fora, o vento atacava as portas e janelas da casa, como se estivesse procurando um ponto de entrada.
— Onde estou? — perguntou Walsh.
— Inferno — respondeu Keller.
— O que tenho de fazer para sair?
— Continue falando.
— O que quer saber?
— Os detalhes da sua primeira operação.
— Foi em 1993.
— Que mês?
— Abril.
— Ulster ou Inglaterra?
— Inglaterra.
— Que cidade?
— A única cidade que importa.
— Londres?
— É.
— Bishopsgate?
Walsh assentiu. Bishopsgate...
O caminhão, um basculante Ford Iveco, roubado de Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, em março. Eles o levaram a um armazém alugado e o pintaram de azul. Então, Quinn colocou a bomba, um aparato de combustível/nitrato de amônia de uma tonelada que ele montou em South Armagh e levou escondido até a Inglaterra. Na manhã de 24 de abril, Walsh dirigiu o caminhão até Londres e estacionou em frente ao 99 da Bishospgate, uma torre de escritórios ocupada exclusivamente pelo HSBC. A explosão destruiu mais de quinhentas toneladas de vidro, derrubou uma igreja e matou um fotojornalista. O governo britânico respondeu cercando o distrito financeiro de Londres em um cordão de segurança chamado de “anel de aço”. Sem medo, o IRA voltou a Londres, em fevereiro de 1996, com outro caminhão-bomba criado e montado por Eamon Quinn. Dessa vez, o alvo era Canary Wharf, em Docklands. A explosão foi tão forte que destruiu janelas a oito quilômetros de distância. Os primeiros-ministros da Grã-Bretanha e da Irlanda rapidamente anunciaram a retomada das negociações de paz. Dezoito meses depois, em julho de 1997, o IRA aceitou o cessar-fogo.
— Foi um desastre do caralho — disse Walsh.
— E quando o IRA se dividiu mais tarde, naquele outono — disse Keller —, você foi com McKevitt e Bernadette Sands?
— Não. — respondeu Walsh. — Eu fui com Eamon Quinn.
Desde o princípio, Walsh continuou, o IRA Autêntico estava cheio de informantes do MI5 e da Crime e Segurança, uma divisão secreta da Garda Síochána que operava fora dos escritórios oficiais, no bairro de Phoenix Park, em Dublin. Mesmo assim, o grupo conseguiu realizar uma série de ataques de bomba, incluindo um devastador, em Banbridge em primeiro de agosto de 1998. A bomba pesava 225 quilos e estava escondida dentro de um Vauxhall Cavalier vermelho. Os avisos telefônicos codificados eram imprecisos — sem localização, sem tempo de detonação. Como resultado, 33 pessoas ficaram seriamente feridas, incluindo dois oficiais do Royal Ulster Constabulary. Pedaços do Vauxhall foram encontrados a mais de quinhentos metros de distância. Foi, disse Walsh, uma prévia das próximas atrações.
— Omagh — falou Keller, em voz baixa.
Walsh não falou nada.
— Você foi parte da equipe operacional?
Walsh assentiu.
— Que carro? — perguntou Keller. — Bomba, escolta ou fuga.
— Bomba.
— Motorista ou passageiro?
— Deveria ser o motorista, mas houve uma mudança no último minuto.
— Quem dirigiu?
Walsh hesitou, depois falou:
— Quinn.
— Por que a mudança?
— Ele falou que estava mais nervoso do que o costume antes de uma operação. Disse que dirigir ia ajudar a acalmar.
— Mas essa não era a verdadeira razão, era, Liam? Quinn queria ele mesmo resolver os problemas. Quinn queria colocar um prego no caixão do processo de paz.
— Uma bala na cabeça era como ele descrevia.
— Ele deveria deixar a bomba no tribunal?
— Esse era o plano.
— Ele procurou um lugar para estacionar?
— Não — disse Walsh, balançando a cabeça. — Foi direto para a Lower Market Street e estacionou em frente à S.D. Kells.
— Por que você não fez nada?
— Tentei convencê-lo, mas ele não me ouviu.
— Deveria ter tentado mais, Liam.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
— Onde estava o carro de fuga?
— No estacionamento do supermercado.
— E quando você entrou?
— A chamada foi para o outro lado da fronteira.
— Os tijolos estão na parede.
Walsh assentiu.
— Por que você não contou a ninguém que a bomba estava no lugar errado?
— Se eu tivesse aberto minha boca, Quinn teria me matado. Além disso — acrescentou Walsh —, já era muito tarde.
— E quando a bomba explodiu?
— A cidade virou uma merda.
A morte e a devastação causaram revolta nos dois lados da fronteira e no mundo todo. O IRA Autêntico divulgou um pedido de desculpas e anunciou um cessar-fogo, mas era tarde demais; o movimento tinha sofrido danos irreparáveis. Walsh se estabeleceu em Dublin para cuidar dos interesses do IRA Autêntico no crescente comércio de drogas. Quinn se escondeu.
— Onde?
— Espanha.
— O que ele fez?
— Ele viveu na praia até que o dinheiro acabou.
— E depois?
— Ele ligou para um velho amigo e disse que queria voltar ao jogo.
— Quem era o amigo?
Walsh hesitou, depois falou:
— Muamar Kadafi.
17
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
NÃO FOI REALMENTE KADAFI, Walsh acrescentou rapidamente. Foi alguém de confiança da inteligência líbia que Quinn tinha conhecido quando estava no campo de treinamento de terrorismo no deserto. Quinn pediu ajuda e o homem da inteligência líbia, depois de consultar o dirigente, concordou em permitir que Quinn fosse para o país. Ele vivia em uma casa protegida em um bairro chique de Trípoli, e fazia alguns trabalhos para os serviços de segurança da Líbia. Também era um visitante frequente do bunker subterrâneo de Kadafi, onde ia entreter o líder com histórias da luta contra os britânicos. Com o tempo, Kadafi dividiu Quinn com alguns de seus aliados regionais menos sofisticados. Ele desenvolveu contatos com cada vilão do continente: ditadores, senhores da guerra, mercenários, traficantes de diamantes, militantes islâmicos de todos os tipos. Também fez amizade com um negociante de armas que estava enviando armamentos e munição para toda a guerra civil e insurgência na África subsaariana. O traficante de armas concordou em mandar um pequeno container de AK-47 e explosivos plásticos para o IRA Autêntico. Walsh entregou a encomenda em Dublin.
— Lembra-se do nome do homem da inteligência líbia? — perguntou Keller.
— Ele se chamava Abu Muhammad.
Keller olhou para Gabriel, que assentiu lentamente.
— E o traficante de armas russo? — perguntou Keller.
— Era Ivan Kharkov, o que foi morto em Saint-Tropez alguns anos atrás.
— Tem certeza, Liam? Tem certeza de que era Ivan?
— Quem mais poderia ser? Ivan controlava o comércio de armas na África e ele matava qualquer um que tentasse fazer negócios lá.
— E a casa em Trípoli? Sabe onde era?
— Era em um bairro que chamavam de Al-Andalus.
— A rua?
— Via Canova. Número 27 — acrescentou Walsh. — Mas não perca seu tempo. Quinn deixou a Líbia há vários anos.
— O que aconteceu?
— Kadafi decidiu limpar sua barra. Desistiu dos programas de armas e disse aos norte-americanos e europeus que queria normalizar as relações. Tony Blair apertou a mão dele em uma tenda nos arredores de Trípoli. A BP ganhou o direito de explorar o solo líbio. Lembra?
— Eu lembro, Liam.
Aparentemente, falou Walsh, o MI6 sabia que Quinn estava vivendo secretamente em Trípoli. O chefe do MI6 exigiu que Kadafi expulsasse Quinn e ele concordou. Pediu a alguns de seus amigos na África, mas ninguém o aceitou. Então ligou para um de seus melhores amigos no mundo e a mudança foi organizada. Uma semana depois, Kadafi deu a Quinn uma cópia autografada de seu Livro verde e o colocou em um avião.
— E o amigo que concordou em receber Quinn?
— Três palpites — disse Walsh. — Os dois primeiros não contam.
O amigo era Hugo Chávez, presidente da Venezuela, aliada da Rússia, de Cuba e dos mulás de Teerã, um problema para os Estados Unidos. Chávez se via como líder do movimento revolucionário do mundo, e operava um campo de treinamento não tão secreto para terroristas e rebeldes esquerdistas na Ilha Margarita. Quinn logo se tornou uma atração. Trabalhava com todo mundo, do Sendero Luminoso ao Hamas e Hezbollah, compartilhando os truques mortais que tinha descoberto durante sua longa carreira de conflitos com os britânicos. Chávez, como Kadafi antes dele, tratou-o bem. Deu a ele uma casa perto do mar e um passaporte diplomático para viajar pelo mundo. Até deu a ele um novo rosto.
— Quem fez o trabalho?
— O médico de Kadafi.
— O brasileiro?
Walsh assentiu.
— Ele foi a Caracas e realizou a cirurgia em um hospital ali. Fez uma total reconstrução em Quinn. As velhas fotos são inúteis agora. Eu quase não consegui reconhecê-lo.
— Você o viu quando estava na Venezuela?
— Duas vezes.
— Foi até o campo?
— Nunca.
— Por que não?
— Não tinha autorização. Eu o vi no continente.
— Continue falando, Liam.
Um ano depois que Quinn chegou à Venezuela, um alto oficial do VEVAK, o serviço de inteligência iraniano, fez uma visita à ilha. Não estava ali para ver seus aliados do Hezbollah; estava para ver Quinn. O homem do VEVAK ficou na ilha por uma semana. E, quando voltou a Teerã, Quinn foi com ele.
— Por quê?
— Os iranianos queriam que Quinn construísse uma arma.
— Que tipo de arma?
— Uma arma que o Hezbollah poderia usar contra os tanques israelenses e veículos blindados no sul do Líbano.
Keller olhou para Gabriel, que parecia estar contemplando uma rachadura no teto. Walsh, sem saber a verdadeira identidade de sua pequena audiência, ainda estava falando.
— Os iranianos colocaram Quinn em uma fábrica de armas em um subúrbio de Teerã chamado Lavizan. Ele construiu uma versão de uma arma antitanque na qual estava trabalhando há anos. Criava uma bola de fogo que viajava a trezentos metros por segundo e envolvia o veículo avançando em chamas. O Hezbollah usou contra os israelenses no verão de 2006. Os tanques israelenses queimavam totalmente. Era como o Holocausto.
Keller novamente olhou de lado para Gabriel, que agora estava olhando diretamente para Liam Walsh.
— E quando ele terminou de criar a arma antitanque? — perguntou Keller.
— Ele foi ao Líbano para trabalhar diretamente com o Hezbollah.
— Que tipo de trabalho?
— Bombas em estradas, principalmente.
— E depois?
— Os iranianos o mandaram ao Iêmen para trabalhar com a Al-Qaeda, na península Arábica.
— Não sabia que havia ligações entre os iranianos e a Al-Qaeda.
— Quem contou isso?
— Onde ele está agora?
— Não tenho ideia.
— Você está mentindo, Liam.
— Não estou. Juro que não sei onde ele está ou para quem está trabalhando.
— Quando foi a última vez que você o viu?
— Há seis meses.
— Onde?
— Espanha.
— Espanha é um país grande, Liam.
— Foi no sul, em Sotogrande.
— Um playground irlandês.
— É como Dublin com sol.
— Onde se encontrou com ele?
— Em um pequeno hotel perto da marina. Muito tranquilo.
— O que ele queria?
— Queria me entregar um pacote.
— Que tipo de pacote?
— Dinheiro.
— Para quem era o dinheiro?
— A filha dele.
— Nunca soube que era casado.
— A maioria das pessoas não sabe.
— Onde está a filha?
— Em Belfast com a mãe.
— Continue falando, Liam.
Os serviços combinados de inteligência britânica tinham juntado uma montanha de material sobre a vida e os tempos de Eamon Quinn, mas em nenhum lugar desses volumosos arquivos havia qualquer menção a uma esposa ou uma filha. Não era acidente, disse Walsh. Quinn, o planejador operacional, tinha trabalhado muito para manter sua família em segredo. Walsh afirmava ter participado da cerimônia na qual os dois se casaram e depois ajudou a gerenciar as questões financeiras da família durante os anos em que Quinn estava vivendo no exterior como uma superestrela do terrorismo internacional. O pacote que Quinn deu a Walsh no hotel espanhol de Sotogrande continha cem mil libras em notas usadas. Foi o maior pagamento que Quinn já tinha confiado a seu velho amigo.
— Por que tanto dinheiro? — perguntou Keller.
— Ele disse que seria o último pagamento por um tempo.
— Falou o motivo?
— Não.
— E você não perguntou?
— Eu sei qual é o meu lugar!
— E você entregou o pagamento total?
— Cada libra.
— Não cobrou uma taxa pelo serviço? Afinal, Quinn nunca ficaria sabendo.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
Keller perguntou se Quinn já tinha vindo a Belfast para ver sua família.
— Nunca.
— E elas nunca viajaram para fora do país para vê-lo?
— Ele tinha medo de que os britânicos seguissem as duas. Além disso — acrescentou Walsh —, elas não o teriam reconhecido. Quinn tinha um novo rosto. Quinn era outra pessoa.
Isso os levou de volta ao assunto da aparência cirurgicamente alterada de Quinn. Gabriel e Keller tinham posse das imagens que os franceses haviam capturado em São Bartolomeu — umas poucas imagens do vídeo do aeroporto, umas poucas fotos capturadas de câmeras de segurança de lojas —, mas em nenhuma o rosto de Quinn estava claramente visível. Parecia um esfregão com cabelo escuro e barba, um homem para olhar uma vez e rapidamente esquecer. Liam Walsh tinha o poder de completar o retrato de Quinn, pois havia se sentado em frente a ele seis meses antes, em um quarto de hotel espanhol.
Gabriel tinha realizado esboços em circunstâncias desafiadoras, mas nunca com uma testemunha que estava vendada. Na verdade, ele tinha quase certeza de que não era possível. Keller explicou como o processo funcionaria. Havia outro homem presente, ele falou, um homem que era tão bom com esboços e lápis quanto ele era com os punhos e uma arma. Esse homem não era nem irlandês nem de Ulster. Walsh deveria descrever a aparência de Quinn para ele. Poderia olhar o esboço do homem, mas sob nenhuma circunstância poderia olhar para o rosto dele.
— E se eu olhar sem querer?
— Não olhe.
Keller retirou a fita adesiva dos olhos de Walsh. O irlandês piscou várias vezes. Então olhou diretamente para a figura sentada do lado oposto da mesa com papel e uma caixa de lápis coloridos.
— Você acabou de violar as regras — disse Gabriel, calmo.
— Quer saber como ele se parece ou não?
Gabriel pegou um lápis.
— Vamos começar com os olhos.
— São verdes — respondeu Walsh. — Como os seus.
Trabalharam sem parar pelas próximas duas horas. Walsh descreveu, Gabriel desenhou, Walsh corrigiu, Gabriel revisou. Finalmente, à meia-noite, o retrato estava completo. O cirurgião plástico brasileiro tinha feito um bom trabalho. Tinha dado a Quinn um rosto sem nenhuma característica memorável. Mesmo assim, era um rosto que Gabriel reconheceria se passasse por ele na rua.
Se Walsh estava curioso sobre a identidade do homem de olhos verdes atrás do papel, não mostrou. Nem resistiu quando Keller cobriu seus olhos com uma venda de fita adesiva ou quando Gabriel injetou sedativo suficiente para mantê-lo quieto por umas horas. Eles o colocaram inconsciente na sacola de lona e limparam cada item e superfície que algum deles tinha tocado na casa. Então, o enfiaram no porta-malas do Škoda e sentaram nos bancos da frente. Keller dirigiu. Era sua área.
As estradas estavam vazias, a chuva era esporádica, uma queda torrencial em um minuto, uma névoa com vento no seguinte. Keller fumava um cigarro atrás do outro e ouvia as notícias no rádio. Gabriel olhava pela janela para as colinas escuras e a vegetação balançando com o vento. Em seus pensamentos, no entanto, só estava Eamon Quinn. Desde que fugiu da Irlanda, Quinn tinha trabalhado com alguns dos homens mais perigosos do mundo. Era possível que estivesse agindo por consciência ou por crença política, mas Gabriel duvidava. Claramente, ele pensou, Quinn deixou tudo isso para trás. Ele tinha seguido o mesmo caminho que Carlos e Abu Nidal antes dele. Era um terrorista de aluguel, matando às ordens de seus poderosos patronos. Mas quem pagara Quinn? Quem o havia contratado para matar uma princesa? Gabriel tinha uma longa lista de potenciais suspeitos. Por enquanto, porém, encontrar Quinn teria prioridade. Liam Walsh tinha dado muitos lugares para procurar, nenhum mais promissor que uma casa em Belfast ocidental. Uma parte de Gabriel queria procurar em outro lugar, pois ele via esposas e filhos como fora do limite. Quinn, no entanto, não tinha deixado outra opção.
No lado oriental de Killary Harbor, Keller entrou em um caminho de terra e seguiu até um bosque denso. Parou em uma pequena clareira, apagou as luzes, desligou o motor e abriu o porta-malas. Gabriel ia abrir a porta, mas Keller o impediu.
— Fique aqui — foi tudo que disse antes de abrir sua porta e descer na chuva.
Nesse momento, Walsh tinha recuperado a consciência. Gabriel ouviu quando Keller explicava o que ia acontecer. Como Walsh tinha cooperado, ele seria liberado sem problemas. Sob nenhuma circunstância deveria discutir seu interrogatório com seus sócios. Nem deveria fazer qualquer tentativa de passar uma mensagem de aviso a Quinn. Se fizesse isso, disse Keller, ele era um homem morto.
— Entendido, Liam?
Gabriel ouviu Walsh murmurando algo afirmativo. Então, sentiu a parte de trás do Škoda levantar um pouco quando Keller ajudava o irlandês a se levantar. O porta-malas fechou; Walsh caminhou vendado até o bosque, Keller o guiava por um ombro. Por um momento havia somente o vento e a chuva. Então, deu para ver duas explosões de luz no fundo do bosque.
Keller logo reapareceu. Ele se sentou atrás do volante, ligou o carro e voltou para a estrada. Gabriel olhava pela janela quando notícias de um mundo complicado eram dadas pelo rádio. Dessa vez, ele não perguntou como Keller se sentia. Era pessoal. Ele fechou os olhos e dormiu. Quando acordou era de dia e estavam cruzando a fronteira com a Irlanda do Norte.
18
OMAGH, IRLANDA DO NORTE
A PRIMEIRA CIDADE DO OUTRO lado da fronteira era Aughnacloy. Keller parou para encher o tanque em uma linda igreja e depois seguiu a A5 para o norte até Omagh, assim como Quinn e Liam Walsh tinham feito na tarde de 15 de agosto de 1998. Eram poucos minutos depois das nove quando eles chegaram aos subúrbios ao sul da cidade; a chuva tinha parado e um sol forte brilhava entre as nuvens. Eles deixaram o carro perto do tribunal e caminharam até um café na Lower Market Street. Keller pediu um café da manhã irlandês tradicional, mas Gabriel só pediu chá e pão. Ele viu seu reflexo na janela e ficou estarrecido por sua aparência. Keller, ele decidiu, parecia pior. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto estava precisando muito de um barbeador. Em nenhum lugar de sua expressão, no entanto, havia qualquer sugestão de que tinha recentemente matado um homem em um bosque no condado de Mayo.
— Por que estamos aqui? — perguntou Gabriel enquanto olhava os primeiros pedestres da manhã, principalmente comerciantes, andando pelas calçadas.
— É um bom lugar.
— Já esteve aqui antes?
— Em várias ocasiões, para dizer a verdade.
— O que o trouxe a essa cidade?
— Eu costumava encontrar uma fonte aqui.
— IRA?
— Mais ou menos.
— Onde está a fonte agora?
— Cemitério de Greenhill.
— O que aconteceu?
Keller colocou a mão em forma de arma na testa.
— IRA? — perguntou Gabriel.
Keller deu de ombros.
— Mais ou menos.
A comida chegou. Keller devorou como se não tivesse comido durante vários dias, mas Gabriel pegou, sem apetite, seu pão. Do lado de fora, as nuvens estavam brincando com a luz. Era manhã, e logo em seguida, noite. Gabriel imaginou a rua cheia de vidro quebrado e partes de corpos humanos. Olhou para Keller e novamente perguntou por que eles tinham ido a Omagh.
— Caso você tenha se arrependido.
— Do quê?
Keller olhou para o que sobrava do seu café e falou:
— Liam Walsh.
Gabriel não falou nada. Do outro lado da rua, uma mulher com queimaduras em um braço e no rosto estava tentando abrir a porta de uma loja de roupas. Gabriel supôs que era uma das feridas. Foram mais de duzentos aquele dia: homens, mulheres, adolescentes, crianças. Os políticos e a imprensa sempre pareciam se concentrar nos mortos depois de uma bomba, mas os vivos eram logo esquecidos — aqueles com a pele queimada, os que tinham lembranças tão terríveis que nem toda a terapia ou medicação do mundo poderiam colocar suas mentes em paz. Essas eram as conquistas de um homem como Eamon Quinn, um homem que poderia fazer uma bola de fogo viajar a trezentos metros por segundo.
— Então? — perguntou Keller.
— Não — falou Gabriel. — Não estou arrependido.
Um Vauxhall vermelho parou no meio-fio em frente ao café e dois homens desceram. Gabriel sentiu o sangue subir até o rosto enquanto via os homens caminharem pela rua. Então, olhou para o carro como se estivesse esperando que o relógio no porta-luvas chegasse a zero.
— O que você teria feito? — ele perguntou de repente.
— Sobre o quê?
— Se soubesse onde estava a bomba naquele dia.
— Eu teria tentado avisá-los.
— E se a bomba estivesse a ponto de explodir? Teria arriscado sua vida?
A garçonete colocou a conta na mesa antes que Keller pudesse responder. Gabriel pagou a conta em dinheiro, enfiou o recibo no bolso e seguiu Keller até a rua. O tribunal estava à direita. Keller virou à esquerda e deixou Gabriel passar por lojas e vitrines coloridas, até uma torre de vidro azul-esverdeado na calçada, como uma lápide. Era o memorial para as vítimas da bomba de Omagh, colocado no ponto em que o carro tinha explodido. Gabriel e Keller ficaram ali por um momento, nenhum deles falava, enquanto os pedestres passavam. A maioria evitava os olhos deles. Do outro lado da rua, uma mulher com cabelo claro e óculos escuros levantou um smartphone, como se fosse tirar uma fotografia. Keller rapidamente se virou de costas. Assim como Gabriel.
— O que você teria feito, Christopher?
— Sobre a bomba?
Gabriel assentiu.
— Eu teria feito tudo que poderia para afastar as pessoas.
— Mesmo se você morresse?
— Mesmo se eu morresse.
— Como pode ter tanta certeza?
— Porque eu não poderia viver com essa culpa.
Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então, falou baixinho:
— Você vai ser um excelente agente do MI6, Christopher.
— Agentes do MI6 não matam terroristas e deixam seus corpos no meio do campo.
— Não — falou Gabriel. — Só os bons.
Olhou sobre o ombro. A mulher com o smartphone tinha ido embora.
Vinte e cinco anos tinham se passado desde que Christopher Keller tinha pisado em Belfast, e o centro da cidade tinha mudado muito em sua ausência. Na verdade, se não fosse por alguns pontos de referência como o Opera House e o hotel Europa, ele quase não a reconheceria. Não havia soldados britânicos patrulhando as ruas, nenhum posto de vigilância do exército no alto dos edifícios e nenhum medo no rosto dos pedestres caminhando pela Great Victoria. A geografia da cidade continuava dividida em linhas sectárias e ainda havia murais paramilitares em alguns dos bairros mais barra-pesada. Mas, na maior parte, as provas da longa e sangrenta guerra tinham sido apagadas. Belfast se promovia como uma meca do turismo. E por alguma razão, pensou Keller, os turistas realmente vinham.
Uma das principais atrações da cidade era uma cena musical celta muito vibrante que tinha reaparecido com o fim da guerra. A maioria dos bares e pubs que tinham música ao vivo estava localizada nas ruas ao redor da catedral de St. Anne. O Tommy O’Boyle’s ficava na Union, no térreo de uma velha fábrica vitoriana de tijolos vermelhos. Ainda não era meio-dia e a porta estava trancada. Keller apertou o botão do intercomunicador e rapidamente virou de costas para a câmera de segurança. Com o silêncio como resposta, ele apertou o botão uma segunda vez.
— Estamos fechados — disse uma voz.
— Eu sei ler — respondeu Keller em seu sotaque de Belfast.
— O que você quer?
— Falar com Billy Conway.
Alguns segundos de silêncio.
— Ele está ocupado.
— Tenho certeza de que terá tempo para mim.
— Qual é o seu nome?
— Michael Connelly.
— Não significa nada para mim.
— Diga a ele que eu trabalhava na lavanderia Sparkle Clean, na Road, no passado.
— O lugar fechou há anos.
— Estamos pensando em voltar a abrir.
Houve outro silêncio. Aí, a voz falou:
— Seja bonzinho e me deixa dar uma olhada na sua cara.
Keller hesitou antes de olhar para as lentes da câmera de segurança. Dez segundos depois a porta se abriu.
— Entre — disse a voz.
— Eu prefiro aqui fora.
— Como você quiser.
Havia uma pilha de jornais caída na calçada escura carregada por um vento frio que vinha do rio Lagan. Keller levantou a gola do casaco. Pensou no terraço ensolarado de sua casa na Córsega. Parecia algo de outro mundo para ele agora, um lugar que tinha visitado uma vez em sua infância. Ele não podia mais lembrar o aroma das colinas ou uma imagem clara do rosto do Dom. Era Christopher Keller de novo. Estava de volta ao jogo.
Ouviu um barulho e, virando-se, viu a porta do Tommy O’Boyle’s abrindo lentamente. Parado na abertura estreita havia um homem pequeno e magro com quase sessenta anos, uma barba grisalha no rosto e um pouco mais de cabelo na cabeça. Olhava como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, era verdade.
— Oi, Billy — disse Keller, amável. — É bom vê-lo de novo.
— Achei que estivesse morto.
— Estou morto. — Keller colocou uma mão no ombro do homem. — Vamos dar uma volta, Billy. Precisamos conversar.
19
GREAT VICTORIA STREET, BELFAST
ELES TINHAM IDO A um lugar onde ninguém iria reconhecê-los. Billy Conway sugeriu uma loja de donuts na Great Victoria; nenhum homem do IRA, ele falou, iria entrar ali. Ele pediu dois cafés grandes e se sentou em uma mesa vazia na parte de trás, perto da saída de incêndio. Era a doença de Belfast. Não se sente muito perto das janelas de vidro caso uma bomba exploda na rua. Sempre tenha uma rota de fuga se o tipo errado de pessoa entrar pela porta da frente. Keller se sentou de costas para o salão. Conway olhou para os outros enquanto dava um gole.
— Você deveria ter ligado antes — ele falou. — Quase tive um ataque do coração.
— Teria concordado em me ver?
— Não — falou Billy Conway. — Acho que não.
Keller sorriu.
— Você sempre foi honesto, Billy.
— Honesto demais. Ajudei você a colocar muitos homens no Labirinto. — Conway parou, depois acrescentou — Embaixo da terra, também.
— Isso foi há muito tempo.
— Não tanto — Conway olhou pelo interior da loja. — Eles me deram uma surra depois que você foi embora. Disseram que você entregou a eles meu nome naquela fazenda lá em Armagh.
— Não falei nada.
— Eu sei — disse Conway. — Não estaria vivo se você tivesse me entregado, estaria?
— Nenhuma chance, Billy.
Os olhos de Conway estavam se movendo de novo. Ele tinha ajudado a salvar incontáveis vidas e evitado milhões em danos nas propriedades. E sua recompensa, pensou Keller, era passar o resto da vida esperando por uma bala do IRA. A organização era como um elefante. Nunca esquecia. E certamente nunca perdoaria um informante.
— Como andam os negócios? — perguntou Keller.
— Tudo bem. Você?
Keller moveu os ombros, evasivo.
— Em que negócios você está metido hoje em dia, Michael Connelly?
— Não é importante.
— Presumo que não era seu nome verdadeiro.
Keller fez uma careta para dizer que não era.
— Como aprendeu a falar assim?
— Assim como?
— Como um de nós — disse Conway.
— Acho que é um dom.
— Você tem outros dons também — disse Conway. — Eram quatro contra um na fazenda e mesmo assim não foi uma luta justa.
— Na verdade — disse Keller —, eram cinco contra um.
— Quem era o quinto?
— Quinn.
Um silêncio caiu entre eles.
— Você é corajoso de voltar após todos esses anos — disse Conway depois de um momento. — Se descobrirem que você está na cidade, é um homem morto. Com ou sem acordo de paz.
A porta da loja se abriu e vários turistas — dinamarqueses ou suecos, Keller não conseguiu decidir — entraram. Conway franziu a testa e bebeu seu café.
— O guia turístico os traz para os bairros e mostra onde aconteceram as piores atrocidades. E depois leva ao Tommy O’Boyle’s para ouvir música.
— É bom para os negócios.
— Acho que sim — ele olhou para Keller. — É por isso que você voltou? Para fazer um passeio pela área dos conflitos?
Keller olhou a fila de turistas na rua. Então, olhou para Conway e perguntou:
— Quem foi que interrogou você depois que saí de Belfast?
— Foi o Quinn.
— Onde ele fez isso?
— Não tenho certeza. Realmente não me lembro muito, exceto da faca. Ele me disse que ia arrancar meus olhos se eu não admitisse que era um espião dos britânicos.
— O que contou a ele?
— Obviamente, eu neguei. E posso ter implorado pela minha vida também. Ele pareceu gostar disso. Sempre foi um maldito cruel.
Keller assentiu lentamente, como se Conway tivesse falado palavras de grande inspiração.
— Ouviu falar do Liam Walsh? — Conway perguntou.
— É difícil não ter ouvido.
— Quem você acha que está por trás disso?
— A Garda diz que foram drogas.
— A Garda — falou Conway — é uma merda completa.
— O que você sabe?
— Sei que alguém entrou na casa do Walsh em Dublin e matou três caras bem duros sem suar.
Conway parou, depois perguntou:
— Parece familiar?
Keller não falou nada.
— Por que você voltou aqui?
— Quinn.
— Não vai encontrá-lo em Belfast.
— Sabia que ele tem esposa e filha aqui?
— Ouvi rumores sobre isso, mas nunca descobri um nome.
— Maggie Donahue.
Conway levantou os olhos, pensativo, para o teto.
— Faz sentido.
— Conhece?
— Todo mundo conhece a Maggie.
— Trabalho?
— Do outro lado da rua, no hotel Europa. Na verdade — Conway acrescentou olhando o relógio —, ela deve estar lá agora.
— E a menina?
— Estuda na Our Lady of Mercy. Deve ter 16 agora.
— Sabe onde elas moram?
— No começo da Crumlin Road, em Ardoyne.
— Preciso do endereço, Billy.
— Sem problema.
20
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
BILLY CONWAY DEMOROU MENOS de trinta minutos para descobrir que Maggie Donahue vivia no número oito em Stratford Gardens com sua única filha, que se chamava Catherine, o mesmo nome da mãe de Quinn. Os vizinhos não sabiam a fonte do nome da menina, apesar de que a maioria suspeitava de que o marido ausente de Maggie, estivesse morto ou vivo, era algum homem do IRA, possivelmente um dissidente que tinha rejeitado o acordo da Sexta-Feira Santa. Esses sentimentos eram profundos em Ardoyne. Durante a pior parte dos conflitos, o Royal Ulster Constabulary via o bairro como uma área proibida, muito perigosa para patrulhar ou mesmo entrar. Mais de uma década depois dos acordos de paz, ainda era cenário de lutas entre católicos e protestantes.
Para complementar os pagamentos de dinheiro que ela recebia de seu marido, Maggie trabalhava como garçonete no bar do hotel Europa, o mais bombardeado do mundo. Naquela tarde ela teve o azar de atender as necessidades particulares de um hóspede chamado Herr Johannes Klemp. Seu registro no hotel tinha um endereço de Munique, mas seu trabalho — aparentemente tinha algo a ver com design de interior — exigia que ele passasse um bom tempo longe de casa. Como muitos viajantes frequentes, ele era um pouco difícil de agradar. Seu almoço, parecia, estava uma catástrofe. A salada estava muito crua, o sanduíche estava muito frio, o leite do café estava horrível. Pior ainda, ele tinha gostado da pobre criatura cujo emprego era deixá-lo feliz. Ela não gostou das tentativas dele. Poucas mulheres gostavam.
— Longo dia? — ele perguntou quando ela enchia sua xícara de café.
— Só começando.
Ela sorriu cansada. Tinha o cabelo muito escuro, a pele branca e grandes olhos azuis em cima de bochechas amplas. Tinha sido muito bonita, mas seu rosto tinha sofrido muito. Ele achava que Belfast a deixara mais velha. Ou talvez, pensou, tinha sido Quinn que havia arruinado sua beleza.
— Você é daqui? — ele perguntou.
— Todo mundo é daqui.
— Leste ou oeste?
— Você faz muitas perguntas.
— Estou apenas curioso.
— Com o quê?
— Belfast — ele respondeu.
— É por isso que veio aqui? Porque está curioso?
— Trabalho, infelizmente. Mas tenho o resto do dia para mim mesmo, então pensei em ver um pouco da cidade.
— Por que não contrata um guia turístico? Eles conhecem muito.
— Prefiro cortar os pulsos.
— Sei como se sente. — Sua ironia pareceu acertá-lo como uma pedra jogada de um trem bala. — Tem algo mais que eu poderia fazer por você?
— Pode tirar o resto do dia livre e me mostrar a cidade.
— Não posso — foi tudo que ela disse.
— Que horas você deixa o trabalho?
— Oito.
— Vou passar para beber algo e conto como foi meu dia.
Ela sorriu triste e disse:
— Vou estar aqui.
Ele pagou a conta em dinheiro e foi para a Great Victoria, onde Keller esperava atrás do volante do Škoda. No banco de trás, envolto em celofane, havia um buquê de flores. O pequeno envelope estava endereçado a maggie donahue.
— A que horas ela deixa o trabalho? — perguntou Keller.
— Ela falou oito horas, mas poderia estar tentando me evitar.
— Falei para você ser bonzinho.
— Não está no meu DNA ser bonzinho com a esposa de um terrorista.
— É possível que ela não saiba.
— Onde seu marido consegue cem mil libras em notas usadas?
Keller não tinha resposta.
— E a garota? — perguntou Gabriel.
— Está na escola até as três.
— E depois?
— Um jogo de hóquei contra Belfast Model School.
— Protestante?
— A maioria.
— Deve ser interessante.
Keller ficou em silêncio.
— Então, o que vamos fazer?
— Entregamos umas flores em Stratford Gardens.
— E depois?
— Damos uma olhada dentro.
Mas, primeiro, eles decidiram dar uma passeada pelo passado violento de Keller. Estava a velha Divis Tower, onde ele tinha morado entre os integrantes do IRA como Michael Connelly, e a lavanderia abandonada de Falls Road, onde o mesmo Michael Connelly tinha testado roupas dos membros do IRA em busca de provas de explosivos. Mais embaixo, na Road, havia o portão de ferro do cemitério de Milltown, onde Elizabeth Conlin, a mulher que Keller tinha amado em segredo, estava enterrada em uma tumba que Eamon Quinn tinha cavado para ela.
— Você nunca foi? — perguntou Gabriel.
— É muito perigoso — disse Keller, balançando a cabeça. — O IRA vigia os túmulos.
De Milltown eles passaram pelos conjuntos habitacionais em Ballymurphy até Springfield Road. Pelo lado norte havia uma barricada separando um enclave protestante de um distrito católico vizinho. A primeira das chamadas linhas de paz apareceu em Belfast, em 1969, como uma solução temporária para o sectarismo sangrento da cidade. Agora era uma característica permanente de sua geografia — na verdade, o número, a extensão e a escala tinham crescido desde a assinatura dos acordos da Sexta-Feira Santa. Na Springfield Road a barricada era uma cerca verde transparente de uns dez metros de altura. Mas em Cupar Way, uma parte especialmente tensa de Ardoyne, era uma estrutura parecida com o Muro de Berlim, com arame farpado no alto. Os moradores dos dois lados tinham pintado murais. Era possível comparar com o muro de separação entre Israel e a Cisjordânia.
— Isso parece paz para você? — perguntou Keller.
— Não — respondeu Gabriel. — Parece minha casa.
Finalmente, à uma e meia, Keller entrou em Stratford Gardens. O número oito, como seus vizinhos, era uma casa de dois andares de tijolos vermelhos com uma porta branca e uma única janela em cada andar. A grama crescia no jardim; havia um cesto de lixo verde derrubado pelo vento. Keller parou no meio-fio e desligou o carro.
— A gente se pergunta — disse Gabriel — por que Quinn decidiu viver em uma casa luxuosa na Venezuela em vez de morar aqui?
— Deu uma olhada na porta?
— Uma única fechadura, sem ferrolho.
— Quanto tempo demora para abrir?
— Trinta segundos — falou Gabriel. — Menos que isso se deixar essas estúpidas flores.
— Você precisa levar as flores.
— Prefiro levar a arma.
— Vou ficar com a arma.
— O que acontece se encontro um par de amigos do Quinn lá dentro?
— Finja ser um católico de Belfast ocidental.
— Não acho que vão acreditar em mim.
— É melhor — falou Keller. — Ou você é um homem morto.
— Algum outro conselho útil?
— Cinco minutos e nem um a mais.
Gabriel abriu a porta e desceu do carro. Keller xingou baixinho. As flores ainda estavam no banco de trás.
21
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
HAVIA UMA PEQUENA BANDEIRA tricolor irlandesa pendurada imóvel no batente da porta. Como o sonho de uma Irlanda unida, estava apagada e esfarrapada. Gabriel tentou a fechadura e, como era esperado, estava trancada. Então pegou uma fina ferramenta de metal do bolso e, usando a técnica aprendida na juventude, trabalhou cuidadosamente no mecanismo. Alguns segundos foram suficientes para a trava se entregar. Quando ele tentou a fechadura pela segunda vez, ela permitiu a passagem. Ele deu um passo e fechou a porta silenciosamente. Não tocou nenhum alarme, nenhum cachorro latiu.
A correspondência estava espalhada pelo chão. Ele juntou os vários envelopes, folhetos, revistas e propaganda, dando uma olhada rápida neles. Todos estavam em nome de Maggie Donahue, exceto uma revista de moda para adolescentes, que estava em nome de sua filha. Parecia não haver nenhuma correspondência particular de nenhum tipo, só o lixo comercial comum que entope os serviços de correios no mundo todo. Gabriel enfiou no bolso uma conta de cartão de crédito e devolveu o resto ao chão. Depois, entrou na sala de estar.
Era uma sala pequena, uns poucos metros quadrados, com espaço suficiente para o sofá, a televisão e um par de poltronas combinando. Na mesa de café havia uma pilha de revistas velhas e jornais de Belfast, junto com mais correspondência, aberta e fechada. Um dos itens era uma newsletter e um apelo financeiro para contribuir com o Movimento de Soberania dos 32 Condados, o braço político do IRA Autêntico. Gabriel ficou pensando se quem enviou sabia que estava mandando para a esposa secreta do melhor construtor de bombas e explosivos do grupo.
Ele devolveu a carta a seu envelope e à mesa. As paredes da sala estavam vazias exceto por uma violenta paisagem da costa irlandesa de qualidade inferior pendurada sobre o sofá. Em uma das mesinhas havia uma fotografia emoldurada de uma mãe e uma criança na primeira comunhão, na igreja Holy Cross. Gabriel não conseguiu encontrar nenhum traço de Quinn no rosto da criança. Nisso, pelo menos, ela era afortunada.
Olhou para o relógio. Noventa segundos tinham se passado desde que ele tinha entrado na casa. Abriu as cortinas finas e viu um carro cruzando lentamente a rua. Havia dois homens dentro. Eles pareceram notar cuidadosamente Keller enquanto passavam pelo Škoda estacionado. Então o carro continuou por Stratford Gardens e desapareceu na esquina. Gabriel olhou para o Škoda. As luzes ainda estavam apagadas. Em seguida olhou o BlackBerry. Nenhum aviso, nenhuma ligação perdida.
Ele soltou a cortina e entrou na cozinha. Uma xícara de café com batom estava na pia; pratos molhados de água com sabão. Ele abriu a geladeira. Estava razoavelmente cheia, nada verde, nenhuma fruta, nenhuma cerveja, só meia garrafa de um vinho branco italiano barato.
Soltou a porta da geladeira e começou a abrir e fechar as gavetas. Em uma encontrou um envelope cor de creme e dentro do envelope havia uma nota escrita por Quinn.
Deposite em pequenas quantidades, assim parece dinheiro de gorjeta... Mande um beijo para C...
Gabriel enfiou o bilhete no bolso do casaco perto da conta de cartão de crédito e olhou o relógio. Dois minutos e meio. Saiu da cozinha e subiu.
O carro voltou às 13h37. Novamente cruzou lentamente na frente do número oito, mas dessa vez parou ao lado do Škoda. No começo, Keller fingiu não perceber. Então, indiferente, ele abaixou o vidro.
— O que você está fazendo aqui? — perguntou o motorista com um forte sotaque de Belfast ocidental.
— Esperando uma amiga — respondeu Keller no mesmo sotaque.
— Qual é o nome da sua amiga?
— Maggie Donahue.
— E o seu? — perguntou o passageiro no carro.
— Gerry Campbell.
— De onde você é, Gerry Campbell?
— Dublin.
— E antes disso?
— Derry.
— Quando você partiu?
— Não é problema seu.
Keller não estava mais sorrindo. Nem os dois homens no outro carro. O vidro subiu; o carro continuou pela rua tranquila e desapareceu na esquina uma segunda vez. Keller pensou quanto demoraria para eles descobrirem que Maggie Donahue, a esposa secreta de Eamon Quinn, estava no momento trabalhando no hotel Europa. Dois minutos, pensou. Talvez menos. Ele tirou o celular e ligou.
— Os nativos estão começando a ficar impacientes.
— Tente dar as flores a eles.
A linha ficou muda. Keller ligou o motor e segurou a Beretta. Ficou olhando pelo espelho retrovisor e esperou que o carro voltasse.
No alto das escadas havia duas portas. Gabriel entrou no quarto à direita. Era o maior dos dois, apesar de que estava longe de ser uma suíte master. Havia roupas espalhadas pelo chão e em cima da cama desfeita. As cortinas estavam bem fechadas; não havia nenhuma luz a não ser os dígitos vermelhos do alarme, que estava dez minutos adiantado. Gabriel abriu a gaveta do criado-mudo e iluminou o conteúdo com sua lanterna. Canetas sem tinta, pilhas usadas, um envelope contendo centenas de libras em notas velhas, outra carta de Quinn. Parece que ele queria ver sua filha. Não havia menção de onde ele estava vivendo ou onde o encontro poderia acontecer. Mesmo assim, sugeria que Liam Walsh não tinha sido verdadeiro quando afirmava que Quinn não tinha tido nenhum contato pessoal com sua família desde que havia fugido da Irlanda após o ataque de Omagh.
Gabriel acrescentou a carta a sua pequena coleção de provas e abriu a porta do armário. Procurou entre a roupa e encontrou vários itens claramente pertencentes a um homem. Era possível que Maggie Donahue tivesse tido um amante durante a longa ausência de seu marido. Era possível, também, que a roupa pertencesse a Quinn. Ele tirou um dos itens, uma calça de lã e mediu o tamanho com a própria perna. Quinn, ele lembrava, media 1,78m, não era um homem alto, mas era maior que Gabriel. Ele procurou algo nos bolsos. Em um, encontrou três moedas, euros e uma pequena passagem azul e amarela. Estava rasgada, só sobrava a metade. Gabriel conseguia ver quatro números, 5846, nada mais. Na parte de trás havia uns poucos centímetros de uma tarja magnética.
Gabriel enfiou a passagem no bolso, devolveu a calça em seu cabide original e entrou no banheiro. No armário de remédios encontrou lâmina de barbear, loção pós-barba e desodorante masculino. Depois cruzou o corredor e entrou no segundo quarto. Em limpeza, a filha de Quinn era exatamente o oposto de sua mãe. A cama estava arrumada; as roupas, penduradas no armário. Gabriel procurou nas gavetas da penteadeira. Não havia drogas nem cigarro, nenhuma prova de uma vida secreta escondida da mãe. Nem havia traço de Eamon Quinn.
Gabriel olhou a hora. Tinham se passado cinco minutos. Ele foi até a janela e viu o carro com dois homens passando lentamente na rua. Quando terminou, o BlackBerry vibrou. Ele o levou até a orelha e ouviu a voz de Christopher Keller.
— Acabou o tempo.
— Mais dois minutos.
— Não temos dois minutos.
Keller desligou sem falar mais nada. Gabriel olhou no quarto. Estava acostumado a procurar nas propriedades de profissionais, não adolescentes. Profissionais eram bons em esconder coisas, adolescentes, não. Eles presumiam que todos os adultos eram tontos, e o excesso de confiança era normalmente o que levava a erros.
Gabriel voltou ao armário e procurou dentro dos sapatos. Em seguida, folheou as revistas de moda, mas não encontrou nada a não ser ofertas de assinaturas e amostras de perfumes. Finalmente, repassou a pequena coleção de livros dela. Incluía uma história dos conflitos escrita por um autor simpático ao IRA e à causa do nacionalismo irlandês. E foi ali, entre duas páginas, que encontrou o que estava procurando.
Era uma fotografia de uma adolescente e um homem usando um chapéu com abas e óculos escuros. Estavam parados em uma rua com prédios antigos, talvez europeus, talvez sul-americanos. A garota era Catherine Donahue e o homem ao seu lado era o pai, Eamon Quinn.
Stratford Gardens estava quieta quando Gabriel saiu da casa número oito. Ele passou pelo portão de metal, caminhou até o Škoda e entrou no carro. Keller abriu caminho pelas ruas principais do Ardoyne católico e voltou a Crumlin Road. Então fez um rápido giro à direita na Cambrai e só aí soltou o acelerador. Havia bandeiras inglesas penduradas nos postes. Eles tinham cruzado uma das fronteiras invisíveis de Belfast. Estavam de volta à segurança do lado protestante.
— Encontrou algo? — perguntou Keller finalmente.
— Acho que sim.
— O quê?
Gabriel sorriu e disse:
— Quinn.
22
WARRING STREET, BELFAST
– PODERIA SER QUALQUER UM — disse Keller.
— Poderia — respondeu Gabriel. — Mas não é. É o Quinn.
Estavam no quarto de Keller, no Premiere Inn, na Warring. Era na esquina do Europa e muito menos luxuoso. Ele fez o check-in como Adrien LeBlanc e falou em inglês com um sotaque francês para os funcionários. Gabriel, durante sua breve passagem pelo lobby, não tinha dito nada.
— Onde você acha que eles estão? — perguntou Keller, ainda estudando a fotografia.
— Boa pergunta.
— Não há sinais no edifício ou carros na rua. É quase como se...
— Ele escolhesse o lugar com grande cuidado.
— Talvez seja Caracas.
— Ou talvez seja Santiago ou Buenos Aires.
— Já foi?
— Aonde?
— Buenos Aires — falou Keller.
— Várias vezes, na verdade.
— Negócios ou prazer?
— Não viajo por prazer.
Keller sorriu e olhou para a foto de novo.
— Parece um pouco com o centro velho de Bogotá para mim.
— Vou ter de acreditar em você nessa.
— Ou talvez seja Madri.
— Talvez.
— Deixe-me ver esse canhoto da passagem.
Gabriel entregou. Keller olhou cuidadosamente a parte da frente. Virou e passou os dedos pela parte da tarja magnética.
— Há alguns anos — ele falou finalmente —, Dom aceitou um contrato de um cavalheiro que tinha roubado muito dinheiro de pessoas que não gostam de ter seu dinheiro roubado. O cavalheiro estava escondido em uma cidade como a dessa foto. Era uma cidade velha que tinha perdido a beleza, uma cidade de colinas e bondes.
— Qual era o nome do cavalheiro?
— Prefiro não falar.
— Onde estava escondido?
— Vou chegar lá.
Keller estava estudando a parte da frente da passagem de novo.
— Como esse cavalheiro não tinha carro, era, por necessidade, um dedicado usuário de transporte público. Eu o segui por uma semana antes de atacar, o que significou que me tornei um dedicado usuário de transporte público, também.
— Você reconhece a passagem, Christopher?
— Pode ser.
Keller pegou o BlackBerry de Gabriel, abriu o Google e digitou vários caracteres na caixa de buscas. Quando os resultados apareceram, ele clicou em um e sorriu.
— Encontrou? — perguntou Gabriel.
Keller virou o BlackBerry para que Gabriel pudesse ver a tela. Nela, havia uma versão completa da passagem que tinha encontrado na casa de Maggie Donahue.
— De onde é? — perguntou Gabriel.
— Uma cidade de colinas e bondes.
— Acho que não está se referindo a San Francisco?
— Não — falou Keller. — É Lisboa.
— Isso não prova que a foto foi tirada lá — disse Gabriel depois de um momento.
— Concordo — respondeu Keller. — Mas se pudermos provar que Catherine Donahue esteve lá...
Gabriel não falou nada.
— Você não viu o passaporte dela quando esteve na casa, viu?
— Não tive a sorte.
— Então suponho que teremos de pensar em outra forma de dar uma olhada nele.
Gabriel pegou o BlackBerry e enviou uma breve mensagem a Graham Seymour em Londres, pedindo informações sobre todas as viagens ao exterior de Catherine Donahue, de Stratford Gardens, número oito, Belfast, Irlanda do Norte. Uma hora depois, quando a escuridão caía sobre a cidade, eles recebiam a resposta.
O ministério britânico tinha emitido o passaporte em dez de novembro de 2013. Uma semana depois, ela embarcou em um voo da British Airways, em Belfast, e desceu no Heathrow de Londres onde, noventa minutos depois, passou para um segundo voo da British Airways, com destino a Lisboa. De acordo com autoridades de imigração portuguesa, ela ficou no país por apenas três dias. Foi sua única viagem ao exterior.
— Nada disso prova que Quinn estava vivendo ali na época — afirmou Keller.
— Por que levá-la a Lisboa entre tantos lugares? Por que não Mônaco, Cannes ou St. Moritz?
— Talvez Quinn estivesse sem dinheiro.
— Ou talvez ele mantenha um apartamento ali, em um velho edifício charmoso no tipo de vizinhança onde ninguém notaria um estrangeiro indo e vindo.
— Conhece alguns lugares assim?
— Passei toda a minha vida em lugares assim.
Keller ficou em silêncio por um momento.
— E agora? — perguntou finalmente.
— Acho que poderíamos levar a foto e meu desenho do rosto dele, e começar a bater nas portas.
— Ou?
— Contratamos os serviços de alguém que é especialista em encontrar aqueles que preferem não ser encontrados.
— Algum candidato?
— Só um.
Gabriel pegou o BlackBerry e ligou para Eli Lavon.
23
BELFAST — LISBOA
ELES DECIDIRAM TOMAR O caminho mais longo até Lisboa. Melhor não chegar à cidade tão rapidamente, disse Gabriel. Melhor tomar cuidado com os arranjos de viagem e a trilha que deixariam. Pela primeira vez, Quinn era real para eles. Não era mais só um rumor. Era um homem em uma rua, com uma filha ao lado. Tinha carne em seus ossos, sangue em suas veias. Ele poderia ser encontrado. E então poderia ser tirado de seu sofrimento.
Então eles deixaram Belfast assim como entraram, em silêncio e sob falsos argumentos. Monsieur LeBlanc falou ao funcionário do Premiere que tinha uma pequena crise pessoal para resolver; Herr Klemp contou algo parecido no hotel Europa. Passando pelo lobby, viu Maggie Donahue, a esposa secreta do assassino, servindo um copo de uísque muito grande a um homem de negócios já bêbado. Ela evitou o olhar de Herr Klemp e ele evitou o dela.
Dirigiram até Dublin, abandonaram o carro no aeroporto e fizeram o check-in em dois quartos no Radisson. Pela manhã, tomaram café como estranhos no restaurante do hotel e depois embarcaram em voos separados para Paris: Gabriel, na Aer Lingus; Keller, na Air France. O voo de Gabriel chegou primeiro. Ele retirou um Citroën limpo do estacionamento e estava esperando no desembarque quando Keller saiu do terminal.
Passaram aquela noite em Biarritz, onde Gabriel já tinha matado alguém por vingança, e, na noite seguinte, na cidade espanhola de Vitoria, onde Keller, em nome de Dom Anton Orsati, já tinha matado um membro do grupo separatista basco ETA. Gabriel podia ver que as ligações de Keller com sua antiga vida estavam começando a entrar em choque; que Keller, a cada dia que passava, estava ficando mais confortável com a perspectiva de trabalhar para Graham Seymour no MI6. Quinn tinha iniciado a cadeia de eventos que havia levado à ruptura de laços de Keller com a Inglaterra. E agora, 25 anos depois, Quinn estava levando Keller de volta para casa.
De Vitoria, eles foram para Madri, e de Madri dirigiram até Badajoz, perto da fronteira portuguesa. Keller estava ansioso para ir a Lisboa, mas, por insistência de Gabriel, eles foram mais para o oeste e pegaram os últimos fracos raios de sol da temporada em Estoril. Ficaram em hotéis separados na praia e levaram vidas separadas de homens sem esposas, sem filhos, sem cuidados ou responsabilidade. Gabriel passava várias horas do dia garantindo que não estavam sendo vigiados. Sentiu a tentação de enviar uma mensagem a Chiara, em Jerusalém, mas não se atreveu. Nem fez contato com Eli Lavon. Lavon era um dos mais experientes rastreadores de homens do mundo. Quando jovem, tinha caçado os membros do Setembro Negro, que realizaram o massacre da Olimpíada de Munique de 1972. Então, depois de deixar o Escritório, tinha começado a trabalhar de forma privada, rastreando bens roubados no Holocausto e algum ocasional criminoso de guerra nazista. Se houvesse algum traço de Quinn em Lisboa — uma residência, um apelido, outra esposa ou filho — Lavon encontraria.
Mas quando se passaram mais dois dias sem nenhuma notícia, até Gabriel começou a ter dúvidas, não da capacidade de Lavon, mas em sua fé de que Quinn tinha algum tipo de ligação com Lisboa. Talvez Catherine Donahue tivesse viajado à cidade com amigos ou como parte de uma viagem escolar. Talvez as calças que Gabriel tinha encontrado no armário de Maggie Donahue pertencessem a outro homem, assim como a passagem rasgada do sistema de bondes de Lisboa. Eles teriam de procurar em outro lugar, ele pensou — no Irã, no Líbano, no Iêmen ou na Venezuela, ou em algum dos incontáveis outros lugares onde Quinn tinha exercido seu mortal negócio. Quinn era um homem do submundo. Ele poderia estar em qualquer lugar.
Mas na terceira manhã de sua estada, Gabriel recebeu uma breve, mas promissora mensagem de Eli Lavon sugerindo que o homem em questão era um visitante frequente da cidade de interesse. Ao meio-dia, Lavon tinha certeza disso, e, no fim da tarde, havia descoberto um endereço. Gabriel ligou para o hotel de Keller e contou que estavam prontos para agir. Eles deixaram Estoril assim como tinham entrado, em silêncio e sob falsos argumentos, dirigindo-se a Lisboa.
— Ele se chama Alvarez.
— Como em português ou espanhol?
— Isso depende do humor dele.
Eli Lavon sorriu. Estavam sentados em uma mesa no Café Brasileira, no bairro do Chiado, em Lisboa. Eram nove e meia e o café estava lotado. Ninguém parecia notar muito os dois homens de meia-idade em frente a xícaras de café em um canto. Eles conversavam em alemão baixinho, uma das muitas línguas que tinham em comum. Gabriel falava no sotaque de Berlim de sua mãe, mas o alemão de Lavon era definitivamente vienense. Usava um suéter de cardigã por baixo da jaqueta de tweed enrugada e um lenço no pescoço. O cabelo era ralo e despenteado; os traços do rosto eram comuns e facilmente esquecíveis. Era um dos seus maiores bens. Eli Lavon parecia ser uma das muitas pessoas pouco interessantes do mundo. Na verdade, era um predador natural que podia seguir um agente de inteligência altamente treinado ou um terrorista duro em qualquer rua do mundo sem atrair nenhum interesse.
— Primeiro nome? — perguntou Gabriel.
— Às vezes José. Outras vezes, ele é Jorge.
— Nacionalidade?
— Às vezes venezuelano, às vezes equatoriano. — Lavon sorriu. — Está começando a ver um padrão?
— Mas ele nunca tenta se passar por português.
— Não domina o idioma para isso. Até seu espanhol é duro. Aparentemente, ele tem bastante sotaque.
Alguém no bar deve ter dito algo divertido, porque uma explosão de risadas reverberou pelo chão de azulejos quadriculado e morreu no alto do teto, onde os candelabros emitiam um fraco brilho dourado. Gabriel olhou por cima do ombro de Lavon e imaginou que Quinn estava sentado na mesa ao lado. Mas não era Quinn; era Christopher Keller. Estava segurando uma xícara de café na mão direita. A mão direita significava que estava tudo bem, a esquerda significava problemas. Gabriel olhou para Lavon de novo e perguntou sobre a localização do apartamento de Quinn. Lavon inclinou a cabeça na direção do Bairro Alto.
— Como é o prédio?
Lavon fez um gesto com a mão para indicar que estava entre aceitável e condenável.
— Porteiro?
— No Bairro Alto?
— Que andar?
— Segundo.
— Podemos entrar?
— Estou surpreso por perguntar isso. A questão é — continuou Lavon — nós queremos entrar?
— Queremos?
Lavon balançou a cabeça.
— Quando temos a sorte de encontrar a segunda casa de um homem como Eamon Quinn, não nos arriscamos a jogar tudo fora correndo até a porta da frente. Adquirimos um posto de observação fixo e esperamos pacientemente o alvo aparecer.
— A menos que existam outros fatores a considerar.
— Como quais?
— A possibilidade de que outra bomba exploda.
— Ou que nossa esposa esteja a ponto de dar à luz a gêmeos?
Gabriel franziu a testa, mas não disse nada.
— Caso você esteja se perguntando — disse Lavon —, ela está bem.
— Está brava?
— Está de sete meses e meio, e seu marido está sentado em um café em Lisboa. Como você acha que ela se sente?
— Como está a segurança dela?
— A rua Narkiss é, possivelmente, a rua mais segura de toda Jerusalém. Uzi mantém uma equipe de segurança na porta o tempo todo.
Lavon hesitou, depois acrescentou:
— Mas todos os guarda-costas do mundo não substituem um marido.
Gabriel não falou nada.
— Posso fazer uma sugestão?
— Se você tiver.
— Volte a Jerusalém por uns dias. Seu amigo e eu podemos vigiar o apartamento. Se Quinn aparecer, você será o primeiro a saber.
— Se eu for a Jerusalém — respondeu Gabriel — não vou querer partir.
— Foi por isso que eu sugeri. — Lavon pigarreou gentilmente. Era um sinal de mais intimidade. — Sua esposa gostaria que você soubesse que daqui a um mês, talvez menos, você será pai de novo. Ela gostaria que você estivesse presente na ocasião. Ou, do contrário, sua vida não vai valer nada.
— Ela falou algo mais?
— Ela pode ter mencionado algo sobre Eamon Quinn.
— O que ela disse?
— Aparentemente, Uzi contou a ela sobre a operação. Sua esposa não aceita bem homens que explodem mulheres e crianças inocentes. Ela gostaria que você encontrasse Quinn antes de voltar para casa. E depois — acrescentou Lavon —, ela gostaria que você o matasse.
Gabriel olhou para Keller e disse:
— Isso não será necessário.
— Entendo — falou Lavon. — Sorte sua.
Gabriel sorriu e tomou um gole de café. Lavon enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um dispositivo USB. Colocou na mesa e empurrou na direção de Gabriel.
— Como pedido, o arquivo completo do Escritório sobre Tariq al-Hourani, nascido na Palestina durante a grande catástrofe árabe, morto a tiros nas escadas de um prédio de apartamentos de Manhattan pouco antes da queda das Torres Gêmeas.
Lavon esperou antes de falar:
— Acredito que você estava lá na época. Por algum motivo, não fui convidado.
Gabriel olhou para o dispositivo em silêncio. Havia partes do arquivo que ele não iria ler de novo — pois foi Tariq al-Hourani que, em uma noite de um janeiro com muita neve, em 1991, tinha plantado uma bomba embaixo do carro de Gabriel, em Viena. A explosão tinha matado seu filho, Dani, e mutilado Leah, sua primeira esposa. Ela vivia em um hospital psiquiátrico no alto do monte Herzl, dentro de uma prisão da memória e um corpo destruído pelo fogo. Durante uma recente visita, Gabriel tinha contado que ele logo seria pai de novo.
— Eu achava — disse Lavon, com a voz baixa — que você conhecia esse arquivo de cor.
— Conheço — disse Gabriel. — Mas gostaria de refrescar minha memória sobre uma parte especial da carreira dele.
— Qual?
— A época que passou na Líbia.
— Tem algum pressentimento?
— Talvez.
— Algo mais que você quer me contar?
— Fico feliz que esteja aqui, Eli.
Lavon mexeu lentamente o café.
— Pelo menos um dos dois está.
Eles saíram pela famosa porta verde do Brasileira em uma praça onde Fernando Pessoa estava sentado em bronze por toda a eternidade, sua punição por ser o poeta mais famoso de Portugal. O vento frio do Tejo rodopiava em um anfiteatro de graciosos edifícios amarelos; um bonde chacoalhava passando pelo largo do Chiado. Gabriel imaginou Quinn sentado em uma cadeira perto da janela, o Quinn do rosto alterado cirurgicamente e de coração sem misericórdia. Quinn, a prostituta da morte. Lavon estava subindo a colina, lentamente, como um flâneur. Gabriel ia ao lado dele e juntos caminharam por um labirinto de ruas escuras. Lavon nunca parou para pensar em seu rumo ou consultar um mapa. Estava falando em alemão sobre uma descoberta que tinha feito recentemente em uma escavação sob a Cidade Velha de Jerusalém. Quando não estava trabalhando para o Escritório, ele era professor-adjunto de arqueologia bíblica na Universidade Hebraica. Na verdade, por causa de uma descoberta monumental que tinha feito debaixo do monte do Templo, Eli Lavon era visto como a resposta de Israel a Indiana Jones.
Ele parou de repente e perguntou:
— Reconhece isso?
— Reconheço o quê?
— Esse lugar. — Com o silêncio como resposta, Lavon se virou. — Que tal agora?
Gabriel se virou também. Não havia nenhuma luz acesa na rua. A escuridão tinha deixado os edifícios sem formato, sem características ou detalhes.
— É onde eles estavam parados. — Lavon deu uns poucos passos subindo a rua com paralelepípedos. — E a pessoa que tirou a fotografia estava parada aqui.
— Pergunto-me quem poderia ser.
— Poderia ter sido alguém que passava na rua.
— Quinn não parece o tipo de pessoa que deixaria um completo estranho tirar uma foto dele.
Lavon voltou a caminhar sem dar outra palavra e subiu mais o bairro. Fez várias outras curvas, à esquerda e à direita, até Gabriel ter perdido todo o sentido de direção. Seu único ponto de orientação era o Tejo, que aparecia esporadicamente através dos espaços entre os prédios, sua superfície brilhando como as escamas de um peixe. Finalmente, Lavon parou e apontou com a cabeça para a entrada de um edifício. Era um pouco mais alto que a maioria dos edifícios no Bairro Alto, quatro andares em vez de três, e todo grafitado no térreo. Uma persiana no segundo andar estava aberta obliquamente; havia uma videira florescendo pendurada na sacada enferrujada. Gabriel caminhou até a entrada e inspecionou o interfone. Não havia nome no 2B. Ele colocou seu dedão no botão e a campainha soou forte, como através de uma janela aberta ou paredes de papel. Então colocou a mão suavemente sobre a maçaneta.
— Sabe quanto tempo demoraria para abrir isso?
— Uns 15 segundos — respondeu Lavon. — Mas quem espera alcança boas coisas.
Gabriel olhou para o declive da rua. No canto, havia um pequeno restaurante onde Keller estava estudando, indiferente, o menu em uma mesa na rua. Bem em frente ao prédio havia um par de casinhas, e uns passos depois havia um prédio de quatro andares com uma fachada cor de canário. Preso na entrada, meio enrolado como se estivesse há muito tempo sob o sol, havia um cartaz explicando em português e inglês que havia um apartamento no prédio disponível para aluguel.
Gabriel arrancou o cartaz e enfiou no bolso. Então, com Lavon a seu lado, passou por Keller sem dar uma palavra ou olhar e desceu a colina até o rio. Na manhã, enquanto tomava café no Brasileira, ele ligou para o número impresso no cartaz. E, ao meio-dia, depois de pagar seis meses de aluguel e um depósito de segurança antecipado, o apartamento era dele.
24
BAIRRO ALTO, LISBOA
GABRIEL SE MUDOU PARA o apartamento logo cedo com o ar de um homem cuja esposa não podia mais tolerar sua companhia. Ele não tinha posses a não ser uma mala bem viajada e manteve a cara fechada que mostrava que não estava ali para socializar. Eli Lavon chegou uma hora mais tarde trazendo duas sacolas de compras — para fazer, era o que parecia, uma refeição de consolo. Keller chegou por último. Entrou no prédio com o silêncio de um ladrão e se estabeleceu na frente de uma janela como se estivesse entrando no esconderijo do País dos Bandidos de Armagh. E assim começou a longa vigília.
O apartamento tinha móveis, mas poucos. A pequena reunião de cadeiras que não combinavam na sala de estar parecia ter sido adquirida em um mercado de móveis usados; os dois quartos eram como celas de monges ascéticos. A falta de camas não atrapalhava, pois um homem sempre estava vigiando na janela. Invariavelmente, era Keller. Ele tinha esperado muito tempo para que Quinn saísse de seu porão e queria a honra de ser o primeiro a colocar os olhos sobre ele. Gabriel pendurou o desenho do rosto de Quinn na parede como um retrato familiar, e Keller o consultava sempre que se aproximava um homem de idade e altura parecida — quarenta e poucos, talvez 1,77 — passando na rua estreita. Cedo, na terceira manhã, ele se convenceu de que viu Quinn indo da direção do café fechado. Era o rosto de Quinn, ele disse a Lavon em um sussurro animado. Mais importante, ele falou, era a forma como Quinn caminhava. Mas não era Quinn; era um homem português que, eles descobriram mais tarde, trabalhava em uma loja a poucas ruas dali. Lavon, um especialista em vigilância física, explicou que era um dos perigos de uma longa vigília. Às vezes, o vigilante vê o que quer ver. E, às vezes, o alvo está parado na frente dele e o vigilante está muito cego pela fadiga ou pela ambição para perceber.
O dono do apartamento acreditava que Gabriel era o único ocupante do lugar, então só ele aparecia em público. Era um homem com o coração machucado, um homem com muito tempo livre. Caminhava pelas ladeiras do Bairro Alto, andava de bonde aparentemente sem destino, visitou o Museu do Chiado, passava as tardes no Brasileira. E em um parque verde nas margens do Tejo, encontrou um mensageiro do Escritório que entregou uma mala cheia de ferramentas de um posto de campo: uma câmera com tripé com uma teleobjetiva com visão noturna, um microfone parabólico, rádios seguros, um transmissor miniatura e um laptop com um link de satélite seguro com o Boulevard Rei Saul. Além disso, havia um bilhete do chefe de Operações gentilmente dando uma bronca por Gabriel ter adquirido uma propriedade segura por meios próprios em vez de usar o departamento de Organização Interna. Havia também uma carta manuscrita de Chiara. Gabriel leu duas vezes antes de queimar na pia do banheiro. Depois disso, seu humor estava tão negro quanto as cinzas que ele jogou ritualmente no cano.
— Minha oferta ainda está de pé — disse Lavon.
— Qual?
— Eu fico aqui com o Keller. Você vai para casa ficar com sua esposa.
A resposta de Gabriel foi a mesma de antes, e Lavon nunca voltou a falar no assunto — mesmo tarde da noite, quando as mesas do canto do restaurante estavam vazias e a chuva batizava a rua silenciosa. Eles diminuíram as luzes do apartamento, assim suas sombras não seriam visíveis de fora, e, no escuro, os anos desapareceriam de seus rostos. Eles poderiam ter sido os mesmos garotos de vinte e poucos anos que o Escritório tinha despachado no outono de 1972 para caçar os realizadores do massacre da Olimpíada de Munique. A operação foi chamada de Ira de Deus. No léxico com base no hebreu da equipe, Lavon tinha sido um ayin, um rastreador. Gabriel era um aleph, um assassino. Durante três anos eles perseguiram suas presas por toda a Europa, matando na escuridão e em plena luz do dia, vivendo com medo de que a, qualquer momento, pudessem ser presos e acusados de assassinato. Tinham passado noites infinitas em quartos apertados vigiando entradas e homens, habitando secretamente a vida dos outros. Estresse e visões de sangue tiraram deles a capacidade de dormir. Um rádio transistor era a única ligação com o mundo real. Contava sobre guerras perdidas e vencidas, sobre um presidente norte-americano que renunciou e, às vezes, nas quentes noites de verão, tocava música para eles — a mesma música que garotos normais de vinte anos estavam ouvindo, garotos que não tinham sido chamados por seu país a servirem como executores, anjos de vingança dos 11 judeus assassinados.
A falta de sono logo era epidêmica no pequeno apartamento no Bairro Alto. Eles tinham planejado fazer turnos rotativos de duas horas no posto ao lado da janela, mas com o passar dos dias, e a insônia mútua dominando, os três agentes veteranos estabeleceram um tipo de vigilância permanente conjunta. Todos que passavam pela janela deles eram fotografados, independentemente de idade, gênero ou nacionalidade. Aqueles que entraram no prédio-alvo recebiam um exame adicional, assim como os moradores. Gradualmente, seus segredos foram descobertos no posto de observação. Essa era a natureza de qualquer observação de longo prazo. Com bastante frequência, os pecados venais dos inocentes eram expostos.
O apartamento tinha uma televisão com uma antena satélite que perdia o sinal sempre que chovia ou mesmo quando o vento mais leve soprava nas ruas. Servia como a ligação deles com o mundo que, a cada dia, parecia ir ficando cada vez mais descontrolado. Era o mundo que Gabriel iria herdar no momento em que fizesse seu juramento como o próximo chefe do Escritório. E seria o mundo de Keller também, se ele quisesse. Keller era a última restauração de Gabriel. Seu verniz sujo tinha sido removido, sua tela tinha sido realinhada e retocada. Ele não era mais o assassino inglês. Logo seria o espião inglês.
Como todos os bons vigilantes, Keller foi abençoado com uma paciência natural. Mas, com sete dias de observação, sua paciência já tinha acabado. Lavon sugeriu uma caminhada pelo rio ou uma viagem até a costa, qualquer coisa para quebrar a monotonia da vigilância, mas Keller se recusou a deixar o apartamento ou abandonar seu posto na janela. Ele fotografava os rostos que passavam na rua — velhos conhecidos, recém-chegados, transeuntes — e esperava por um homem com quarenta e poucos anos, aproximadamente 1,77m de altura, que parasse na entrada do prédio do outro lado da estreita rua. Para Lavon, parecia que Keller estava vigiando a Lower Market Street, em Omagh, esperando que um Vauxhall Cavalier vermelho andando devagar de marcha à ré parasse para estacionar no meio-fio; esperando que dois homens, Quinn e Walsh, descessem. Walsh tinha sido punido por seus pecados. Quinn seria o próximo.
Mas quando se passou outro dia sem sinal dele, Keller sugeriu que fizessem a busca em outro lugar. A América do Sul, ele falou, era o local mais lógico. Eles podiam ir até Caracas e começar a chutar umas portas até encontrarem a do Quinn. Gabriel parecia estar pensando seriamente na questão. Na realidade, ele estava olhando a mulher de uns trinta anos sentada sozinha no restaurante no final da rua. Ela havia colocado a bolsa na cadeira ao lado. Era uma bolsa grande, grande o suficiente para acomodar artigos de higiene, até uma muda de roupa. O zíper estava aberto, e a bolsa estava virada de uma forma que deixava os conteúdos facilmente acessíveis. Uma agente feminina do Escritório teria deixado a bolsa do mesmo jeito, pensou Gabriel, especialmente se houvesse uma arma ali.
— Está me ouvindo? — perguntou Keller.
— Cada palavra — mentiu Gabriel.
A última luz do crepúsculo estava se apagando; a mulher de uns trinta anos ainda estava usando óculos escuros. Gabriel virou a lente para o rosto dela, deu um zoom e tirou uma fotografia. Ele examinou cuidadosamente pelo visor da câmera. Era um rosto bonito, pensou, um rosto que valia uma pintura. As bochechas eram amplas, o queixo era pequeno e delicado, a pele era impecável e branca. Os óculos escuros escondiam seus olhos, mas Gabriel achava que eram azuis. O cabelo era na altura dos ombros e muito escuros. Ele duvidava que a cor fosse natural.
No momento em que Gabriel tirou a fotografia, a mulher estava olhando o menu. Agora estava olhando para a rua. Não era a melhor visão. A maioria dos frequentadores do restaurante olhava para o lado oposto, que tinha uma vista melhor da cidade. Apareceu um garçom. Tarde demais, Gabriel pegou o microfone parabólico e virou para a mesa. Ele ouviu o garçom dizer “Thank you”, em inglês, seguido por uma explosão de música. Era o toque do celular dela. A mulher desligou a chamada com um botão, colocou de novo o telefone na bolsa e tirou um guia de Lisboa. Gabriel novamente olhou pelo visor da câmera e deu um zoom, não no rosto da mulher, mas no guia que ela tinha nas mãos. Era um Frommer’s, em inglês. Ela o abaixou uns segundos e retomou o estudo da rua.
— O que você está olhando? — perguntou Keller.
— Não tenho certeza.
Keller se aproximou da janela e seguiu o olhar de Gabriel.
— Bonita — ele falou.
— Talvez.
— Recém-chegada ou habitué?
— Turista, aparentemente.
— Por que uma jovem turista bonita comeria sozinha?
— Boa pergunta.
O garçom reapareceu com uma taça de vinho branco, que colocou na mesa, ao lado do guia de Lisboa. Ele abriu o bloco de anotações, mas ela disse algo que o fez ir embora sem escrever nada. Ele voltou um momento depois com a conta. Colocou na mesa e foi embora. Não trocaram nenhuma palavra.
— O que acabou de acontecer? — perguntou Keller.
— Parece que a jovem turista bonita mudou de ideia.
— Por que será?
— Talvez tenha algo a ver com a ligação que não atendeu.
A mão da mulher agora estava mexendo na bolsa aberta. Quando reapareceu, havia uma nota em euros. Ela colocou em cima da conta, prendeu com a taça de vinho e se levantou.
— Acho que ela não gostou — disse Gabriel.
— Talvez tenha ficado com dor de cabeça.
A mulher pegou a bolsa, colocou-a no ombro e deu uma olhada final para a rua. Então se virou para a direção oposta, dobrou a esquina e desapareceu.
— Que pena — disse Keller.
— Vamos ver — disse Gabriel.
Ele estava olhando o garçom pegar o dinheiro. Mas, em seus pensamentos, estava calculando quanto tempo levaria para vê-la de novo. Dois minutos, calculou; era quanto tempo demoraria para voltar ao destino por uma rua paralela. Ele marcou o tempo no relógio e quando se passaram noventa segundos, olhou de novo pelo visor e começou a contar lentamente. Quando chegou a vinte, ele a viu surgir meio iluminada, a bolsa sobre o ombro, os óculos de sol sobre os olhos. Parou na entrada do prédio-alvo, enfiou uma chave na fechadura e abriu a porta. Quando entrou no hall, outro morador, um homem de vinte e poucos anos, estava saindo. Ele olhou por cima do ombro para ela; se era por admiração ou curiosidade, Gabriel não sabia dizer. Ele tirou uma foto do morador, depois olhou para as janelas escuras do segundo andar. Dez segundos depois, havia luz por trás das persianas.
CONTINUA
GUSTÁVIA, SÃO BARTOLOMEU
NADA DISSO TERIA ACONTECIDO se Spider Barnes não tivesse ido ao Eddy’s duas noites antes da partida do Aurora. Spider era visto como o melhor chef de cozinha de embarcações de todo o Caribe: bravo, mas também insubstituível, um gênio louco de jaleco branco e avental. Spider, sabem, tinha treinamento clássico. Ele tinha trabalhado um tempo em Paris, um tempo em Londres e também em Nova York e São Francisco, além de ter tido uma estada infeliz em Miami antes de deixar o negócio de restaurantes para sempre e ser livre no mar. Ele trabalhava em grandes iates agora, o tipo de embarcação que estrelas de cinema, rappers, bilionários e quem gosta de aparecer alugava sempre que queriam impressionar. E, quando Spider não estava atrás do fogão, estava caído sobre os melhores balcões de bar em terra firme. O Eddy’s estava entre os cinco melhores do Caribe, talvez os cinco melhores do mundo. Ele começou às sete horas aquela noite com umas cervejas, fumou um baseado no jardim escuro às nove e, às dez, estava contemplando seu primeiro copo de rum de baunilha. Tudo parecia ótimo no mundo. Spider Barnes estava tonto e no paraíso.
Mas então ele viu Verônica, e a noite fez uma curva perigosa. Ela era nova na ilha, uma garota perdida, uma europeia de procedência incerta que servia bebidas para turistas no bar de mergulhadores ao lado. Era bonita, no entanto — “bonita como um toque floral”, Spider comentou com seu companheiro de bebida — e se apaixonou por ela em dez segundos. Pediu a garota em casamento, que era a principal cantada de Spider, e quando ela recusou, ele sugeriu que fossem para a cama, então. De alguma forma, isso funcionou e os dois foram vistos cambaleando sob uma chuva torrencial à meia-noite. E essa foi a última vez que alguém o viu: à meia-noite e meia de uma noite chuvosa em Gustávia, totalmente molhado, bêbado e novamente apaixonado.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/15_O_ESPI_O_INGLES.jpg
O capitão do Aurora, um iate luxuoso de 154 pés de Nassau, era um homem chamado Ogilvy — Reginald Ogilvy, ex-membro da Royal Navy, um ditador benevolente que dormia com uma cópia do regulamento no criado-mudo, junto com a Bíblia do Rei James de seu avô. Ele nunca tinha se importado com Spider Barnes, não antes das nove da manhã seguinte, quando o renomado chef não apareceu na reunião regular da equipe. Não era uma reunião comum, pois o Aurora estava sendo preparado para um convidado muito importante. Só Ogilvy conhecia sua identidade. Ele também sabia que os acompanhantes incluíam uma equipe de seguranças e que a pessoa era exigente, para dizer o mínimo, o que explicava por que ficou alarmado pela ausência de Spider.
Ogilvy informou a situação ao supervisor do porto de Gustávia, que rapidamente informou à polícia local. Dois policiais bateram à porta da pequena casa de Verônica no alto da colina, mas não havia nenhum sinal dela também. Em seguida, realizaram uma busca nos vários pontos da ilha onde os bêbados e os apaixonados tipicamente se lavavam depois de uma noite de devassidão. Um sueco com o rosto vermelho no Le Select afirmou ter pagado uma Heineken a Spider aquela manhã. Outro disse que o viu caminhando pela praia em Colombier, e houve uma informação, nunca confirmada, de uma pessoa inconsolável uivando para a lua nos bosques de Toiny.
A polícia seguiu cada uma das pistas. Reviraram a ilha de norte a sul, de popa a proa, sem encontrar nada. Alguns minutos depois do pôr do sol, Reginald Ogilvy informou à equipe do Aurora que Spider Barnes tinha desaparecido e que um substituto à altura teria de ser encontrado o mais rápido possível. A equipe se espalhou pela ilha, dos restaurantes à beira-mar de Gustávia às barracas de praia do Grand Cul-de-Sac. E, às nove da noite, em um dos lugares menos prováveis, eles encontraram seu homem.
Ele tinha chegado à ilha no auge da temporada de furacões e se estabeleceu em uma casa no fim da praia de Lorient. Não tinha bagagem a não ser uma mochila de lona, uma pilha de livros bastante folheados, um rádio de onda curtas e uma scooter velha que tinha comprado em Gustávia com umas notas encardidas e um sorriso. Os livros eram grossos, pesados e muito usados; o rádio tinha uma qualidade raramente vista hoje em dia. No final da noite, quando ele se sentava na varanda meio inclinada, lendo à luz de uma lanterna à pilha, o som da música flutuava acima do farfalhar das folhas de palmeira e o gentil ir e vir das ondas. Jazz e clássica, principalmente, e às vezes um pouco de reggae das estações de outros países. A cada hora, ele deixava o livro e ouvia atentamente as notícias da BBC. Então, quando terminava o boletim, ele procurava algo de que gostasse, e as palmeiras e o mar mais uma vez dançavam ao ritmo de sua música.
No começo, não estava claro se estava de férias, de passagem, se escondendo ou planejando viver permanentemente na ilha. Dinheiro não parecia ser um problema. De manhã, quando ia à confeitaria tomar o café da manhã, sempre dava boas gorjetas às garotas. E à tarde, quando parava no pequeno mercado perto do cemitério para comprar cerveja alemã e cigarro americano, nunca se importava com o troco que saía do dispensador automático. Seu francês era razoável, mas tingido com um sotaque que ninguém conseguia identificar. Seu espanhol, que ele falava com o dominicano que trabalhava no balcão do JoJo Burger, era muito melhor, mas ainda havia aquele sotaque. As garotas na confeitaria decidiram que ele era australiano, mas os garotos do JoJo Burger achavam que era africânder. Estavam por todo o Caribe, os africânderes. Na maior parte, gente decente, mas uns poucos deles tinham negócios escusos.
Os dias dele, apesar de indefinidos, não pareciam totalmente despropositados. Ele tomava café na confeitaria, parava na banca de jornal em Saint-Jean para comprar vários jornais ingleses e americanos do dia anterior, fazia exercícios rigorosos na praia, lia densos volumes de literatura e história com um chapéu cobrindo os olhos. E, certa vez, ele alugou um barco e passou a tarde mergulhando na ilha de Tortu. Mas sua inatividade parecia mais forçada do que voluntária. Ele parecia um soldado ferido esperando voltar ao campo de batalha, um exilado sonhando com sua terra natal, onde quer que fosse.
De acordo com Jean-Marc, oficial de aduana no aeroporto, ele tinha chegado em um voo de Guadalupe com um passaporte venezuelano válido e o peculiar nome de Colin Hernandez. Parecia ser o produto de um breve casamento entre uma mãe anglo-irlandesa e um pai espanhol. A mãe tinha brincado de ser poeta; o pai tinha feito algo suspeito com dinheiro. Colin odiava o pai, mas falava da mãe como se a canonização fosse uma mera formalidade. Carregava a foto dela em sua carteira. O menino loiro no colo dela não se parecia muito com ele, mas o tempo fazia essas coisas.
O passaporte dizia que tinha 38, o que parecia correto, e sua ocupação era “empresário”, o que podia significar qualquer coisa. As garotas da padaria achavam que era um escritor buscando inspiração. O que mais explicaria o fato de que quase nunca era visto sem um livro? Mas as garotas do mercado criaram uma louca teoria, totalmente sem base, de que ele tinha assassinado um homem em Guadalupe e estava se escondendo em São Bartolomeu até a tempestade passar. O dominicano do JoJo Burger, que estava se escondendo, achou a hipótese ridícula. Colin Hernandez, ele declarou, era apenas outro preguiçoso vivendo do dinheiro de um pai que odiava. Ele ficaria ali até se cansar, ou até o dinheiro acabar. Aí voaria para outro lugar e, em dois ou três dias, ninguém nem se lembraria do nome dele.
Finalmente, um mês depois de sua chegada, houve uma pequena mudança na rotina. Depois de almoçar no JoJo Burger, ele foi até o barbeiro em Saint-Jean, e quando saiu, sua juba negra desgrenhada estava raspada, esculpida e lustrosamente azeitada. Na manhã seguinte, quando apareceu na padaria, estava recém-barbeado e vestido com calça cáqui e uma camisa branca bem passada. Ele tomou o café de sempre — uma xícara grande de café com leite e uma fatia de pão — enquanto lia o Times de Londres do dia anterior. Aí, em vez de voltar para casa, ele subiu na scooter e foi até Gustávia. Ao meio-dia, finalmente ficou claro por que o homem chamado Colin Hernandez tinha vindo a São Bartolomeu.
Ele foi primeiro ao velho e imponente hotel Carl Gustaf, mas o chef, depois de saber que ele não tinha nenhum treinamento formal, se recusou a entrevistá-lo. Os donos do Maya’s o recusaram educadamente, assim como os gerentes do Wall House, Ocean e La Cantina. Ele tentou o La Plage, mas não se interessaram. Nem o Eden Rock, o Guanahani, La Crêperie, Le Jardin ou Le Grain de Sel, o solitário posto de frente para os pântanos de sal de Saline. Até La Gloriette, fundado por um exilado político, não quis nada com ele.
Decidido, ele tentou a sorte nas joias pouco conhecidas da ilha: o bar do aeroporto, o boteco Creole do outro lado da rua, o pequeno estabelecimento que vendia pizza e panini no estacionamento do supermercado L’Oasis. E foi ali que a sorte finalmente sorriu para ele, pois descobriu que o chef no Le Piment tinha sido despedido depois de uma longa disputa sobre horas e salário. Às quatro horas daquela tarde, depois de demonstrar suas habilidades na minúscula cozinha do Le Piment, ele foi contratado. Trabalhou seu primeiro turno aquela mesma noite. As críticas foram todas brilhantes.
Na verdade, não demorou muito para que suas proezas culinárias se espalhassem pela pequena ilha. Le Piment, antes lugar frequentado apenas por nativos e habitués, logo estava cheio de uma nova clientela, todos elogiando o novo chef misterioso com esse peculiar nome anglo-espanhol. O Carl Gustaf tentou roubá-lo, assim como o Eden Rock, o Guanahani e o La Plage, todos sem sucesso. Portanto, Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, estava pessimista quando apareceu no Le Piment sem fazer reserva, na noite posterior ao desaparecimento de Spider Barnes. Foi forçado a esperar por trinta minutos no bar antes de finalmente conseguir uma mesa. Pediu três tira-gostos e três entradas. E depois de experimentar cada um, pediu para falar com o chef. Dez minutos se passaram antes de ele aparecer.
— Com fome? — perguntou o homem chamado Colin Hernandez, olhando os pratos de comida.
— Não muito.
— Então, por que veio aqui?
— Queria ver se você era tão bom quanto todos parecem pensar que é.
Ogilvy esticou a mão e se apresentou — posto e nome, seguido pelo nome do barco. O homem chamado Colin Hernandez levantou a sobrancelha, curioso.
— O Aurora é o barco de Spider Barnes, não é?
— Conhece o Spider?
— Acho que já tomei algo com ele uma vez.
— Não foi o único.
Ogilvy olhou bem para a figura parada na frente dele. Era compacto, forte, formidável. Para o olho agudo do inglês, ele parecia um homem que tinha navegado por mares duros. Sua sobrancelha era escura e grossa; o queixo era robusto e resoluto. É um rosto, pensou Ogilvy, feito para aguentar um soco.
— Você é venezuelano — ele disse.
— Quem falou?
— Todo mundo que se recusou a contratá-lo quando estava procurando emprego.
Os olhos de Ogilvy foram do rosto para a mão descansando nas costas da cadeira. Não havia evidências de tatuagens, o que ele viu como um sinal positivo. Ogilvy via a cultura moderna da tinta como uma forma de automutilação.
— Você bebe? — ele perguntou.
— Não como o Spider.
— Casado?
— Só uma vez.
— Filhos?
— Deus, não.
— Vícios?
— Coltrane e Monk.
— Já matou alguém?
— Não que me lembre.
Disse isso com um sorriso. Reginald Ogilvy também sorriu.
— Estou me perguntando se poderia tentá-lo a deixar esse lugar — falou, olhando para o modesto salão aberto do restaurante. — Estou preparado para pagar um salário generoso. E quando não estivermos no mar, você terá muito tempo livre para fazer o que gosta de fazer quando não está cozinhando.
— Quanto generoso?
— Dois mil por semana.
— Quanto o Spider estava ganhando?
— Três — respondeu Ogilvy depois de hesitar por um momento. — Mas o Spider ficou comigo por dois anos.
— Ele não está mais com você agora, está?
Ogilvy fingiu pensar um pouco.
— Três, então — ele falou. — Mas preciso que você comece imediatamente.
— Quando você parte?
— Amanhã de manhã.
— Nesse caso — disse o homem chamado Colin Hernandez — acho que terá de me pagar quatro.
Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, olhou os pratos de comida antes se levantar.
— Oito horas — ele falou. — Não se atrase.
François, o dono do Le Piment, um marselhês bravo, não recebeu bem a notícia. Soltou uma série de xingamentos no rápido patois do sul. Houve promessas de vingança. E também uma garrafa de um Bordeaux bastante bom, vazia, quebrando-se em milhares de pedaços quando se espatifou contra a parede da pequena cozinha. Mais tarde, François negaria que tinha mirado em seu antigo chef. Mas Isabelle, uma garçonete que presenciou o incidente, iria questionar a versão dele dos eventos. François, ela jurou, tinha jogado a garrafa como se fosse uma adaga diretamente na cabeça de Monsieur Hernandez. E Monsieur Hernandez, ela se lembra, tinha se esquivado do objeto com um movimento que foi tão curto e rápido que ocorreu em um piscar de olho. Depois, ele olhou friamente por um longo tempo para François como se estivesse decidindo a melhor forma de quebrar o pescoço dele. Então, calmamente, tirou seu avental branco limpo e subiu em sua scooter.
Passou o resto da noite na varanda de sua casa, lendo sob a luz da lâmpada de querosene. E, a cada hora, ele abaixava seu livro e ouvia o noticiário da BBC com o vaivém das ondas na praia e o balanço das folhas das palmeiras com o vento noturno. De manhã, após um mergulho revigorante no mar, tomou banho, se vestiu e empacotou as coisas na mochila: roupas, livros e o rádio. Além disso, empacotou dois itens que tinham sido deixados para ele na ilha de Tortu: uma Stechkin 9mm com silenciador e um pacote retangular, trinta por cinquenta centímetros. O pacote pesava exatamente sete quilos. Ele o colocou no centro da mochila, assim ela ficaria bem equilibrada quando fosse carregada.
Deixou a praia de Lorient pela última vez às sete e meia e, com a mochila sobre o joelho, foi para Gustávia. O Aurora brilhava na ponta do porto. Ele subiu às dez para as oito e a sous-chef, uma garota inglesa magra com o nome improvável de Amelia List, mostrou qual era a cabine dele. Guardou suas posses no armário — incluindo o revólver Stechkin e o pacote de sete quilos — e vestiu as roupas de chef que tinham sido deixadas na cama para ele. Amelia List estava esperando no corredor quando ele saiu. Ela o acompanhou até a cozinha e apresentou a despensa de produtos secos, a geladeira e a adega cheia de vinhos. Foi ali, no frio escuro, que ele teve seu primeiro pensamento sexual com a garota inglesa em seu uniforme branco. Não fez nada para evitar. Estava solteiro havia tantos meses que quase nem conseguia se lembrar como era tocar o cabelo de uma mulher ou acariciar a pele de um seio indefeso.
Alguns minutos antes das dez horas veio o anúncio pelo intercomunicador do barco instruindo a todos os membros da tripulação a se apresentarem no deque posterior. O homem chamado Colin Hernandez seguiu Amelia List até o lado de fora e estava parado ao lado dela quando duas Range Rovers negras brecaram na popa do Aurora. Da primeira saíram duas garotas queimadas de sol, rindo, e um homem com o rosto rosa-claro, de cerca de quarenta e poucos anos, carregando auma sacola de praia cor-de-rosa em uma mão e o gargalo de uma garrafa aberta de champanhe na outra. Dois homens atléticos desceram do segundo Rover, seguidos um momento depois por uma mulher que parecia estar sofrendo de um caso terminal de melancolia. Usava um vestido cor de pêssego que deixava a impressão de nudez parcial, um chapéu de amplas abas que escondiam seus ombros delgados e grandes óculos escuros que cobriam boa parte de seu rosto de porcelana. Mesmo assim, ela era instantaneamente reconhecível. Seu perfil a traía, o perfil tão admirado pelos fotógrafos de moda e os paparazzi que a seguiam para aonde fosse. Não havia paparazzi naquela manhã. Dessa vez, ela conseguiu enganá-los.
A mulher subiu no Aurora como se estivesse entrando em uma tumba aberta e passou pela equipe reunida sem uma palavra ou um olhar, caminhando tão perto do homem chamado Colin Hernandez que ele precisou suprimir a vontade de tocá-la para ter certeza de que era real e não um holograma. Cinco minutos depois, o Aurora partiu do porto e ao meio-dia a encantada ilha de São Bartolomeu era um ponto verde e marrom no horizonte. Esticada e de topless no deque da frente, uma bebida na mão, sua pele perfeita tostando ao sol, estava a mulher mais famosa do mundo. E no deque embaixo, preparando uma entrada de torta de atum, pepino e abacaxi, estava o homem que ia matá-la.
2
SAINDO DAS ILHAS DE BARLAVENTO
TODO MUNDO CONHECIA A história. Até aqueles que fingiam não se importar, ou mostravam desdém por seu culto de devoção mundial, conheciam todos os detalhes sórdidos. Ela era uma garota muito tímida e bonita de classe média de Kent, que tinha conseguido entrar em Cambridge e ele era o bonito e, um pouco mais velho, futuro rei da Inglaterra. Eles tinham se conhecido em um debate no campus que tinha algo a ver com o meio ambiente e, de acordo com a lenda, o futuro rei ficou instantaneamente apaixonado. Seguiu-se um longo namoro, quieto e discreto. A garota foi aprovada pelo povo do futuro rei; o futuro rei, pelo dela. Finalmente, um dos piores tabloides conseguiu tirar uma fotografia do casal deixando o baile de verão anual do duque de Rutland no castelo Belvoir. O Palácio de Buckingham soltou um comunicado morno confirmando o óbvio: que o futuro rei e a garota de classe média sem sangue aristocrático nas veias estavam namorando. Um mês depois, com os tabloides lotados de rumores e especulações, o palácio anunciou que a garota de classe média e o futuro rei planejavam se casar.
Isso aconteceu na catedral de St. Paul em uma manhã de junho, quando os céus do sul da Inglaterra estavam tomados pela chuva. Mais tarde, quando as coisas não foram bem, uma parte da imprensa britânica iria escrever que estavam condenados desde o começo. A garota, por temperamento e criação, não estava preparada para a vida no aquário real; e o futuro rei, pelas mesmas razões, não estava preparado para o casamento. Ele tinha muitas amantes, demais para serem contadas, e a garota o puniu levando um de seus guarda-costas para a cama. O futuro rei, quando ficou sabendo do caso dela, baniu o guarda para um posto solitário na Escócia. Consternada, a garota tentou se suicidar tomando uma overdose de pílulas para dormir e foi levada à emergência do Hospital St. Anne. O Palácio de Buckingham anunciou que ela estava sofrendo de desidratação causada por um surto de gripe. Quando perguntaram por que seu marido não a visitou no hospital, disseram algo sobre um conflito de agendas. A declaração oficial levantou muito mais perguntas do que respostas.
Quando ela teve alta, ficou óbvio para aqueles que seguiam a família real que a linda esposa do futuro rei não estava nada bem. Mesmo assim, ela cumpriu seus deveres matrimoniais dando dois herdeiros a ele, um menino e uma menina, os dois nascidos depois de períodos de gravidez breves e difíceis. O rei mostrou sua gratidão voltando para a cama de uma mulher a quem já tinha proposto casamento, e a princesa retaliou alcançando um grau de celebridade global que eclipsou a santa mãe do rei. Ela viajava pelo mundo apoiando causas nobres, uma horda de repórteres e fotógrafos acompanhando cada palavra e movimento dela e, mesmo assim, ninguém parecia notar que ela estava desenvolvendo algum tipo de loucura. Finalmente, com sua bênção e quieta assistência, a história apareceu nas páginas de um livro que contava tudo: as infidelidades de seu marido, os surtos de depressão, as tentativas de suicídio, os distúrbios alimentares causados pela constante exposição à imprensa e ao público. O futuro rei, com ódio, iniciou vários vazamentos de notícias retaliatórias sobre o comportamento errático de sua esposa. Aí aconteceu o golpe de misericórdia: a gravação de uma conversa telefônica apaixonada entre a princesa e seu amante favorito. Nesse momento, a rainha chegou ao limite. Com a monarquia em perigo, ela pediu que o casal se divorciasse o mais rápido possível. Eles fizeram isso um mês depois. O Palácio de Buckingham, sem um traço de ironia, publicou uma declaração afirmando que o fim do casamento real tinha sido “amigável”.
A princesa teve a permissão para manter seus aposentos no Palácio de Kensignton, mas perdeu o título de Sua Alteza Real. A rainha ofereceu um título inferior, mas ela recusou, preferindo ser chamada pelo nome. Ela até recusou seus guarda-costas SO14, pois achava que eram mais espiões do que seguranças. O palácio acompanhava discretamente seus movimentos e associações, assim como a inteligência britânica, que a via mais como um incômodo que como uma ameaça ao reino.
Em público, ela era o rosto radiante da compaixão global, mas por trás de portas fechadas, ela bebia muito e se cercava com um séquito que um conselheiro real descreveu como “eurolixo”. Nessa viagem, no entanto, havia menos acompanhantes que o normal. As duas mulheres bronzeadas eram amigas de infância; o homem que embarcou no Aurora com uma garrafa aberta de champanhe era Simon Hastings-Clarke, o visconde absurdamente rico que bancava o estilo de vida ao qual tinha se acostumado. Foi Hastings-Clarke que a levou para voar ao redor do mundo em sua frota de jatos, e era Hastings-Clarke que pagava a conta de seus guarda-costas. Os dois homens que a acompanhavam ao Caribe eram empregados de uma empresa de segurança privada em Londres. Antes de deixar Gustávia, eles tinham feito uma inspeção superficial sobre o Aurora e sua tripulação. Sobre o homem chamado Colin Hernandez, fizeram só uma pergunta: “O que vamos almoçar?”
A pedido da ex-princesa, o bufê foi leve, apesar de nem ela nem seus acompanhantes parecessem muito interessados. Beberam muito aquela tarde, torrando o corpo no forte sol, até que uma tempestade fez com que entrassem rindo em seus quartos. Ficaram lá até às nove da noite, quando saíram vestidos e penteados como se fossem a uma festa no jardim de Somerset. Tomaram coquetéis e comeram canapés no deque e depois foram até o salão principal para jantar: salada com trufas ao vinagrete, seguida de risoto de lagosta e costelas de cordeiro com alcachofra, limão forte, abobrinha e piment d’argile. A ex-princesa e seus acompanhantes declaram que a refeição tinha sido magnífica e exigiram a presença do chef. Quando ele finalmente apareceu, foi recebido com um aplauso infantil.
— O que vai nos fazer amanhã à noite? — perguntou a ex-princesa.
— É uma surpresa — ele respondeu, com seu peculiar sotaque.
— Ah, ótimo — ela disse, com o mesmo sorriso que ele já tinha visto em incontáveis capas de revistas. — Adoro surpresas.
Era uma equipe pequena, oito ao todo, e era responsabilidade do chef e da sua assistente cuidar da porcelana, das taças, da prataria e das panelas, além dos utensílios de cozinha. Eles ficaram lado a lado na pia muito depois que a ex-princesa e seus acompanhantes tinham saído, suas mãos ocasionalmente se tocando debaixo da água quente com sabão, o quadril ossudo dela pressionando a coxa dele. E, uma vez, quando passaram um atrás do outro no gabinete apertado, os bicos duros dos seios dela traçaram duas linhas nas costas dele, enviando uma descarga de eletricidade e sangue para o meio das pernas dele. Foram cada um para sua cabine, mas alguns minutos depois ele ouviu uma batida leve em sua porta. Ela o agarrou sem fazer nenhum som. Era como fazer amor com uma muda.
— Talvez tenha sido um erro — ela sussurrou no ouvido dele quando terminaram.
— Por que você está falando isso?
— Porque vamos trabalhar juntos por muito tempo.
— Não tanto.
— Você não está planejando ficar?
— Isso depende.
— Do quê?
Ele não falou mais nada. Ela deitou a cabeça no peito dele e fechou os olhos.
— Você não pode ficar aqui — ele disse.
— Eu sei — ela respondeu meio adormecida. — Só um pouco mais.
Ele ficou imóvel por muito tempo, com Amelia List dormindo em seu peito, o Aurora subindo e descendo debaixo dele e sua mente trabalhando sobre os detalhes do que iria acontecer. Finalmente, às três horas, ele saiu da cama e caminhou nu pela cabine até o armário. Em silêncio, vestiu sua calça preta, um suéter de lã e um casaco escuro à prova d’água. Tirou o envoltório do pacote — que media trinta por cinquenta centímetros e pesava exatamente sete quilos — e conectou a fonte de energia e o relógio do detonador. Colocou o pacote de volta no armário e ia pegar o revólver Stechkin quando ouviu a garota se mexer atrás dele. Virou-se lentamente e olhou para ela no escuro.
— O que era aquilo? — ela perguntou.
— Volte a dormir.
— Vi uma luz vermelha.
— Era meu rádio.
— Por que está ouvindo rádio às três da manhã?
Antes que ele pudesse responder, o abajur se acendeu. Os olhos dela correram pela roupa escura antes de pararem na arma com silenciador que ainda estava nas mãos dele. Ela abriu a boca para gritar, mas ele colocou sua palma sobre o rosto dela antes que qualquer som pudesse escapar. Enquanto ela lutava para se livrar da mão dele, o homem sussurrou baixinho no ouvido dela.
— Não se preocupe, meu amor — ele estava falando. — Só vai doer um pouco.
Os olhos se abriram com terror. Então ele girou a cabeça dela violentamente para a esquerda, quebrando sua coluna vertebral e a segurou gentilmente enquanto ela morria.
Não era costume de Reginald Ogilvy acordar logo cedo, mas a preocupação com a segurança de sua famosa passageira o levou à ponte de comando do Aurora nas primeiras horas daquela manhã. Estava verificando a previsão do tempo no computador de bordo, uma xícara de café fresco na mão, quando o homem chamado Colin Hernandez apareceu no alto da escada, vestido totalmente de preto. Ogilvy levantou a vista e perguntou:
— O que você está fazendo aqui? — Mas não recebeu nenhuma resposta a não ser dois tiros da Stechkin silenciada, que furaram seu uniforme e atingiram o coração.
A xícara de café caiu no chão; Ogilvy, instantaneamente morto, desabou pesado ao lado dela. Seu assassino caminhou calmamente pelo console, fez um ligeiro ajuste na direção do barco, e desceu a escada. O deque principal estava deserto, nenhum outro membro da tripulação estava de serviço. Ele baixou um dos botes no mar escuro, subiu e soltou a corda.
Deixou o bote livre, debaixo de um céu cheio de diamantes brancos, enquanto olhava o Aurora navegar para o leste em direção às linhas de barcos do Atlântico, sem piloto, um barco fantasma. Verificou seu relógio de pulso, que brilhava. Então, quando ele marcou zero, olhou para cima de novo. Mais 15 segundos se passaram, tempo suficiente para considerar a remota possibilidade de que a bomba tinha algum defeito. Finalmente, houve uma explosão no horizonte — a luz branca cegante do explosivo, seguida pelo laranja-amarelado da explosão secundária e do fogo.
O som era como um rumor de um trovão distante. Depois disso, só se ouvia o mar batendo contra a lateral do bote e o vento. Apertando um botão, ele ligou o motor de popa e ficou olhando enquanto o Aurora começava sua jornada para o fundo do mar. Então, direcionou o bote para o oeste e acelerou.
3
CARIBE — LONDRES
O PRIMEIRO INDICADOR DE PROBLEMAS veio quando o Pegasus Global Charters de Nassau informou que uma mensagem de rotina a um de seus barcos, o luxuoso iate de 47 metros, o Aurora, não tinha sido respondida. O centro de operações Pegasus imediatamente solicitou assistência de todos os barcos comerciais e de turismo na vizinha das Ilhas de Barlavento e, em poucos minutos, a tripulação de um petroleiro com bandeira liberiana informou que tinham visto uma luz estranha na área aproximadamente às 3h45 daquela manhã. Logo depois, a tripulação de um container viu um dos botes do Aurora flutuando vazio e sem rumo aproximadamente a cem milhas ao sudoeste de Gustávia. Simultaneamente, um barco particular encontrou coletes salva-vidas e outros restos flutuando algumas milhas ao oeste. Temendo o pior, a gerência da Pegasus ligou para o Alto Comissariado Britânico, em Kingston, e informou ao cônsul honorário que o Aurora estava desaparecido e possivelmente perdido. A gerência então enviou uma cópia da lista de passageiros, que incluía o nome da ex-princesa.
— Diga que não é ela — pediu o cônsul honorário, incrédulo, mas a gerência do Pegasus confirmou que a passageira era realmente a ex-esposa do futuro rei.
O cônsul imediatamente ligou para seus superiores no Foreign Office, em Londres, e os superiores determinaram que a situação era suficientemente grave para acordar o primeiro-ministro Jonathan Lancaster, e foi quando a crise realmente começou.
O primeiro-ministro deu a notícia ao futuro rei por telefone, à uma e meia, mas esperou até às nove para informar ao povo britânico e ao mundo. Parado na frente da porta preta do número 10 da Downing Street, o rosto triste, ele contou os fatos que eram conhecidos no momento. A ex-esposa do futuro rei tinha viajado ao Caribe na companhia de Simon Hastings-Clarke e duas amigas de longa data. Na ilha paradisíaca de São Bartolomeu, o grupo tinha subido ao luxuoso iate Aurora para um cruzeiro de uma semana. Todo contato com o barco tinha sido perdido e restos da embarcação foram encontrados espalhados pelo mar.
— Esperamos e oramos para que a princesa seja encontrada viva — disse o primeiro-ministro, solene. — Mas devemos nos preparar para o pior.
O primeiro dia de busca não foi bem-sucedido em encontrar sobreviventes ou pistas. Nem o segundo ou o terceiro. Depois de se reunir com a rainha, o primeiro-ministro Lancaster anunciou que seu governo estava trabalhando com a suposição de que a adorada princesa estava morta. No Caribe, as equipes de busca concentraram seus esforços em encontrar restos do barco em vez de corpos. Não seria uma longa busca. Na verdade, apenas 48 horas depois, um submarino automático operado pela marinha francesa descobriu o Aurora debaixo de dois mil pés de água salgada. Um especialista que viu as imagens de vídeo disse que era evidente que o barco tinha sofrido algum tipo de problema cataclísmico, quase certamente uma explosão.
— A pergunta é — ele disse —: foi um acidente ou foi intencional?
A maioria das pessoas do país — diziam pesquisas confiáveis — se recusava a acreditar que a ex-princesa tinha realmente morrido. Eles mantinham a esperança de que somente um dos dois botes do Aurora tinha sido encontrado. Claro, argumentavam, ela estava perdida no mar aberto ou tinha sido levada pela correnteza até uma ilha deserta. Um site pouco sério chegou a informar que ela foi vista em Montserrat. Outro disse que estava vivendo tranquila à beira-mar, em Dorset. Teóricos da conspiração de todos os tipos criaram histórias sensacionalistas sobre um plano para matar a princesa que foi concebido pelo Conselho Privado da Rainha e realizado pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânico, mais conhecido como MI6. Havia muita pressão para que seu chefe, Graham Seymour, fizesse uma declaração negando as alegações, mas ele se recusou.
— Isso não são alegações — ele disse ao secretário de relações exteriores durante uma tensa reunião na enorme sede do serviço ao lado do rio. — São fantasias criadas por pessoas com problemas mentais, e não vou me rebaixar a dar uma resposta a elas.
Em particular, no entanto, Seymour já tinha chegado à conclusão de que a explosão a bordo do Aurora não tinha sido um acidente. Da mesma forma que sua contraparte no DGSE, o bastante eficiente serviço de inteligência francês. Um analista francês,vendo o vídeo dos destroços, tinha determinado que o Aurora fora destruído por uma bomba detonada no deque inferior. Mas quem tinha levado a bomba para dentro do barco? E quem tinha ligado o detonador? O principal suspeito do DGSE era o homem que tinha sido contratado para substituir o chef desaparecido do Aurora na noite antes da partida do iate. Os franceses enviaram ao MI6 um vídeo granulado de sua chegada ao aeroporto de Gustávia, junto com algumas fotos de baixa qualidade capturada por câmeras de segurança de algumas lojas. Mostrava um homem que não se importava em aparecer em fotos.
— Ele não me parece o cara que afundaria um barco — Seymour disse em uma reunião de sua equipe. — Ele está solto por aí, em algum lugar. Descubram quem ele é e onde está se escondendo, preferencialmente antes dos franceses.
Ele era um sussurro em uma capela meio acesa, um fio perdido na bainha de uma roupa descartada. Eles verificaram as fotografias nos computadores. E, quando os computadores não encontraram uma combinação, procuraram por ele da forma antiga, com sapatos de couro e envelopes cheios de dinheiro — dinheiro norte-americano, claro, pois nas regiões inferiores do mundo da espionagem, os dólares continuavam a ser a moeda comum. O homem do MI6 em Caracas não encontrou nenhum traço dele. Nem conseguiram encontrar alguma pista de uma mãe anglo-irlandesa com um coração poético, ou um pai empresário espanhol. O endereço de seu passaporte terminou sendo uma favela em Caracas; seu último número conhecido há muito estava desconectado. Um informante pago dentro da polícia secreta venezuelana disse que tinha ouvido um rumor sobre uma ligação com Castro, mas uma fonte perto da inteligência cubana murmurou algo sobre os cartéis colombianos.
— Talvez antes — disse um policial incorruptível em Bogotá —, mas ele se afastou dos grandes traficantes há muito tempo. A última coisa que ouvi é que estava vivendo no Panamá com uma das antigas amantes de Noriega. Tinha muitos milhões guardados em um banco panamenho sujo e um condomínio em Playa Farallón.
A antiga amante negou conhecê-lo e o gerente do banco em questão, depois de aceitar um suborno de dez mil dólares, não conseguiu encontrar nenhum registro de conta em nome dele. Quanto ao condomínio na praia em Farallón, um vizinho quase não conseguia se lembrar de sua aparência, só da voz dele.
— Ele falava com um sotaque peculiar — disse. — Parecia que era da Austrália. Ou seria da África do Sul?
Graham Seymour monitorou a busca pelo suspeito do conforto de seu escritório, o melhor de todo o mundo da espionagem, com um jardim inglês no vestíbulo, uma enorme mesa de mogno usada por todos os chefes antes dele, janelas enormes voltadas para o rio Tâmisa e o imponente relógio de seu avô construído por ninguém menos que Sir Mansfield Smith Cumming, o primeiro “C” do Serviço Secreto Britânico. O esplendor do que tinha ao seu redor deixava Seymour inquieto. Em seu distante passado, ele tinha sido um homem de campo de alguma reputação — não no MI6, mas no MI5, o serviço de segurança interno menos glamoroso da Grã-Bretanha, onde havia servido com distinção antes de fazer a curta viagem da Thames House a Vauxhall Cross. Havia alguns no MI6 que se ressentiam da indicação de alguém de fora, mas a maioria via “a transferência”, como tinha ficado conhecida no meio, como um tipo de volta para casa. O pai de Seymour foi um lendário oficial do MI6, enganando nazistas, com importante participação em vários eventos no Oriente Médio. E agora seu filho, no auge da vida, se sentava atrás da mesa na qual Seymour pai tinha se apresentado para receber ordem.
Com o poder, no entanto, geralmente vem um sentimento de desamparo. E Seymour, o espiocrata, o espião de sala de reuniões, caiu vítima dele. Com busca cada vez mais infrutífera, e com a pressão de Downing Street e do palácio crescendo, seu mau humor ia piorando. Ele mantinha uma foto do alvo em sua mesa, perto do tinteiro vitoriano e da caneta-tinteiro Parker que usava para marcar documentos com seu criptograma pessoal. Algo no rosto era familiar. Seymour suspeitava que, em algum lugar — em outro campo de batalha, em outra terra —, seus caminhos tinham se cruzado. Não importava que os bancos de dados do serviço não afirmassem isso. Seymour confiava em sua memória mais do que na memória de qualquer computador do governo.
E assim, com as mãos em campo levando a falsas pistas e a poços vazios, Seymour conduzia uma busca própria a partir da gaiola dourada no alto de Vauxhall Cross. Ele começou esquadrinhando sua prodigiosa memória, e quando não deu certo, pediu acesso a uma pilha de casos antigos do MI5 e procurou ali também. Novamente não encontrou nenhuma pista. Finalmente, na manhã do décimo dia, o telefone na mesa de Seymour tocou levemente. O tom diferente mostrou que quem ligava era Uzi Navot, o chefe do tão falado serviço de inteligência de Israel. Seymour hesitou, depois levantou o telefone de forma cautelosa. Como sempre, o chefe dos espiões israelense não se importou em alguma troca de amabilidade.
— Acho que podemos ter encontrado o homem que você está procurando.
— Quem é ele?
— Um velho amigo.
— Seu ou nosso?
— Seu — disse o israelense. — Não temos nenhum amigo.
— Pode nos dizer o nome dele?
— Não pelo telefone.
— Quão rapidamente pode chegar a Londres?
A linha ficou muda.
4
VAUXHALL CROSS, LONDRES
UZI NAVOT CHEGOU A Vauxhall Cross pouco antes das onze da noite e foi levado à suíte executiva pelo elevador. Estava usando um terno cinza que parecia apertado para os ombros fortes, uma camisa branca aberta em seu grosso pescoço e óculos sem aro que marcavam a ponte de seu nariz de pugilista. À primeira vista, poucos presumiam que Navot era israelense, ou mesmo judeu, um traço que tinha funcionado bem durante sua carreira. Uma vez, ele tinha sido um katsa, o termo usado por seu serviço para descrever agentes de campo disfarçados. Armado com bom conhecimento de vários idiomas e uma pilha de falsos passaportes, Navot tinha penetrado em redes de terror e recrutado vários espiões e informantes espalhados pelo mundo. Em Londres, ficou conhecido como Clyde Bridges, o diretor de marketing europeu de uma obscura empresa de software. Tinha dirigido várias operações bem-sucedidas em solo britânico na época, quando era responsabilidade de Seymour evitar essas atividades. Seymour não guardava rancor, pois essa era a natureza dos relacionamentos entre espiões: adversários um dia, aliados no outro.
Um frequente visitante em Vauxhall Cross, Navot não comentou nada sobre a beleza do grande escritório de Seymour. Nem se dedicou à fofoca profissional que precedia a maioria dos encontros entre habitantes do mundo secreto. Seymour sabia os motivos do humor taciturno do israelense. O primeiro mandato de Navot como chefe estava terminando, e o primeiro-ministro tinha pedido que ele saísse para que outro homem assumisse, um lendário agente com quem Seymour tinha trabalhado em diversas ocasiões. Havia boatos de que a lenda tinha feito um acordo para que Navot continuasse. Era algo pouco ortodoxo permitir que seu predecessor continuasse no serviço, mas a lenda raramente se preocupava com a ortodoxia. A disposição para correr riscos era sua maior força — e às vezes, pensou Seymour, sua ruína.
Na forte mão direita de Navot estava pendurada uma maleta de aço inoxidável com trava de combinação. Dela, tirou uma fina pasta, que colocou sobre a mesa de mogno. Dentro havia um documento, uma página; os israelenses se orgulhavam da brevidade de seus arquivos. Seymour leu a linha de assunto. Aí olhou para a fotografia ao lado de seu tinteiro e xingou baixinho. Do lado oposto da mesa imponente, Uzi Navot se permitiu um breve sorriso. Não era comum que conseguissem contar ao diretor-geral do MI6 algo que ele ainda não sabia.
— Quem é a fonte da informação? — perguntou Seymour.
— É possível que seja um iraniano — respondeu Navot, vagamente.
— O MI6 tem acesso regular a seu produto?
— Não — respondeu Navot. — Ele é exclusivamente nosso.
O MI6, a CIA e a inteligência israelense trabalharam juntos durante mais de uma década para evitar que os iranianos chegassem a ter armas nucleares. Os três serviços tinham operado conjuntamente contra a rede de suprimentos nuclear iraniana e compartilharam grande quantidade de dados técnicos e de inteligência. Era reconhecido que os israelenses tinham as melhores fontes humanas em Teerã e, para contrariedade dos norte-americanos e britânicos, eles as protegiam com todo cuidado. Julgando pelo escrito no relatório, Seymour suspeitava de que o espião de Navot trabalhava para o VEVAK, o serviço de inteligência iraniano. As fontes do VEVAK eram famosas pela dificuldade de trato. Às vezes a informação que trocavam por dinheiro ocidental era genuína. Outras vezes estava a serviço da taqiyya, a prática persa de mostrar uma intenção enquanto abrigava outra.
— Acredita nele? — perguntou Seymour.
— Não estaria aqui se não acreditasse. — Navot fez uma pausa e acrescentou: — E algo me diz que você acredita também.
Quando Seymour não respondeu, Navot tirou um segundo documento da maleta e colocou na mesa, perto dele.
— É uma cópia de um relatório que enviamos ao MI6 há três anos — ele explicou. — Sabíamos sobre sua conexão com os iranianos já naquela época. Também sabíamos que estava trabalhando com Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda e qualquer um que pagasse.
Navot acrescentou:
— Seu amigo não discrimina muito com quem ele anda.
— Foi antes da minha época — respondeu Seymour.
— Mas agora é seu problema. — Navot apontou para uma passagem perto do final do documento. — Como consegue ver, fizemos a proposta de uma operação para tirá-lo de circulação. Até nos apresentamos como voluntários para fazer o serviço. E como você acha que seu predecessor respondeu a nossa generosa oferta?
— Obviamente, ele recusou.
— Com extremo preconceito. Na verdade, ele nos disse em termos bem claros que não deveríamos colocar um dedo nele. Estava com medo de que isso abriria uma caixa de Pandora. — Navot balançou a cabeça lentamente. — E, agora, aqui estamos nós.
A sala estava silenciosa, exceto pelo tique-taque do velho relógio do avô de C. Finalmente, Navot perguntou com a voz baixa:
— Onde você estava naquele dia, Graham?
— Que dia?
— Cinco de agosto, mil novecentos e noventa e oito.
— O dia da bomba?
Navot assentiu.
— Sabe muito bem onde eu estava — respondeu Seymour. — Estava no Cinco.
— Você era o chefe de contraterrorismo.
— É.
— O que significa que era sua responsabilidade.
Seymour não falou nada.
— O que aconteceu, Graham? Como ele conseguiu?
— Foram cometidos erros. Sérios erros. Sérios o suficiente para arruinar carreiras, até hoje. — Seymour juntou os dois documentos e os devolveu a Navot. — Sua fonte iraniana contou por que ele fez isso?
— É possível que ele tenha voltado a uma antiga briga. Também é possível que estivesse agindo em nome de outros. De qualquer forma, é preciso lidar com ele, antes que seja tarde demais.
Seymour não respondeu.
— Nossa oferta ainda está de pé, Graham.
— Que oferta?
— Vamos cuidar dele — respondeu Navot. — E depois vamos enterrá-lo em um buraco tão fundo que ninguém da época dos conflitos vai conseguir recuperá-lo.
Seymour ficou em um silêncio contemplativo.
— Só existe uma pessoa a quem eu confiaria um trabalho como esse — ele falou, finalmente.
— Isso poderia ser difícil.
— A gravidez?
Navot assentiu.
— Quando ela vai ter?
— Infelizmente isso é informação confidencial.
Seymour deu um breve sorriso.
— Você acha que ele poderia ser persuadido a aceitar essa missão?
— Tudo é possível — respondeu Navot, sem querer se comprometer. — Eu ficaria feliz em falar com ele em seu nome.
— Não — falou Seymour. — Eu faço isso.
— Há mais um problema — falou Navot depois de um momento.
— Só um?
— Ele não conhece muito essa parte do mundo.
— Eu conheço alguém que pode servir como guia.
— Ele não vai trabalhar com alguém que não conhece.
— Na verdade, eles são bons amigos.
— Ele é do MI6?
— Não — respondeu Seymour. — Ainda não.
5
AEROPORTO FIUMICINO, ROMA
– POR QUE VOCÊ ACHA que meu voo está atrasado? — perguntou Chiara.
— Pode ser um problema mecânico — respondeu Gabriel.
— Pode ser — ela repetiu sem convicção.
Estavam sentados em um canto silencioso da sala de espera da primeira classe. Não importava a cidade, pensou Gabriel, eram todos iguais. Jornais abandonados, garrafas quentes de pinot grigio suspeito, a CNN International silenciosa em uma televisão grande de tela plana. Pelos seus cálculos, Gabriel tinha passado um terço de sua carreira em lugares assim. Ao contrário da sua esposa, ele era extraordinariamente bom em esperar.
— Vá perguntar à garota bonita no balcão de informações por que meu voo ainda não começou a embarcar — ela disse.
— Não quero falar com a garota bonita no balcão de informações.
— Por que não?
— Porque ela não sabe nada e vai simplesmente falar algo que acha que quero ouvir.
— Por que você sempre precisa ser tão fatalista?
— Evita que me desaponte depois.
Chiara sorriu e fechou os olhos; Gabriel olhava a televisão. Um repórter britânico com capacete e colete à prova de balas estava falando sobre os últimos ataques aéreos contra Gaza. Gabriel se perguntou por que a CNN tinha ficado tão apaixonada pelos jornalistas britânicos. Ele achava que era o sotaque. As notícias sempre pareciam mais fortes quando dadas com um sotaque britânico, mesmo se fossem completas mentiras.
— O que ele está falando? — perguntou Chiara.
— Você realmente quer saber?
— Vai ajudar a passar o tempo.
Gabriel apertou os olhos para ler as legendas.
— Diz que um avião israelense atacou uma escola onde várias centenas de palestinos estavam se escondendo da batalha. Diz que pelo menos 15 pessoas foram mortas e várias dezenas seriamente feridas.
— Quantas eram mulheres e crianças?
— Todas elas, aparentemente.
— A escola era o verdadeiro alvo do ataque aéreo?
Gabriel digitou uma breve mensagem no BlackBerry e enviou com segurança para o Boulevard Rei Saul, o quartel-general do serviço de inteligência de Israel. Tinha um nome comprido e enganador que tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os funcionários chamavam de Escritório e nada mais.
— O verdadeiro alvo — ele falou, os olhos no BlackBerry— era uma casa do outro lado da rua.
— Quem vive na casa?
— Muhammad Sarkis.
— O Muhammad Sarkis?
Gabriel assentiu.
— Muhammad ainda está entre os vivos?
— Aparentemente, não.
— E a escola?
— Não foi atingida. As únicas vítimas foram Sarkis e membros de sua família.
— Talvez alguém deveria contar a verdade ao jornalista.
— Em que isso ajudaria?
— Mais fatalismo — disse Chiara.
— Nenhum desapontamento.
— Por favor, descubra por que meu voo está atrasado.
Gabriel digitou outra mensagem no BlackBerry. Um momento depois, chegou a resposta.
— Um dos foguetes do Hamas caiu perto do Ben-Gurion.
— Muito perto? — perguntou Chiara.
— Perto o suficiente para causar desconfortos.
— Você acha que a garota bonita no balcão de informações sabe que meu destino está sendo atacado por foguetes?
Gabriel ficou em silêncio.
— Tem certeza de que quer continuar com isso? — perguntou Chiara.
— Com o quê?
— Não me obrigue a falar em voz alta.
— Está perguntando se eu ainda quero ser chefe em um momento como esse?
Ela assentiu.
— Em um momento como esse — ele falou, vendo as imagens de combate e explosões na tela —, eu gostaria de poder ir até Gaza e lutar junto com nossos rapazes.
— Achei que você tinha odiado o exército.
— Odiei.
Ela virou a cabeça para ele e abriu os olhos. Eram cor de caramelo com toques de ouro. O tempo não tinha deixado nenhuma marca em seu lindo rosto. Não fosse pela barriga inchada e o anel dourado no dedo, ela poderia ser a mesma garota jovem que ele tinha encontrado há muito tempo, no antigo gueto de Veneza.
— Combina, não?
— O quê?
— Que os filhos de Gabriel Allon nasçam em tempo de guerra.
— Com um pouco de sorte, a guerra vai terminar quando eles nascerem.
— Não estou tão segura disso. — Chiara olhou para o quadro de embarque. A situação do voo 386 para Tel Aviv ainda aparecia a mesma. — Se meu avião não partir logo, eles vão nascer aqui na Itália.
— Sem chance.
— O que tem de errado com isso?
— Tínhamos um plano. E vamos continuar com ele.
— Na verdade — ela disse, com astúcia —, o plano era que voltássemos a Israel juntos.
— É verdade — disse Gabriel, sorrindo. — Mas houve a intervenção de eventos.
— Eles sempre fazem isso.
Setenta e duas horas antes, em uma igreja comum perto do lago Como, Gabriel e Chiara tinham descoberto um dos quadros roubados mais famosos do mundo: a Natividade com São Francisco e São Lourenço, de Caravaggio. A pintura, bastante danificada, agora estava no Vaticano, onde esperava restauração. Era intenção de Gabriel realizar os primeiros estágios, ele mesmo. Essa era sua combinação única de talentos. Ele era restaurador de arte, espião e assassino, uma lenda que tinha participado de algumas das maiores operações na história da inteligência israelense. Logo seria pai de novo e depois se tornaria o chefe. Não escrevem histórias sobre chefes, ele pensou. Escrevem histórias sobre os homens que os chefes mandam a campo para fazer o trabalho sujo.
— Não sei por que você é tão cabeça-dura em relação àquele quadro — disse Chiara.
— Eu encontrei, eu quero restaurá-lo.
— Na verdade, nós encontramos. Mas isso não muda o fato de que não existe uma maneira possível de terminá-lo antes que as crianças nasçam.
— Não importa se vou conseguir terminar ou não. Só queria...
— Deixar sua marca nele?
Ele assentiu lentamente.
— Poderia ser o último quadro que tenho a chance de restaurar. Além disso, tenho uma dívida com ele.
— Quem?
Ele não respondeu; estava lendo as legendas na televisão.
— O que estão falando agora? — Chiara perguntou.
— Sobre a princesa.
— O que tem?
— Parece que a explosão que afundou o barco foi um acidente.
— Acredita nisso?
— Não.
— Então por que eles falariam algo assim?
— Acho que querem ter um pouco de tempo e espaço.
— Para quê?
— Para encontrar o homem que estão procurando.
Chiara fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dele. O cabelo escuro dela, com tons ruivos e luzes castanhas, tinha um delicioso cheiro de baunilha. Gabriel beijou o cabelo dela e sentiu o perfume. De repente, não queria que ela subisse sozinha no avião.
— O que o painel de embarque está mostrando sobre meu voo? — ela perguntou.
— Atrasado.
— Não pode fazer algo para acelerar as coisas?
— Você superestima meus poderes.
— Falsa modéstia não combina com você, querido.
Gabriel digitou outra breve mensagem no BlackBerry e enviou para o Boulevard Rei Saul. Um momento depois, o aparelho vibrou levemente com a resposta.
— E então? — perguntou Chiara.
— Olha o painel.
Chiara abriu os olhos. O status do voo 386 da El Al ainda mostrava ATRASADO. Trinta segundos depois, mudou para EMBARCANDO.
— Pena que você não consegue acabar com a guerra tão facilmente — disse Chiara.
— Só o Hamas pode parar a guerra.
Ela juntou a bagagem de mão e uma pilha de revistas de moda e se levantou cuidadosamente.
— Seja um bom menino — ela falou. — E se alguém pedir um favor, lembre-se das três adoráveis palavras.
— Encontre outra pessoa.
Chiara sorriu. Então beijou Gabriel com uma urgência surpreendente.
— Venha para casa, Gabriel.
— Logo.
— Não — ela falou. — Venha para casa agora.
— É melhor correr, Chiara. Ou vai perder o voo.
Ela o beijou pela última vez. Então se afastou sem outra palavra e entrou no avião.
Gabriel esperou até o voo de Chiara estar seguro no ar antes de deixar o terminal e caminhar pelo caótico estacionamento do Fiumicino. Seu anônimo sedan alemão estava no canto da terceira plataforma, com a frente virada para fora, caso ele tivesse motivos para fugir da garagem apressadamente. Como sempre, ele olhou embaixo do carro para ver se havia explosivos escondidos antes de entrar atrás do volante e ligar o carro. Uma canção pop italiana começou a tocar no rádio, uma das músicas bobinhas que Chiara estava sempre cantando quando achava que ninguém estava ouvindo. Gabriel mudou para a BBC, mas estava cheia de notícias sobre a guerra, então, ele abaixou o volume. Haveria tempo suficiente para a guerra mais tarde, pensou. Nas próximas semanas só haveria o Caravaggio.
Gabriel cruzou o Tibre sobre a ponte Cavour e entrou na via Gregoriana. O velho apartamento seguro do Escritório estava no final da rua, perto do alto das escadarias da praça da Espanha. Estacionou o sedan em um espaço vazio ao longo do meio-fio e tirou a Beretta 9 mm do porta-luvas antes de descer. O ar frio da noite tinha cheiro de alho frito e folhas molhadas, o cheiro de Roma no outono. Algo nisso sempre fazia Gabriel pensar em morte.
Passou a entrada do seu edifício, o toldo do hotel Hassler Villa Medici e foi até a igreja de Trinità dei Monti. Um momento depois, quando determinou que não estava sendo seguido, voltou ao prédio. Uma única lâmpada de baixo consumo iluminava um pouco o vestíbulo; ele caminhou debaixo da esfera de luz e subiu a escada escura. Quando pisou no terceiro andar, parou. A porta do apartamento estava entreaberta e de dentro vinha o som de gavetas abrindo e fechando. Calmamente, ele tirou a Beretta das costas e usou o cano para lentamente empurrar a porta. No começo, não conseguiu ver nenhum sinal do invasor. Então, a porta se abriu mais um centímetro e ele viu Graham Seymour parado na pia da cozinha, uma garrafa fechada de Gavi em uma mão e um saca-rolha na outra. Gabriel enfiou a arma no bolso do casaco e entrou. E, em sua cabeça, ele estava pensando nas três adoráveis palavras.
Encontre outra pessoa...
6
VIA GREGORIANA, ROMA
– TALVEZ SEJA MELHOR QUE eu faça isso, Gabriel. Ou alguém vai acabar machucado.
Seymour entregou a garrafa de vinho e o saca-rolha, encostando-se na pia da cozinha. Estava usando calça de flanela cinza, uma jaqueta espinha de peixe e uma camisa azul com punho francês. A ausência de ajudantes pessoais ou segurança sugeria que tinha viajado a Roma usando um passaporte falso. Era um mau sinal. O chefe do MI6 viajava clandestinamente só quando tinha um problema sério.
— Como você entrou aqui? — perguntou Gabriel.
Seymour puxou uma chave do bolso de sua calça. Presa a ela estava o medalhão preto tão amado pela Organização Interna, a divisão do Escritório que procurava e gerenciava propriedades seguras.
— Onde conseguiu isso?
— Uzi me deu ontem em Londres.
— E o código do alarme? Suponho que ele tenha dado também.
Seymour recitou o número de oito dígitos.
— É uma violação do protocolo do Escritório.
— Houve circunstâncias atenuantes. Além disso — acrescentou Seymour —, depois de todas as operações que fizemos juntos, sou praticamente membro da família.
— Até membros da família batem antes de entrar em um aposento.
— É você quem está dizendo.
Gabriel tirou a rolha da garrafa, serviu duas taças e entregou uma a Seymour. O inglês levantou a taça meio centímetro e disse:
— À paternidade.
— Dá azar beber por crianças que ainda não nasceram, Graham.
— Então pelo que vamos beber?
Quando Gabriel não respondeu, Seymour foi até a sala de estar. De sua janela era possível ver a torre da igreja e o alto das escadarias. Ele ficou ali por um momento olhando os tetos como se estivesse admirando, do terraço de sua casa, as colinas de sua cidade natal. Com suas mechas cor de chumbo e queixo robusto, Graham Seymour era o típico funcionário público britânico, um homem que tinha nascido, sido criado e educado para liderar. Ele era bonito, mas não muito; era alto, mas não muito. Fazia os outros se sentirem inferiores, principalmente os norte-americanos.
— Sabe — ele disse, finalmente —, você realmente deveria encontrar outro lugar para ficar quando está em Roma. Todo mundo conhece esse apartamento seguro, o que significa que não é nada seguro.
— Gosto da vista.
— Dá para ver o motivo.
Seymour voltou seu olhar para os tetos escuros. Gabriel sentiu que algo o preocupava. Ele falaria sobre isso em algum momento. Sempre chegava.
— Ouvi dizer que sua esposa saiu da cidade hoje — falou finalmente.
— Que outra informação privilegiada o chefe do meu serviço compartilhou com você?
— Ele mencionou algo sobre um quadro.
— Não é um quadro qualquer, Graham. É o...
— Caravaggio — falou Seymour, terminando a sentença.
Então, sorriu e acrescentou:
— Você tem jeito para encontrar coisas, não?
— Isso deveria ser um elogio?
— Acho que sim.
Seymour bebeu. Gabriel perguntou por que Uzi Navot tinha ido a Londres.
— Ele tinha uma informação que queria me mostrar. Tenho de admitir — acrescentou Seymour —, ele parecia bem para um homem em sua posição.
— Que posição é essa?
— Todo mundo no meio sabe que Uzi está saindo — respondeu Seymour. — E está deixando para trás uma grande confusão. Todo o Oriente Médio está pegando fogo e vai piorar bastante antes de melhorar.
— Não foi o Uzi que fez a bagunça.
— Não — concordou Seymour —, foram os norte-americanos que fizeram. O presidente e seus conselheiros foram muito rápidos em se afastar dos árabes fortes. Agora o presidente enfrenta um mundo que ficou louco e ele não tem ideia do que fazer.
— E se você estivesse aconselhando o presidente, Graham?
— Diria para ressuscitar os árabes fortes. Funcionou antes, pode funcionar de novo.
— Todos os cavalos do rei, e todos os homens do rei.
— O que quer dizer?
— A velha ordem está destruída e não pode ser recuperada. Além disso — acrescentou Gabriel —, foi a velha ordem que criou Bin Laden e os jihadistas em primeiro lugar.
— E quando os jihadistas tentarem expulsar o Estado judeu da Casa do Islã?
— Eles estão tentando, Graham. E caso você não tenha notado, o Reino Unido não tem muita utilidade para eles também. Goste ou não, estamos nessa juntos.
O BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa.
— O que foi? — perguntou Seymour.
— Outro cessar fogo.
— Quanto tempo vai durar esse?
— Acho que até o Hamas decidir rompê-lo. — Gabriel colocou o BlackBerry na mesa de café e, curioso, olhou para Seymour. — Você estava a ponto de me dizer o que está fazendo no meu apartamento.
— Tenho um problema.
— Qual é o nome dele?
— Quinn — respondeu Seymour. — Eamon Quinn.
Gabriel passou o nome pelo banco de dados de sua memória, mas não encontrou nada.
— Irlandês? — ele perguntou.
Seymour assentiu.
— Republicano?
— Do pior tipo.
— Então, qual é o problema?
— Há muito tempo cometi um erro e pessoas morreram.
— E Quinn foi o responsável?
— Quinn acendeu o pavio, mas, em última análise, eu fui o responsável. É a parte maravilhosa de nosso negócio. Nossos erros sempre voltam para nos assombrar, e no final todas as dívidas são pagas. — Seymour levantou sua taça. — Podemos brindar por isso?
7
VIA GREGORIANA, ROMA
O CÉU TINHA FICADO ASSUSTADOR a tarde toda. Finalmente, às dez e meia, uma chuva torrencial transformou, por um tempo, a via Gregoriana em um canal de Veneza. Graham Seymour estava parado na janela vendo como gotas grossas de chuva caíam no terraço, mas estava pensando no otimista verão de 1998. A União Soviética era uma memória. As economias da Europa e dos Estados Unidos estavam rugindo. Os jihadistas da Al-Qaeda eram objetos de estudo em seminários incrivelmente chatos sobre ameaças futuras.
— Nós nos enganamos ao pensar que tínhamos chegado ao fim da história — ele estava dizendo. — Havia alguns no Parlamento que realmente estavam propondo acabar com os Serviços de Segurança e o MI6, e nos queimar na fogueira. — Olhou sobre o ombro. — Eram os dias de vinho e rosas. Foram os dias da ilusão.
— Não para mim, Graham. Eu estava fora do negócio na época.
— Eu lembro.
Seymour se afastou de Gabriel e ficou olhando a chuva batendo no vidro.
— Estava vivendo na Cornualha na época, não estava? Naquela pequena casa no rio Helford. Sua primeira esposa estava no hospital psiquiátrico em Stafford e você a mantinha limpando quadros para Julian Isherwood. E havia aquele rapaz que vivia na casa ao lado. Não lembro o nome dele.
— Peel — falou Gabriel. — O nome dele era Timothy Peel.
— Ah, sim, o jovem mestre Peel. Nunca conseguimos entender por que você passava tanto tempo com ele. Então, percebemos que ele tinha exatamente a mesma idade do filho que você perdeu para uma bomba em Viena.
— Achei que estivessemos falando de você, Graham.
— Estamos — respondeu Seymour.
Ele, então, lembrou a Gabriel, desnecessariamente, de que no verão de 1998 ele era chefe de contraterrorismo no MI5. Dessa forma, era o responsável por proteger a Grã-Bretanha dos terroristas do IRA, o Exército Republicano Irlandês. E, mesmo em Ulster, cena de um conflito secular entre protestantes e católicos, havia sinais de esperança. Os eleitores da Irlanda do Norte tinham ratificado os acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e o IRA Provisório estava aderindo aos termos do cessar fogo. Só o IRA Autêntico, um pequeno grupo de dissidentes de linha dura, continuava com a luta armada. Seu líder era Michael McKevitt, ex-intendente geral do IRA. Sua esposa, Bernadette Sands-McKevitt, dirigia a ala política: o Movimento pela Soberania dos 32 Condados. Era irmã de Bobby Sands, o membro do IRA Provisório que fez uma greve de fome até a morte na prisão de Maze, em 1981.
— E então — falou Seymour — havia Eamon Quinn. Quinn planejava as operações. Quinn construía as bombas. Infelizmente, ele era bom. Muito bom.
Um trovão fez o prédio tremer. Seymour se encolheu um pouco antes de continuar.
— Quinn tinha certa genialidade para construir bombas bastante eficientes e entregá-las em seus alvos. Mas o que ele não sabia — acrescentou Seymour — era que eu tinha um agente na cola dele.
— Quanto tempo ele ficou?
— Minha agente era uma mulher — respondeu Seymour. — E ela estava desde o começo.
Administrar a agente e sua inteligência, continuou Seymour, provou ser algo delicado para equilibrar. Como a agente tinha um alto posto dentro da organização, ela geralmente tinha conhecimento avançado dos ataques, incluindo o alvo, a hora e o tamanho da bomba.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour. — Impedir os ataques e colocar a agente em risco? Ou permitir que os ataques acontecessem e tentar garantir que ninguém fosse morto?
— O segundo — respondeu Gabriel.
— Você fala como um verdadeiro espião.
— Não somos policiais, Graham.
— Graças a Deus.
— Na maior parte do tempo — disse Seymour —, a estratégia funcionou. Vários carros-bombas foram desarmados, e vários outros explodiram com poucos estragos, apesar de que um praticamente nivelou a High Street de Portadown, uma fortaleza legalista, em fevereiro de 1998. Aí, seis meses depois, a espiã do MI5 informou que o grupo estava planejando um grande ataque. Algo grande, ela avisou. Algo que iria explodir em pedaços o processo de paz da Sexta-Feira Santa.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour.
Do lado de fora, o céu explodiu com um raio. Seymour esvaziou sua taça e contou a Gabriel o resto da história.
Na noite de 13 de agosto de 1998, um Vauxhall Cavalier marrom, placa 91 DL 2554, desapareceu de uma casa em Carrickmacross, na República da Irlanda. Foi levado até uma fazenda isolada na fronteira, onde colocaram placas falsas da Irlanda do Norte. Então Quinn colocou a bomba: 220 quilos de fertilizante, uma vareta feita à máquina com fortes explosivos, um detonador, uma fonte escondida em um recipiente plástico para alimentos, um interruptor no porta-luvas. Na manhã de domingo, 15 de agosto, ele dirigiu o carro pela fronteira até Omagh e estacionou na frente da loja de departamentos S.D. Kells, em Lower Market Street.
— Obviamente — falou Seymour —, Quinn não entregou a bomba sozinho. Havia outro homem no Vauxhall, mais dois no carro acompanhante e outro que dirigia o carro de fuga. Eles se comunicavam por celular. E estávamos ouvindo cada palavra.
— O Serviço de Segurança?
— Não — respondeu Seymour. — Nossa capacidade de monitorar ligações telefônicas não se estendia além das fronteiras do Reino Unido. A conspiração de Omagh nasceu na República da Irlanda, então tivemos de confiar no GCHQ para fazer as escutas para nós.
O Government Communications Headquarters (GCHQ), o quartel-general de comunicações do governo, era a versão britânica da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos EUA. Às 14h20 tinha interceptado uma ligação de um homem que parecia Eamon Quinn. Ele falou cinco palavras: “Os tijolos estão na parede.” O MI5 sabia por experiências passadas que a frase significava que a bomba estava no lugar. Doze minutos depois, a Ulster Television recebeu um aviso telefônico anônimo: “Há uma bomba, tribunal, Omagh, rua principal, duzentos e vinte quilos, explosão em trinta minutos.” O Royal Ulster Constabulary começou a evacuar as ruas ao redor do tribunal de Omagh e a procurar pela bomba. O que não perceberam era que estavam olhando o lugar errado.
— O aviso por telefone era incorreto — disse Gabriel.
Seymour assentiu lentamente.
— O Vauxhall não estava nem perto do tribunal. Estava a várias centenas de metros mais para baixo, na Lower Market Street. Quando o RUC começou a evacuação, eles sem querer levaram as pessoas na direção da bomba em vez de afastá-las.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Era exatamente o que Quinn queria. Queria que pessoas morressem, então deliberadamente estacionou o carro no lugar errado. Ele enganou a própria organização.
Dez minutos depois das três, a bomba detonou. Vinte e nove pessoas foram mortas, outras duzentas ficaram feridas. Foi o ataque terrorista mais mortal na história do conflito. A oposição foi tão poderosa que o IRA Autêntico sentiu-se obrigado a divulgar um pedido de desculpas. De alguma forma, o processo de paz foi mantido. Depois de trinta anos de sangue e bombas, o povo da Irlanda do Norte finalmente se cansou.
— E, então, a imprensa e as famílias das vítimas começaram a fazer perguntas desconfortáveis — disse Seymour. — Como o IRA Autêntico conseguiu plantar uma bomba no meio de Omagh sem o conhecimento da polícia e dos serviços de segurança? E por que ninguém foi preso?
— O que você fez?
— Fizemos o que sempre fazemos. Fechamos as fileiras, queimamos nossos arquivos e esperamos a tempestade passar.
Seymour se levantou, carregou sua taça até a cozinha e tirou a garrafa de Gavi da geladeira.
— Você tem algo mais forte que isso?
— Como o quê?
— Algo destilado.
— Eu prefiro tomar acetona a bebidas destiladas.
— Acetona com alguma coisa poderia funcionar. — Seymour serviu um pouco de vinho em sua taça e colocou a garrafa na pia.
— O que aconteceu com Quinn depois de Omagh?
— Quinn começou a trabalhar sozinho. Quinn se tornou internacional.
— Que tipo de trabalho ele faz?
— O de sempre — respondeu Seymour. — Trabalho de segurança para bandidos e ditadores, clínicas de fabricação de bombas para revolucionários e dementes religiosos. Conseguimos encontrá-lo de vez em quando, mas na maior parte do tempo ele voa abaixo do nosso radar. Então, o chefe da inteligência iraniana o convidou a ir a Teerã, e foi quando o Boulevard Rei Saul entrou em cena.
Seymour abriu as travas de sua maleta, tirou uma única folha de papel e colocou sobre a mesinha. Gabriel olhou para o documento e franziu a testa.
— Outra violação do protocolo do Escritório.
— O quê?
— Carregar documentos confidenciais do Escritório em uma maleta insegura.
Gabriel pegou o documento e começou a ler. Afirmava que Eamon Quinn, ex-membro do IRA Autêntico, organizador do ataque terrorista de Omagh, tinha sido retido pela inteligência iraniana para desenvolver bombas muito letais para serem usadas contra forças britânicas e norte-americanas no Iraque. O mesmo Eamon Quinn tinha realizado um serviço parecido para o Hezbollah, no Líbano; e o Hamas, na Faixa de Gaza. Além disso, tinha viajado ao Iêmen, onde ajudou a Al-Qaeda, na península arábica, a construir uma pequena bomba líquida que poderia ser colocada dentro de um avião norte-americano. Ele era, dizia o relatório em seu parágrafo de conclusão, um dos homens mais perigosos do mundo e precisava ser eliminado imediatamente.
— Você deveria aceitar o conselho do Uzi.
— É fácil ver isso agora — respondeu Seymour. — Mas eu não seria tão superficial. Afinal, Uzi teria provavelmente dado o trabalho para você.
Gabriel metodicamente rasgou o documento em pequenos pedaços.
— Isso não é suficiente — disse Seymour.
— Vou queimar mais tarde.
— Faça um favor e queime Eamon Quinn junto.
Gabriel ficou em silêncio por um momento.
— Meus dias no campo terminaram — disse ele, finalmente. — Trabalho no escritório agora, Graham, como você. Além disso, a Irlanda do Norte nunca foi minha praia.
— Então acho que teremos de encontrar um parceiro para você. Alguém que conhece o lugar. Alguém que pode passar por residente se for necessário. Alguém que realmente conhece Eamon Quinn pessoalmente.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição?
— Não — falou Gabriel enfaticamente.
— Eu conheço — respondeu Seymour. — Mas tem um pequeno problema.
— Qual?
Seymour sorriu e disse:
— Ele está morto.
8
VIA GREGORIANA, ROMA
– ESTARÁ MESMO?
Seymour retirou duas fotografias de sua maleta e colocou uma na mesa de café. Mostrava um homem de altura e corpo médios caminhando pelo controle de passaporte no aeroporto de Heathrow, em Londres.
— Você o reconhece? — perguntou Seymour.
Gabriel não falou nada.
— É você, claro. — Seymour apontou para a hora na base da imagem. — Foi tirada no inverno passado durante o caso Madeline Hart. Você entrou no Reino Unido sem ser anunciado para fazer algumas pesquisas.
— Eu estava lá, Graham. Lembro bem.
— Então você também vai lembrar que começou sua pesquisa para Madeline Hart na ilha da Córsega, um ponto de início lógico porque foi onde ela desapareceu. Logo depois da sua chegada, você foi ver um homem chamado Anton Orsati. Dom Orsati dirige a família do crime organizado mais poderosa da ilha, uma família que se especializou em matar por encomenda. Ele entregou a você uma informação valiosa sobre os sequestradores dela. Também permitiu que você pegasse emprestado o melhor assassino dele. — Seymour sorriu. — Isso o faz lembrar algo?
— Obviamente, estavam me espionando.
— De uma distância discreta. Afinal, você estava procurando a amante do primeiro-ministro britânico para mim.
— Ela não era só a amante dele, Graham. Era...
— Esse assassino da Córsega é uma pessoa interessante — interrompeu Seymour. — Na verdade, ele não é da Córsega, apesar de conseguir falar com o sotaque de um local. É inglês, ex-membro do Special Air Service que escapou do campo de batalha no Iraque, em janeiro de 1991, depois de um incidente envolvendo fogo amigo. Os militares britânicos acreditam que está morto. Infelizmente, os pais dele também acham. Mas, claro, você já sabia disso.
Seymour colocou a segunda fotografia na mesinha. Como a primeira, mostrava um homem caminhando no aeroporto de Heathrow. Ele era vários centímetros mais alto que Gabriel, com cabelo loiro curto, pele da cor de couro e ombros quadrados e fortes.
— Foi tirada no mesmo dia da primeira foto, alguns minutos depois. Seu amigo entrou no país com um passaporte francês falso, um dos muitos que ele possui. Nesse dia em especial, ele era Adrien Leblanc. Seu nome verdadeiro é...
— Eu já entendi o que você quer, Graham.
Seymour juntou as duas fotos e entregou a Gabriel.
— O que devo fazer com elas?
— Guarde como lembrança da sua amizade.
Gabriel rasgou as fotos no meio e colocou-as perto dos pedaços do memorando do Escritório.
— Há quanto tempo você sabe?
— A inteligência britânica ouve rumores há anos sobre um inglês trabalhando na Europa como assassino profissional. Nunca conseguimos descobrir seu nome. E nunca, em nossos sonhos mais loucos, imaginamos que ele poderia ser um membro pago do Escritório.
— Ele não é um membro pago.
— Como você o descreveria?
— Um velho adversário que agora é um amigo.
— Adversário?
— Um consórcio de banqueiros suíços já o contratou para me matar.
— Considere-se afortunado — falou Seymour. — Christopher Keller raramente falha em cumprir seus contratos. Ele é muito bom no que faz.
— Ele fala muito bem de você também, Graham.
Seymour ficou sentado em silêncio enquanto uma sirene tocava e desaparecia na rua lá embaixo.
— Keller e eu éramos próximos — ele falou finalmente. — Eu lutava contra o IRA do conforto da minha mesa e Keller estava do lado mais duro. Ele fazia tudo que fosse necessário para manter a Grã-Bretanha segura. E, no final, pagou um preço terrível por isso.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Vou deixar que o Keller conte essa parte da história. Não tenho certeza se posso contar melhor que ele.
Uma rajada de vento fez a chuva bater forte contra a janela. As luzes da sala piscaram.
— Não concordei com nada ainda, Graham.
— Mas vai. Ou — acrescentou Seymour — vou arrastar seu amigo de volta à Grã-Bretanha preso e entregá-lo ao Governo de Sua Majestade para ser processado.
— Com que acusações?
— É desertor e assassino profissional. Tenho certeza de que vamos pensar em alguma coisa.
Gabriel apenas sorriu.
— Um homem em sua posição não deveria fazer ameaças vazias.
— Não estou fazendo.
— Christopher Keller sabe muito sobre a vida privada do primeiro-ministro britânico para que o HMG tente processá-lo por deserção ou qualquer outra coisa. Além disso, suspeito que você tenha outros planos para ele.
Seymour não falou nada. Gabriel perguntou:
— O que você tem na sua maleta?
— Um arquivo grosso do histórico de Eamon Quinn.
— O que quer que a gente faça?
— O que deveríamos ter feito há muitos anos. Tirá-lo do mercado o mais rápido possível. E, falando nisso, descubra quem ordenou e financiou a operação para matar a princesa.
— Talvez Quinn tenha voltado à luta.
— A luta por uma Irlanda unida? — Seymour balançou a cabeça. — Essa luta terminou. Se eu tivesse que adivinhar, ele a matou em nome de alguns de seus patrões. E nós dois conhecemos a regra fundamental quando se trata de assassinatos. Não é importante quem puxa o gatilho, mas quem paga a bala.
Outra rajada de vento bateu contra a janela. As luzes diminuíram e depois morreram. Os dois espiões ficaram sentados na escuridão por vários minutos, nenhum dos dois falou nada.
— Quem falou isso? — Gabriel perguntou finalmente.
— Falou o quê?
— Essa coisa da bala.
— Acho que foi o Ambler.
Houve um silêncio.
— Tenho outros planos, Graham.
— Eu sei.
— Minha esposa está grávida. Muito grávida.
— Então você vai ter de trabalhar rápido.
— Acho que o Uzi já aprovou.
— Foi ideia dele.
— Lembre-me de dar uma tarefa horrível ao Uzi assim que eu assumir como chefe.
Um raio iluminou o riso de Seymour. Então, a escuridão voltou.
— Acho que vi umas velas na cozinha quando estava procurando o saca-rolha.
— Gosto da escuridão — falou Gabriel. — Clareia meu pensamento.
— No que você está pensando?
— Estou pensando no que vou dizer para minha esposa.
— Algo mais?
— Sim — falou Gabriel. — Estou pensando como Quinn sabia que a princesa estaria naquele barco.
9
BERLIM — CÓRSEGA
O HOTEL SAVOY ESTAVA EM uma região meio decadente de uma das ruas que estavam mais na moda em Berlim. Um tapete vermelho se esticava de sua entrada; mesas vermelhas ficavam debaixo de guarda-sóis vermelhos na frente da fachada. Na tarde anterior, Keller tinha visto um ator famoso tomando café ali, mas agora, quando saiu do hotel, as mesas estavam desertas. As nuvens estavam baixas e pesadas, havia um vento frio arrancando as últimas folhas das árvores alinhadas na calçada. O breve outono de Berlim estava acabando. Logo seria inverno de novo.
— Táxi, monsieur?
— Não, obrigado.
Keller colocou uma nota de cinco euros na mão esticada do manobrista e saiu caminhando. Ele tinha se registrado no hotel com um nome francês — a gerência tinha a impressão de que era um jornalista freelancer que escrevia sobre cinema — e ficou só uma noite. Ele tinha passado a noite anterior em um hotel modesto chamado Seifert e, antes disso, ficara acordado à noite em uma triste pensão chamada Bella Berlin. Os três estabelecimentos tinham uma coisa em comum: estavam perto do hotel Kempinski, que era o destino de Keller. Ali, ele ia encontrar um homem, um líbio, antigo funcionário de Kadafi que tinha fugido para a França com duas malas cheias de dinheiro e joias depois da revolução. O líbio tinha investido dois milhões de dólares com alguns empresários franceses depois de receber garantias de um lucro substancial. Os empresários franceses já estavam preocupados com sua associação com o líbio. Estavam preocupados também com sua reputação de violência no passado, pois diziam que o líbio costumava gostar de enfiar pregos nos olhos dos oponentes do regime. Os empresários franceses tinham procurado a ajuda de Dom Anton Orsati e ele tinha dado a tarefa a seu assassino mais eficiente. Keller teve de admitir que ficou animado. Ele nunca gostou do agora falecido ditador líbio ou dos capangas que tinham mantido seu regime no poder. Kadafi tinha permitido que todo tipo de terrorista treinasse em seus campos no deserto, incluindo os membros do IRA Provisório. Também tinha fornecido armas e explosivos ao IRA. Na verdade, quase todo Semtex usado nas bombas do IRA tinha vindo diretamente da Líbia.
Keller cruzou a Kantstrasse e desceu a rampa de um estacionamento no subsolo. No segundo nível, em uma parte da garagem sem câmeras de segurança, havia uma BMW preta deixada para ele por um membro da organização Orsati. No porta-malas havia uma pistola Heckler & Koch 9mm com um silenciador; no porta-luvas havia um cartão que abriria a porta de qualquer quarto no hotel Kempinski. O cartão tinha sido adquirido por cinco mil euros de um gambiano que trabalhava na lavanderia do hotel. O gambiano tinha garantido ao homem da organização que o cartão continuaria operacional por outras 48 horas. Depois disso, os códigos passavam por uma mudança de rotina, e a segurança do hotel daria novos cartões a todos os principais funcionários. Keller esperava que o gambiano estivesse falando a verdade. Ou haveria logo uma vaga na lavanderia do Kempinski.
Keller enfiou a arma e o cartão na maleta. Então colocou a mochila no porta-malas da BMW e subiu a rampa de volta para a rua. O Kempinski ficava a cerca de cem metros seguindo pela Fasanenstrasse; um grande hotel com luzes brilhantes estilo Las Vegas na entrada e um café estilo francês de frente para a Kurfürstendamm. Em uma das mesas estava sentado o líbio. Estava acompanhado de um homem de uns sessenta anos e uma mulher que já tinha sido bonita, com cabelo bem escuro e maquiagem estilo Cleópatra. O homem parecia um velho camarada da corte de Kadafi; a mulher parecia muito bem cuidada e bastante entediada. Keller presumiu que pertencia ao amigo, pois o líbio gostava de suas mulheres loiras, profissionais e caras.
Keller entrou no hotel, sabendo que várias câmeras de segurança o observavam. Não importava; ele estava usando uma peruca escura e óculos falsos. Cinco hóspedes do hotel, recém-chegados, julgando pelo jeito deles, estavam esperando um elevador. Keller permitiu que entrassem no primeiro disponível e depois subiu ao quinto andar sozinho, a cabeça baixa de uma forma que a câmera de vigilância não pudesse capturar claramente os traços de seu rosto. Quando as portas se abriram, ele saiu do elevador com o ar de um homem que não estava contente por voltar à solidão de outro quarto de hotel. Um empregado de limpeza o cumprimentou, mas fora isso o corredor estava vazio. O cartão agora estava no bolso de seu casaco. Ele o tirou quando se aproximou do quarto 518 e inseriu na porta. Brilhou uma luz verde, a trava eletrônica abriu. O gambiano iria viver mais um dia.
O quarto tinha sido recentemente arrumado. Mesmo assim, o cheiro da horrível colônia do líbio persistia. Keller foi até a janela e olhou para a rua. O líbio e seus dois acompanhantes ainda estavam na mesa deles no café, apesar de a mulher parecer cansada. Desde que Keller tinha passado por eles, haviam tirado seus pratos e o café tinha sido servido. Dez minutos, ele pensou. Talvez menos.
Ele se afastou da janela e calmamente revisou o quarto. O Kempinski se achava superior, mas era realmente bastante comum: uma cama dupla, uma mesinha, um aparelho de televisão, um guarda-roupas. As paredes eram grossas o suficiente para abafar todo som dos quartos adjacentes, apesar de que não seriam grossas o suficiente para aguentar uma bala normal, mesmo uma bala que tivesse penetrado um corpo humano. Como resultado, a HK de Keller estava usando balas de ponta côncava de 124 grãos que se expandiam na hora do impacto. Qualquer bala que acertasse o alvo ficaria ali. E na improvável hipótese de que Keller errasse, a bala iria se alojar tranquilamente na parede com um barulho fraco.
Ele voltou à janela e viu que o líbio e seus dois acompanhantes estavam de pé. O homem de talvez sessenta anos estava apertando a mão do líbio; a mulher que já tinha sido bonita com cabelo escuro estava olhando com esperanças para as lojas exclusivas alinhadas na Ku-Damm. Keller puxou as cortinas pesadas, se sentou na poltrona azul-marinho, e tirou a HK da maleta. Do corredor veio o barulho do carrinho da mulher da limpeza. Então, tudo ficou em silêncio. Ele olhou para o relógio e marcou o tempo. Cinco minutos, pensou. Talvez menos.
Um sol benevolente brilhava forte sobre a ilha da Córsega quando a balsa noturna de Marselha entrou no porto de Ajaccio. Keller saiu do barco com os outros passageiros e caminhou até o estacionamento onde tinha deixado sua velha van Renault. Havia muita poeira cobrindo as janelas e o capô. Keller pensou que a poeira era um mau sinal. O mais provável é que o sirocco tivesse trazido do norte da África. Instintivamente, ele tocou o pequeno coral vermelho pendurado ao redor de seu pescoço por um fio de couro. Quem é da Córsega acredita que o talismã tem o poder de afastar o occhju, o mau-olhado. Keller acreditava também, apesar da presença de poeira do norte da África no carro aquela manhã depois de ter matado o líbio sugerisse que o talismã não tinha conseguido protegê-lo. Havia uma velha na sua vila, uma signadora, que tinha o poder de retirar o mal do corpo dele. Keller não queria vê-la, pois a velha também tinha o poder de olhar tanto o passado quanto o futuro. Era uma das poucas pessoas na ilha que sabiam a verdade sobre ele. Conhecia sua longa litania de pecados e erros, e até afirmava saber quais serão a hora e as circunstâncias de sua morte. Era uma das coisas que se recusava a contar.
— Não devo fazer isso — ela sussurrava para ele sob a luz da vela. — Além disso, saber como a vida termina só poderia arruinar a história.
Keller sentou atrás do volante do Renault e desceu para a costa ocidental acidentada da ilha, o mar azul turquesa à sua direita, os altos picos do interior à sua esquerda. Para passar o tempo, ele ouvia as notícias no rádio. Não havia nada sobre um líbio morto em um hotel de luxo em Berlim. Keller duvidava que o corpo já tivesse sido encontrado. Ele tinha cometido o ato em silêncio e, ao deixar o quarto, havia pendurado a plaquinha de “Não Perturbe” na maçaneta. Em algum momento, a gerência do Kempinski teria de bater à porta. E, depois de não receber nenhuma resposta, teriam de entrar no quarto e encontrar um valioso hóspede com dois buracos de bala no coração e um terceiro no centro da testa. A gerência imediatamente ligaria para a polícia, claro, e uma busca ligeira iria começar por um homem de cabelo escuro e bigode que tinha sido visto entrando no quarto. Eles conseguiriam rastrear seus movimentos imediatamente depois do assassinato, mas a pista esfriaria na tristeza arborizada do Tiergarten. A polícia nunca conseguiria estabelecer sua identidade. Alguns suspeitariam que fosse líbio como sua vítima, mas poucos dos veteranos mais espertos especulariam que era o mesmo profissional muito caro que há anos matava na Europa. E, então lavariam suas mãos, pois sabiam que assassinatos cometidos por assassinos profissionais raramente eram resolvidos.
Keller seguiu a costa até a cidade de Porto e depois virou para o interior. Era domingo; as estradas estavam calmas e, nas cidades de colinas, tocavam os sinos das igrejas. No centro da ilha, perto do seu ponto mais alto, estava o pequeno vilarejo dos Orsati. Estava ali, era o que diziam, desde a época dos vândalos, quando as pessoas da costa subiram às colinas por segurança. O tempo parecia ter parado naquele lugar. As crianças brincavam nas ruas sempre porque não havia predadores. Nem havia nenhum narcótico ilegal, pois nenhum traficante se arriscaria a sentir a ira dos Orsati por colocar drogas na vila deles. Nunca acontecia nada ali, e às vezes não havia muito trabalho. Mas era limpa, bonita e segura, e os habitantes pareciam contentes em comer bem, beber vinho e passar tempo com seus filhos e seus idosos. Keller sempre sentia falta deles quando ficava muito tempo longe da Córsega. Ele se vestia como eles, falava o dialeto local e, à noite, quando jogava boules com os homens na praça da vila, balançava a cabeça com desgosto sempre que alguém falava dos franceses ou, Deus perdoe, dos italianos. No passado, as pessoas da vila o chamavam de “Inglês”. Agora ele era somente Christopher. Era um deles.
A histórica propriedade do clã Orsati estava pouco além da vila, em um pequeno vale de oliveiras que produzia o melhor azeite da ilha. Dois guardas armados cuidavam da entrada; eles tocaram seus chapéus típicos respeitosamente quando Keller cruzou o portão e começou a longa subida até a casa. Pinheiros-larício cobriam a entrada, mas no jardim murado a luz brilhante do sol iluminava a longa mesa que tinha sido colocada para o tradicional almoço de domingo da família. Por enquanto, a mesa estava vazia. O clã ainda estava na missa, e o Dom, que não pisava mais na igreja, estava no andar de cima, em seu escritório. Ele estava sentado em uma grande mesa de madeira, olhando um livro aberto com capa de couro, quando Keller entrou. Perto de seu cotovelo havia uma garrafa decorativa do azeite de oliva Orsati — azeite de oliva era o negócio legítimo através do qual o Dom lavava os lucros da morte.
— Como estava Berlim? — ele perguntou sem levantar a cabeça.
— Fria — respondeu Keller. — Mas produtiva.
— Alguma complicação?
— Não.
Orsati sorriu. A única coisa que ele detestava mais que complicações eram os franceses. Fechou o livro e olhou para o rosto de Keller. Como sempre, Dom Orsati estava vestido com uma camisa branca bem passada, calças folgadas de algodão claro e sandálias de couro que pareciam ter sido compradas no mercado local, o que era verdade. Seu bigode pesado tinha sido aparado e sua cabeça com cabelos escuros e toques grisalhos brilhava com gel. O Dom sempre cuidava muito de sua aparência aos domingos. Ele não acreditava mais em Deus, mas insistia em manter o descanso sagrado. Evitava palavrões no dia do Senhor, tentava pensar em coisas boas e, mais importante, proibia que seus taddunaghiu, seus matadores, cumprissem os contratos. Mesmo Keller, que tinha sido criado como anglicano e era, por isso, considerado um herege, seguia as regras do Dom. Recentemente, ele tinha sido forçado a passar mais uma noite em Varsóvia porque Dom Orsati não deu permissão para que matasse o alvo, um mafioso russo, no dia de descanso.
— Você vai ficar para almoçar — o Dom estava falando.
— Obrigado, Dom Orsati — disse Keller formalmente —, mas não quero incomodar.
— Você? Incomodar? —O homem fez um gesto com a mão.
— Estou cansado — falou Keller. — Foi uma viagem complicada.
— Você não dormiu na balsa?
— Evidentemente — disse Keller —, você não viajou em uma balsa recentemente.
Era verdade. Anton Orsati raramente se aventurava além das paredes bem guardadas de sua propriedade. O mundo o procurava com seus problemas, e ele os resolvia — por um valor substancial, claro. Pegou um envelope grosso e colocou na frente de Keller.
— O que é isso?
— Considere um bônus de Natal.
— É outubro.
Dom deu de ombros. Keller levantou a aba do envelope e olhou dentro. Estava cheio de maços de notas de cem euros. Abaixou a aba e empurrou o envelope para o centro da mesa.
— Aqui na Córsega — disse Dom, franzindo a testa —, é falta de educação recusar um presente.
— O presente não é necessário.
— Aceite, Christopher. Você merece.
— Você me fez ser rico, Dom Orsati, mais rico do que achei que seria possível.
— Mas?
Keller ficou sentado em silêncio.
— Em boca fechada não entra mosca nem comida — disse Dom, citando um provérbio da Córsega, dos muitos que conhecia.
— O que quer dizer?
— Fale, Christopher. Conte-me o que o incomoda.
Keller estava olhando o dinheiro, conscientemente evitando o olhar do Dom.
— Está chateado com seu trabalho?
— Não é isso.
— Talvez você devesse dar uma parada. Poderia concentrar suas energias no lado legítimo do negócio. Há muito dinheiro para ganhar aí.
— Azeite de oliva não é a resposta, Dom Orsati.
— Então há um problema.
— Não falei isso.
— Não precisa. — Dom olhou para Keller cuidadosamente. — Quando você arrancar o dente, Christopher, vai parar de doer.
— A menos que tenha um péssimo dentista.
— A única coisa pior que um péssimo dentista é uma péssima companhia.
— É melhor estar sozinho — falou Keller filosoficamente — do que ter péssimas companhias.
Dom sorriu.
— Você pode ter nascido inglês, Christopher, mas tem alma de corso.
Keller se levantou. O Dom empurrou o envelope pela mesa.
— Tem certeza de que não quer ficar para almoçar?
— Tenho planos.
— Quaisquer que forem — disse Dom —, terão de esperar.
— Por quê?
— Tem um visitante.
Keller não precisou perguntar o nome do visitante. Havia poucas pessoas no mundo que sabiam que ele ainda estava vivo e só uma que ousaria aparecer sem avisar antes.
— Quando ele chegou?
— Ontem à noite — respondeu Dom.
— O que ele quer?
— Não tinha liberdade para contar. — Dom olhou para Keller analisando-o profundamente. — É minha imaginação — perguntou finalmente — ou seu humor melhorou de repente?
Keller saiu sem responder. Dom Orsati ficou olhando-o se afastar. Então, olhou para a mesa e xingou baixinho. O inglês tinha se esquecido de levar o envelope.
10
CÓRSEGA
CHRISTOPHER KELLER SEMPRE TINHA muito cuidado com seu dinheiro. Pelos próprios cálculos, ele ganhara mais de vinte milhões de dólares trabalhando para Dom Anton Orsati e, através de investimentos prudentes, tinha se tornado muito rico. A maior parte de sua fortuna estava em bancos em Genebra e Zurique, mas havia também contas em Mônaco, Liechtenstein, Bruxelas, Hong Kong e nas Ilhas Caimã. Ele até mantinha uma pequena quantidade de dinheiro em um banco com boa reputação em Londres. Seu gerente de conta britânico acreditava que era um residente recluso da Córsega que, como Dom Orsati, pouco saía da ilha. O governo da França tinha a mesma opinião. Keller pagava impostos de seus ganhos legítimos e de um respeitável salário que recebia da Orsati Olive Oil Company, onde era diretor de vendas para a Europa central. Votava nas eleições francesas, doava a instituições de caridade francesas, torcia por times franceses e, de vez em quando, tinha sido forçado a utilizar os serviços da saúde pública francesa. Nunca tinha sido acusado de nenhum tipo de crime, uma conquista importante para um homem do sul, e seu registro no departamento de trânsito era impecável. No geral, com uma exceção significativa, Christopher Keller era um cidadão-modelo.
Esquiador e montanhista habilidoso, foi o dono silencioso de um chalé nos Alpes franceses por algum tempo. No momento, ele mantinha uma única residência, uma casa de campo de proporções modestas em um local depois do vale dos Orsati. A casa tinha paredes exteriores marrom-amareladas, telhado de telhas vermelhas, uma grande piscina e um amplo terraço que recebia o sol de manhã e, à tarde, ficava protegido pelos pinheiros. Dentro, os quartos largos eram confortavelmente decorados com móveis rústicos em branco, bege e amarelo. Havia muitas estantes cheias de livros sérios — Keller tinha estudado brevemente história militar em Cambridge e era um leitor voraz de política e questões contemporâneas — e nas paredes havia pendurada uma coleção modesta de quadros modernos e impressionistas. O trabalho mais valioso era uma pequena paisagem de Monet, que Keller, através de um intermediário, tinha comprado em um leilão da Christie’s, em Paris. Parado na frente dele agora, uma mão descansando no queixo, a cabeça meio de lado, estava Gabriel. Ele lambeu a ponta do dedo, esfregou na superfície e balançou a cabeça lentamente.
— Algo errado? — perguntou o inglês.
— A superfície está coberta de sujeira. Você realmente deveria me deixar limpá-lo. Só vai demorar uns...
— Gosto dele assim.
Gabriel limpou o dedo em seu jeans e se virou para Keller. O inglês era dez anos mais jovem que Gabriel, dez centímetros mais alto, e 13 quilos mais pesado, especialmente em ombros e braços, onde carregava uma quantidade letal de força e massa bem esculpidas. Seu cabelo curto era loiro desbotado pelo mar; sua pele era muito bronzeada pelo sol. Ele tinha olhos azuis brilhantes, rosto quadrado, e um queixo grosso com um furo no centro. Sua boca parecia fixada permanentemente em um sorriso debochado. Keller era um homem sem lealdade, sem medo e sem moral, exceto quando se tratava de questões de amizade e amor. Tinha vivido segundo as próprias regras e de certa forma tinha saído ganhando.
— Achei que estaria em Roma — ele falou.
— Eu estava — respondeu Gabriel. — Mas Graham Seymour apareceu na cidade. Ele tinha algo que queria me mostrar.
— O que era?
— A fotografia de um homem caminhando pelo aeroporto de Heathrow.
O meio sorriso de Keller desapareceu, seus olhos azuis se entrecerraram.
— Quanto ele sabe?
— Tudo, Christopher.
— Estou em perigo?
— Isso depende.
— Do quê?
— De você concordar em fazer um trabalho para ele.
— O que ele quer?
Gabriel sorriu.
— O que você faz melhor.
Do lado de fora, o sol ainda dominava o terraço de Keller. Eles se sentaram em duas cadeiras de jardim confortáveis, uma pequena mesa de ferro forjado entre eles. Sobre ela, o grosso arquivo de Graham Seymour acerca dos trabalhos de Eamon Quinn. Keller ainda não tinha aberto ou olhado. Estava ouvindo, interessado, Gabriel contar do papel de Quinn no assassinato da princesa.
Quando Gabriel terminou, Keller pegou a fotografia de sua recente passagem pelo aeroporto de Heathrow.
— Você me deu sua palavra — ele falou. — Jurou que nunca ia contar a Graham que estávamos trabalhando juntos.
— Não precisei contar. Ele já sabia.
— Como?
Gabriel explicou.
— Bastardo desonesto— murmurou Keller.
— Ele é britânico — falou Gabriel. — É algo natural.
Keller olhou cuidadosamente para Gabriel por um momento.
— É engraçado — ele falou —, mas você não parece muito chateado com a situação.
— É uma oportunidade interessante para você, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava o meio-dia. Keller colocou a fotografia em cima do arquivo e acendeu um cigarro.
— Você precisa? — perguntou Gabriel, afastando a fumaça com a mão.
— Que escolha eu tenho?
— Você pode parar de fumar e acrescentar vários anos à sua vida.
— Em relação ao Graham — disse Keller, exasperado.
— Acho que pode ficar aqui na Córsega e esperar que ele não decida contar sobre você aos franceses.
— Ou?
— Pode me ajudar a encontrar Eamon Quinn.
— E depois?
— Pode voltar para casa, Christopher.
Keller apontou o vale com a mão e disse:
— Esta é a minha casa.
— Não é real, Christopher. É uma fantasia. É uma invenção.
— Você também é.
Gabriel sorriu, mas não disse nada. O sino da igreja tinha ficado em silêncio; as sombras da tarde estavam se juntando na beira do terraço. Keller esmagou o cigarro e olhou para o arquivo fechado.
— Leitura interessante? — ele perguntou.
— Bastante.
— Reconhece alguém?
— Um homem do MI5 chamado Graham Seymour — falou Gabriel — e um oficial da SAS que é chamado somente por seu codinome.
— Qual é?
— Mercador.
— Sugestivo.
— Também achei.
— O que fala sobre ele?
— Diz que operou em segredo em Belfast Oeste por cerca de um ano no final dos anos oitenta.
— Por que parou?
— Seu disfarce foi descoberto. Aparentemente, houve uma mulher envolvida.
— Menciona o nome dela? — perguntou Keller.
— Não.
— O que aconteceu em seguida?
— Mercador foi sequestrado pelo IRA e levado a uma fazenda remota para ser interrogado e executado. A fazenda era no condado de Armagh. Quinn estava lá.
— Como terminou?
— Mal.
Uma rajada de vento dobrou o pinheiro. Keller olhou para o vale corso como se estivesse escapando de seu controle. Aí, acendeu outro cigarro e contou a Gabriel o resto da história.
11
CÓRSEGA
FOI A HABILIDADE DE Keller com idiomas que o destacou — não idiomas estrangeiros, mas as várias formas em que o Inglês é falado nas ruas de Belfast e nos seis condados da Irlanda do Norte. As sutilezas dos sotaques locais fizeram com que fosse quase impossível para os oficiais da SAS trabalharem sem serem detectados dentro das pequenas e muito conectadas comunidades da província. Como resultado, a maioria dos homens da SAS era forçada a usar os serviços de um Fred — o termo do regimento para um ajudante local — quando seguiam membros do IRA ou realizavam vigilância nas ruas. Mas não Keller. Ele desenvolveu a capacidade de imitar os vários dialetos de Ulster com a velocidade e a confiança de um nativo. Ele podia até mudar de sotaque de repente — um católico de Armagh um minuto, um protestante da Shankill Road de Belfast no seguinte, depois um católico de Ballymurphy. Suas habilidades linguísticas foram notadas por seus superiores. Nem demorou muito para eles perceberem um ambicioso oficial de inteligência que dirigia o MI5 na Irlanda do Norte.
— Presumo— falou Gabriel — que o jovem oficial do MI5 era Graham Seymour.
Keller assentiu. Então, explicou que Seymour, no final dos anos oitenta, estava insatisfeito com o nível das informações que estava recebendo dos informantes do MI5 na Irlanda do Norte. Ele queria inserir o próprio agente nas fileiras do IRA de Belfast Oeste para informar sobre os movimentos e associações de conhecidos comandantes e voluntários do IRA. Não era um trabalho para um oficial comum do MI5. O agente teria de saber como se virar em um mundo onde um passo em falso, um olhar errado, poderia matar um homem. Keller se encontrou com Seymour em uma casa segura em Londres e aceitou a missão. Dois meses depois, ele estava de volta a Belfast fingindo ser Michael Connelly, um católico. Alugou um apartamento de dois quartos na Divis Tower, em Falls Road. Seu vizinho era membro da brigada do IRA de Belfast Oeste. O exército britânico mantinha um posto de observação no telhado e usava os dois últimos andares como escritório e depósito. Quando os conflitos estavam no auge, os soldados entravam e saíam de helicóptero.
— Era uma loucura — disse Keller, balançando a cabeça devagar. — Loucura total.
Enquanto boa parte de Belfast Oeste estava desempregada e recebendo seguro-desemprego, Keller logo encontrou trabalho como entregador de uma lavanderia em Falls Road. O emprego permitia que se movesse livremente pela vizinhança e enclaves de Belfast Oeste sem levantar suspeitas, e dava acesso às casas e roupas de conhecidos membros do IRA. Era uma conquista impressionante, mas não foi por acaso. A lavanderia era propriedade da inteligência britânica, que a operava.
— Era uma das operações mais controladas — disse Keller. — Nem o primeiro-ministro sabia dela. Tínhamos uma pequena frota de vans, equipamento de escuta e um laboratório nos fundos. Testávamos toda roupa que chegava em nossas mãos buscando traços de explosivos. E, se tínhamos um positivo, colocávamos o dono e sua casa sob vigilância.
Gradualmente, Keller começou a fazer amizades com membros da disfuncional comunidade ao redor dele. Seu vizinho do IRA o convidou para jantar, e, uma vez, em um bar do IRA em Falls Road, um recrutador fez um convite não tão sutil, o qual Keller recusou educadamente. Ele ia regularmente à missa na igreja de S. Paul — como parte de seu treinamento, tinha aprendido os rituais e doutrinas do catolicismo — e, em um domingo úmido em Lent, conheceu uma linda jovem chamada Elizabeth Conlin. Seu pai era Ronnie Conlin, um comandante de campo do IRA em Ballymurphy.
— Um personagem sério— disse Gabriel.
— O mais sério.
— Você decidiu investir na relação.
— Não tive muita escolha na questão.
— Estava apaixonado por ela.
Keller assentiu lentamente.
— Como você se encontrava com ela?
— Costumava entrar escondido em seu quarto. Ela pendurava um lenço violeta na janela se fosse seguro. Era uma casa com terraço e paredes finas como papel. Eu conseguia ouvir o pai dela no quarto ao lado. Era...
— Uma loucura — disse Gabriel.
Keller não falou nada.
— Graham sabia?
— Claro.
— Contou a ele?
— Não precisei. Eu estava sob constante vigilância do MI5 e da SAS.
— Presumo que ele mandou você romper com ela.
— Em termos bem diretos.
— O que você fez?
— Concordei — respondeu Keller. — Com uma condição.
— Quis vê-la uma última vez.
Keller ficou em silêncio e, quando finalmente falou, sua voz tinha mudado. Usava as vogais alongadas e os toques duros da classe trabalhadora de Belfast Oeste. Ele não era mais Christopher Keller, era Michael Connelly, o entregador de roupas de Falls Road que tinha se apaixonado pela linda filha de um chefe do IRA de Ballymurphy. Em sua última noite em Ulster, ele deixou a van em Springfield Road e escalou o muro do jardim da casa de Conlin. O lenço violeta estava pendurado no lugar de sempre, mas o quarto de Elizabeth estava escuro. Keller levantou a janela sem fazer barulho, abriu as cortinas e entrou. Instantaneamente, recebeu um golpe na cabeça, como se fosse a ponta de um machado e começou a perder a consciência. A última coisa que se lembra antes de desmaiar foi o rosto de Ronnie Conlin.
— Estava falando comigo — disse Keller. — Estava dizendo que eu ia morrer.
Keller foi amarrado, amordaçado, encapuzado e enfiado no porta-malas de um carro. Foi levado dos bairros pobres de Belfast Oeste a uma fazenda em Armagh. Lá foi para um celeiro e apanhou muito. Então, foi amarrado a uma cadeira para ser interrogado e julgado. Quatro homens da famosa brigada localdo IRA seriam os jurados. Eamon Quinn seria o promotor, juiz e executor. Ele planejava realizar a sentença com uma faca que tinha roubado de um soldado britânico morto. Quinn era o melhor fabricante de bombas do IRA, um mestre na técnica mas, quando se tratava de assassinato pessoal, ele preferia a faca.
— Ele me falou que se eu cooperasse, minha morte seria razoável. Se não, ele iria me cortar em pedaços.
— O que aconteceu?
— Tive sorte — falou Keller. — Fizeram um péssimo trabalho com as cordas e eu os cortei em pedaços. Foi tão rápido que nem souberam o que os acertou.
— Quantos?
— Dois — respondeu Keller. — Então, consegui pegar uma das armas e atirei em outros dois.
— O que aconteceu com Quinn?
— Quinn sabiamente fugiu. Ele viveu para lutar outro dia.
Na manhã seguinte, o exército britânico anunciou que quatro membros da Brigada de South Armagh tinham sido mortos em uma operação na remota casa segura do IRA. A contagem não fazia nenhuma menção a um oficial da SAS disfarçado chamado Christopher Keller. Nem mencionou um serviço de lavanderia em Falls Road secretamente dirigido pela inteligência britânica. Keller foi levado de volta à Inglaterra para tratamento; a lavanderia foi fechada discretamente. Foi uma grande derrota para os esforços britânicos na Irlanda do Norte.
— E Elizabeth? — perguntou Gabriel.
— Encontraram seu corpo dois dias depois. Rasparam seu cabelo. A garganta foi cortada.
— Quem fez isso?
— Ouvi dizer que foi o Quinn — disse Keller. — Aparentemente, ele insistiu em fazer isso.
Depois de sair do hospital, Keller voltou ao quartel-general da SAS em Hereford para descansar e se recuperar. Ele fazia longas e autopunitivas caminhadas em Brecon Beacons e treinava novos recrutas na arte de matar em silêncio, mas era claro a seus superiores que a experiência em Belfast tinha mudado sua cabeça. Então, em agosto de 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuait. Keller voltou a seu antigo esquadrão Sabre e foi deslocado para o Oriente Médio. Na noite de 28 de janeiro de 1991, enquanto procurava os lançadores de mísseis Scud no deserto ocidental do Iraque, sua unidade foi atacada por uma aeronave da coalizão em um trágico caso de fogo amigo. Só Keller sobreviveu. Com ódio, ele abandonou o campo de batalha e, disfarçado de árabe, cruzou a fronteira para a Síria. De lá, caminhou para o ocidente cruzando Turquia, Grécia e Itália, até finalmente terminar na costa da Córsega, onde caiu nos braços de Dom Anton Orsati.
— Já procurou por ele?
— Quinn?
Gabriel assentiu.
— Dom proibiu.
— Mas isso não o impediu, não é?
— Digamos que segui sua carreira de perto. Sabia que tinha ido com o IRA Autêntico depois dos acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e sabia que foi ele quem plantou aquela bomba no meio de Omagh.
— E quando fugiu da Irlanda?
— Fiz perguntas educadas sobre seu paradeiro. Perguntas mal-educadas, também.
— Alguma delas deu resultado?
— Certamente.
— Mas você nunca tentou matá-lo?
— Não — falou Keller, balançando a cabeça. — Dom proibiu.
— Mas agora você tem uma chance.
— Com a bênção do Serviço Secreto de Sua Majestade. — Keller deu um breve sorriso. — Bastante irônico, não acha?
— Como assim?
— Quinn me tirou do jogo e agora está me levando de volta. — Keller olhou sério para Gabriel por um momento. — Tem certeza de que quer se envolver nisso?
— Por que não iria querer?
— Porque é pessoal — respondeu Keller. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
— Eu me envolvo em coisas pessoais o tempo todo.
— Confusas, também. — As sombras estavam tomando o terraço. O vento fazia ondas na superfície da piscina de Keller. — E se eu fizer isso? — ele perguntou. — E aí?
— Graham vai dar a você uma nova identidade britânica. Um emprego, também. — Gabriel parou.— Se estiver interessado.
— Um emprego fazendo o quê?
— Use sua imaginação.
Keller franziu a testa.
— O que você faria se fosse eu?
— Aceitaria a proposta.
— E desistir de tudo isso?
— Não é real, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava uma hora.
— O que vou dizer ao Dom? — perguntou Keller.
— Infelizmente não posso ajudá-lo com isso.
— Por quê?
— Porque é pessoal — respondeu Gabriel. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
Havia uma balsa partindo de Nice às seis, àquela tarde. Gabriel embarcou às cinco e meia, bebeu um café na cafeteria e foi até o deque de observação para esperar por Keller. Às 17h45 ele não tinha chegado. Mais cinco minutos se passaram sem sinal dele. Então, Gabriel viu um Renault maltratado entrando no estacionamento e um momento depois viu Keller subindo a rampa correndo com uma mochila pendurada nos poderosos ombros. Eles ficaram lado a lado na grade olhando as luzes de Ajaccio diminuindo ao longe. O gentil vento noturno tinha cheiro de macchia, a densa vegetação rasteira de quermes, alecrim e lavanda que cobria boa parte da ilha. Keller respirou fundo antes de acender um cigarro. A brisa carregou sua primeira exalação de fumaça sobre o rosto de Gabriel.
— Você precisa?
Keller não falou nada.
— Estava começando a pensar que tinha mudado de ideia.
— E deixar que você vá sozinho atrás do Quinn?
— Não acha que consigo fazer isso?
— Eu falei isso?
Keller fumou em silêncio por um momento.
— O que o Dom achou?
— Ele recitou muitos provérbios corsos sobre a ingratidão dos filhos. E depois concordou em me deixar partir.
As luzes da ilha estavam ficando mais opacas; o vento tinha cheiro apenas de mar. Keller pegou seu casaco, tirou um talismã corso e entregou a Gabriel.
— Um presente da signadora.
— Não acreditamos nessas coisas.
— Eu aceitaria se fosse você. A velha sugeriu que a coisa poderia ficar feia.
— Feia?
Keller não falou nada. Gabriel aceitou o talismã e o colocou no pescoço. Uma a uma, as luzes da ilha desapareceram. Até a última.
12
DUBLIN
TECNICAMENTE, A OPERAÇÃO EM que Gabriel e Christopher embarcaram no dia seguinte era um trabalho conjunto entre o Escritório e o MI6. O papel britânico era tão secreto, no entanto, que só Graham Seymour sabia dele. Portanto, foi o Escritório que fez os arranjos de viagem e alugou o sedan Škoda que estava esperando no estacionamento do aeroporto de Dublin. Gabriel revisou a parte de baixo antes de entrar no veículo. Keller sentou no banco do passageiro e, franzindo a testa, fechou a porta.
— Não dava para ter conseguido algo melhor que um Škoda?
— É um dos carros mais populares da Irlanda, o que quer dizer que não vai se destacar.
— E as armas?
— Abra o porta-luvas.
Keller abriu. Dentro havia uma Beretta 9mm, carregada, com um pente extra e um silenciador.
— Só uma?
— Não estamos entrando em uma guerra, Christopher.
— É o que você acha.
Keller fechou o porta-luvas, Gabriel enfiou a chave na ignição. O motor hesitou, tossiu e finalmente ligou.
— Ainda acha que deveriam ter alugado um Škoda? — perguntou Keller.
Gabriel colocou o carro em movimento.
— Por onde começamos?
— Ballyfermot.
— Bally onde?
Keller apontou para a placa de saída e disse:
— Bally, para aquele lado.
A República da Irlanda já foi uma terra quase sem crimes violentos. Até o final dos anos sessenta, a força policial da Irlanda, a Garda Síochána, só tinha uns sete mil policiais, e em Dublin havia somente sete carros de patrulha. A maioria dos crimes era leve: arrombamento, batedor de carteira, um ou outro roubo mais violento. E, quando havia violência envolvida, era normalmente alimentada por paixão, álcool ou uma combinação dos dois.
Isso mudou com o início dos conflitos na fronteira com a Irlanda do Norte. Desesperados por dinheiro e armas para lutar contra o exército britânico, o IRA Provisório começou a roubar bancos no sul. Os ladrões pequenos dos bairros pobres de Dublin aprenderam com as táticas dos provos, como eram conhecidos os membros do IRA, e começaram a realizar assaltos à mão armada. A Gardaí, com poucos homens e em situação inferior, foi rapidamente superada pelas ameaças do IRA e dos criminosos locais. Em 1970, a Irlanda não era mais tranquila. Era uma terra de ninguém, onde criminosos e revolucionários operavam com impunidade.
Em 1979, dois eventos improváveis longe da costa da Irlanda aceleraram a decadência do país em um caos social. O primeiro foi a revolução iraniana. O segundo foi a invasão soviética do Afeganistão. Os dois resultaram em uma invasão de heroína barata nas ruas das cidades da Europa ocidental. A droga entrou nos bairros pobres do sul de Dublin em 1980. Um ano depois arrasava os guetos do lado norte. Vidas foram destruídas, famílias foram abaladas e as taxas de crimes aumentaram quando viciados desesperados tentavam alimentar seu hábito. Comunidades inteiras se tornaram terras destroçadas distópicas, onde junkies se drogavam abertamente nas ruas e os traficantes eram reis.
O milagre econômico dos anos noventa transformou a Irlanda de um dos países mais pobres da Europa em um dos mais ricos mas, com a prosperidade, veio um apetite ainda maior por drogas, especialmente cocaína e ecstasy. Os velhos chefes criminosos abriram caminho a uma nova geração de líderes que realizaram guerras sangrentas para dominar territórios e porções do mercado. Onde os mafiosos irlandeses antes usavam armas de cano serrado para impor a vontade deles, os novos membros da gangue se armavam com AK-47 e outros armamentos pesados. Corpos cheios de balas começaram a aparecer nas ruas dos bairros pobres. De acordo com uma estimativa da Garda, em 2012, 25 gangues de tráfico violentas faziam seu comércio mortal na Irlanda. Várias tinham estabelecido conexões lucrativas com grupos criminosos organizados do exterior, inclusive remanescentes do IRA Autêntico.
— Achei que eram contra as drogas — disse Gabriel.
— Isso pode ser verdade lá em cima — disse Keller, apontando para o norte —, mas aqui embaixo, na República, a história é outra. No fundo, o IRA Autêntico é outra gangue de traficantes. Às vezes negociam diretamente. Às vezes gerenciam redes de proteção. Principalmente, tiram dinheiro de traficantes.
— O que LiamWalsh faz?
— Um pouco de tudo.
A chuva embaçava os faróis de trânsito da hora do rush à noite. O tráfego estava mais leve do que Gabriel tinha esperado. Ele achou que era a economia. A Irlanda tinha caído mais do que todos. Até os traficantes estavam com problemas.
— Walsh era republicano em suas veias — Keller estava falando. — Seu pai era do IRA, assim como seus tios e irmãos. Ele foi com o IRA Autêntico depois da grande divisão, e quando a guerra efetivamente terminou, ele veio a Dublin ganhar sua fortuna no negócio das drogas.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Omagh. — Keller apontou para a direita e disse: — Você tem que virar aqui.
Gabriel guiou o carro até Kennelsfort Road. Havia casas de dois andares com terraços dos dois lados da rua. Não era exatamente o milagre irlandês, mas não era uma favela também.
— Aqui é Ballyfermot?
— Palmerstown.
— Para que lado?
Com um movimento de mão, Keller instruiu Gabriel a continuar em frente. Eles saíram em um parque industrial de armazéns cinzentos baixos e de repente estavam em Ballyfermot Road. Após um tempo, chegaram a uma série de pequenas lojas tristonhas: um outlet, uma loja de roupa de cama, uma ótica, uma lanchonete. Do outro lado da rua havia um supermercado Tesco e próximo a ele havia uma casa de apostas. Quatro homens de casacos de couro preto cuidavam da entrada. Liam Walsh era o menor do grupo. Estava fumando um cigarro; estavam todos fumando. Gabriel entrou no estacionamento do Tesco e ocupou uma vaga. Tinha uma clara visão da casa de apostas.
— Talvez você devesse deixar o motor ligado — falou Keller.
— Por quê?
— Poderia não voltar a ligar.
Gabriel desligou o motor e apagou o farol. A chuva batia forte contra o vidro. Depois de uns segundos, Liam Walsh desapareceu em um caleidoscópio borrado de luz. Então, Gabriel ligou o limpador de para-brisa e Walsh reapareceu. Uma comprida Mercedes preta tinha parado em frente à casa de apostas. Era a única Mercedes na rua, provavelmente a única no bairro. Walsh estava conversando com o motorista pela janela aberta.
— Parece um verdadeiro pilar da comunidade — falou Gabriel em voz baixa.
— É como gosta de se mostrar.
— Então por que está parado em frente a uma casa de apostas?
— Quer que as outras gangues saibam que ele está cuidando da área. Um rival tentou matá-lo nesse mesmo lugar no ano passado. Se você olhar de perto, consegue ver os buracos das balas na parede.
A Mercedes foi embora. Liam Walsh voltou a seu abrigo na entrada.
— Quem são esses rapazes de aparência tão boa com ele?
— Os dois à esquerda são os guarda-costas dele. O outro é o seu segundo em comando.
— IRA Autêntico?
— Até os ossos.
— Armados?
— Certamente.
— Então o que você propõe?
— Vamos esperar que ele se mova.
— Aqui?
Keller balançou a cabeça.
— Se nos virem sentados em um carro estacionado, vão achar que somos da Garda ou membros de uma gangue rival. E, se acharem isso, estamos mortos.
— Então talvez não devêssemos nos sentar aqui.
Keller apontou para a lanchonete do outro lado da rua e saiu. Gabriel o seguiu. Eles caminharam lado a lado na beira da rua, as mãos nos bolsos, cabeças abaixadas por causa da chuva, esperando para atravessar.
— Estão olhando para nós — disse Keller.
— Você notou isso também?
— É difícil não notar.
— Walsh conhece seu rosto?
— Conhece agora.
O trânsito parou; eles cruzaram a estrada e foram até a entrada da lanchonete.
— É melhor você não falar — disse Keller. — Esse não é o tipo de bairro que recebe muitos visitantes de terras exóticas.
— Eu falo um inglês perfeito.
— Esse é o problema.
Keller abriu a porta e entrou primeiro. Era uma sala apertada com um piso de linóleo quebrado e paredes descascando. O ar era pesado com gordura, amido e um cheiro de algodão molhado. Havia uma garota bonita atrás do balcão e uma mesa vazia encostada na janela. Gabriel se sentou de costas para a rua enquanto Keller foi até o balcão e fez seu pedido comum sotaque de alguém do sul de Dublin.
— Muito impressionante — murmurou Gabriel quando Keller se sentou. — Por um minuto pensei que você fosse começar a cantar When Irish Eyes Are Smiling.
— Para aquela garota linda, sou tão irlandês quanto ela.
— É — falou Gabriel, duvidando. — E eu sou o Oscar Wilde.
— Não acha que posso fingir ser irlandês?
— Talvez um que passou umas férias muito longas sob o sol.
— Essa é a minha história.
— Onde você estava?
— Maiorca — respondeu Keller. — Os irlandeses adoram Maiorca, especialmente os mafiosos irlandeses.
Gabriel olhou ao redor do interior do café.
— Eu imagino por quê.
A garota foi até à mesa e depositou um prato de batatas e dois copos de isopor com chá e leite. Quando ela estava se afastando, a porta se abriu e dois homens muito pálidos de vinte e poucos anos entraram. Uma mulher com um casaco úmido e sapatos velhos entrou um momento depois. Os dois homens se sentaram a uma mesa perto de Keller e Gabriel e começaram a falar em um dialeto que Gabriel achou quase impenetrável. A mulher se sentou no fundo da lanchonete. Ela só pediu chá e estava lendo um livro bastante usado.
— O que está acontecendo do lado de fora? — perguntou Gabriel.
— Quatro homens parados na frente de uma casa de apostas. Um homem parece que já está cansado da chuva.
— Onde ele mora?
— Não muito longe — respondeu Keller. — Gosta de morar entre o povo.
Gabriel bebeu um pouco do chá e fez uma careta. Keller empurrou o prato de batatas.
— Coma um pouco.
— Não.
— Por que não?
— Quero viver o suficiente para ver meus filhos nascerem.
— Boa ideia.
Keller sorriu, depois acrescentou:
— Homens da sua idade realmente deveriam se preocupar com o que comem.
— Olha quem fala.
— Quantos anos você tem, exatamente?
— Não consigo me lembrar.
— Problemas de perda de memória?
Gabriel bebeu um pouco do chá. Keller mordiscou as batatas.
— Não são tão boas quanto as fritas do sul da França — falou.
— Pegou o recibo?
— Para que eu precisaria de recibo?
— Ouvi que os contadores do MI6 são muito exigentes.
— Não vamos continuar com isso do MI6 ainda. Não tomei nenhuma decisão.
— Às vezes nossas melhores decisões acontecem sozinhas.
— Você parece o Dom. — Keller comeu outra batata. — É verdade isso dos contadores do MI6?
— Só estava puxando conversa.
— São duros?
— Os piores.
— Mas não com você.
— Não muito.
— Então por que não conseguiram algo melhor que um Škoda para você?
— O Škoda está ótimo.
— Espero que ele caiba no porta-malas.
— Podemos bater a porta na cabeça dele algumas vezes se for preciso.
— E a casa segura?
— Tenho certeza de que é adorável, Christopher.
Keller não parecia convencido. Pegou outra batata, pensou melhor e jogou-a no prato.
— O que está acontecendo atrás de mim? — ele perguntou.
— Dois caras estão falando um idioma desconhecido. Uma mulher está lendo.
— O que está lendo?
— Acho que é John Banville.
Keller assentiu, pensativo, os olhos na Ballyfermot Road.
— O que você está vendo? — perguntou Gabriel.
— Um homem parado em frente a uma casa de apostas. Três homens entrando em um carro.
— Que tipo de carro?
— Mercedes preta.
— Melhor que um Škoda.
— Muito melhor.
— Então, o que vamos fazer?
— Deixamos as batatas e levamos o chá.
— Quando?
Keller se levantou.
13
BALLYFERMOT, DUBLIN
ELES JOGARAM OS COPOS de isopor em uma lata de lixo no estacionamento do Tesco e subiram no Škoda. Dessa vez, Keller dirigiu; era sua área. Ele entrou na Ballyfermot Road e cruzou o trânsito até que houvesse apenas dois carros separando-os da Mercedes. Dirigia calmamente, uma mão se equilibrando no alto do volante, a outra descansando no câmbio automático. Os olhos estavam fixos à frente. Gabriel estava controlando o espelho lateral e estava olhando o trânsito atrás deles.
— Então? — perguntou Keller.
— Você é muito bom, Christopher. Vai ser um ótimo agente do MI6.
— Eu estava perguntando se estávamos sendo seguidos.
— Não estamos.
Keller tirou a mão do câmbio e a usou para tirar um cigarro do bolso do casaco. Gabriel bateu no aviso preto e amarelo no visor e disse:
— É proibido fumar neste carro.
Keller acendeu o cigarro. Gabriel baixou o vidro uns centímetros para ventilar a fumaça.
— Estão parando — ele disse.
— Eu vi.
A Mercedes entrou em um estacionamento na frente de uma banca de jornal. Por alguns segundos ninguém saiu. Então Liam Walsh desceu da porta de trás do lado do passageiro e entrou na loja. Keller dirigiu mais uns cinquenta metros e estacionou em frente a uma pizzaria. Apagou as luzes, mas deixou o motor ligado.
— Acho que ele precisava pegar umas coisas a caminho de casa.
— Como o quê?
— Um Herald— sugeriu Keller.
— Ninguém mais lê jornais, Christopher. Não ouviu falar?
Keller olhou para a pizzaria.
— Talvez você devesse entrar e comprar uma pizza.
— Como eu peço sem falar o idioma?
— Vai pensar em algo.
— Qual sabor de pizza você quer?
— Vá — respondeu Keller.
Gabriel desceu do carro e entrou no lugar. Havia três pessoas na fila na frente dele. Ele ficou ali esperando em meio ao cheiro de queijo quente e fermento. Então, ouviu uma breve buzinada e, virando-se, viu a Mercedes preta entrando rápido na Ballyfermot Road. Gabriel saiu e entrou no banco do passageiro. Keller deu a volta, entrou na rua e acelerou lentamente.
— Ele comprou algo? — perguntou Gabriel.
— Uns jornais e um maço de Winston.
— Como ele estava quando saiu?
— Como se realmente não precisasse de jornal ou cigarro.
— Imagino que a Garda o vigia regularmente?
— Espero que sim.
— O que significa que está acostumado a ser seguido de vez em quando por homens em carros comuns.
— Eu pensaria isso.
— Está virando — falou Gabriel.
— Eu vi.
O carro entrou em uma rua escura de pequenas casas com terraço. Nenhum trânsito, nenhuma loja, nenhum lugar onde dois caras de fora poderiam ter algo a fazer. Keller parou no meio-fio e apagou os faróis. Cem metros à frente na rua, a Mercedes entrou em uma casa. As luzes do carro se apagaram. Quatro portas se abriram, quatro homens desceram.
— Casa de Walsh? — perguntou Gabriel.
Keller assentiu.
— Casado?
— Não é mais.
— Namorada?
— Pode ter.
— E um cachorro?
— Tem algum problema com cachorros?
Gabriel não respondeu. Em vez disso, ficou olhando os quatro homens se aproximarem da casa e desaparecerem pela porta da frente.
— O que fazemos agora? — ele perguntou.
— Acho que poderíamos passar os próximos dias esperando uma oportunidade melhor.
— Ou?
— Pegamos ele agora.
— Há quatro deles e dois nossos.
— Um — respondeu Keller. — Você não vai.
— Por que não?
— Porque o futuro chefe do Escritório não pode se envolver em algo assim. Além disso — acrescentou Keller, batendo na protuberância debaixo da jaqueta —, só temos uma arma.
— Quatro contra um — disse Gabriel depois de um momento. — Não é uma boa aposta.
— Na verdade, com meu histórico, eu gosto das minhas chances.
— Como você pretende fazer?
— Da mesma forma que costumávamos fazer na Irlanda do Norte — respondeu Keller. — Jogo de gente grande, regras de gente grande.
Keller desceu sem falar nada e fechou a porta sem fazer barulho. Gabriel passou uma perna sobre o console do centro e deslizou atrás do volante. Ele ligou o para-brisas e olhou Keller caminhando pela rua, as mãos no bolso do casaco, os ombros inclinados pelo vento. Verificou seu BlackBerry. Eram 20h27 em Dublin, 22h27 em Jerusalém. Pensou em sua linda esposa sentada sozinha no apartamento deles na rua Narkiss, e em seus dois filhos descansando confortavelmente no útero dela. E aqui estava ele em uma rua deserta no sul de Dublin, sentinela de outra vigília, esperando um amigo cobrar uma velha dívida. A chuva batia contra o vidro, a rua escura foi se enchendo de água. Gabriel ligou o para-brisa uma segunda vez e viu Keller passar por uma esfera de luz amarela. E, quando ligou pela terceira vez, Keller tinha desaparecido.
A casa estava localizada no número 48 da Rossmore Road. Seu exterior era cinzento, com uma janela de marcos brancos no térreo e outras duas no andar de cima. A entrada estreita tinha espaço suficiente para um carro. Ao lado da entrada havia um portão com um caminho e um pedaço de grama bordeada por uma sebe baixa. Era respeitável, exceto pelo homem que vivia ali.
Como todas as casas no final da rua, o número 48 tinha um quintal no fundo, que dava para os campos esportivos de uma escola católica para garotos. A entrada da escola virava a esquina em Le Fanu Road. O portão principal estava aberto; parecia que estava ocorrendo uma reunião na sala principal. Keller passou pelo portão sem ser notado e cruzou uma quadra marcada para diversos tipos de jogos. De repente, estava de volta à terrível escola em Surrey para onde seus pais o enviaram aos dez anos. Esperavam muito dele — uma boa família, um excelente estudante, um líder natural. Os garotos mais velhos nunca tocavam nele porque tinham medo. O diretor não usava castigos físicos contra ele porque secretamente o diretor também tinha medo.
Na beira da quadra havia uma fileira de árvores. Keller passou por baixo dos galhos secos e cruzou as quadras escuras. Junto ao lado norte havia um muro de aproximadamente dois metros de altura coberto de videiras. Além dele estavam os jardins de fundo das casas da Rossmore Road. Keller foi até o canto mais distante do campo e contou 57 passos precisamente. Então, silenciosamente, escalou o muro e pulou para o outro lado. Quando seus sapatos caíram sobre a terra úmida, tirou a Beretta com silenciador e apontou para a porta do fundo da casa. Havia luzes lá dentro; sombras se moviam contra as cortinas fechadas. Keller segurava a arma, vendo, ouvindo. Jogo de gente grande, ele pensou. Regras de gente grande.
Dez minutos depois das nove, o BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele o levou ao ouvido, escutou, e depois desligou. A chuva tinha dado lugar a uma névoa; Rossmore Road estava vazia de trânsito e pedestres. Dirigiu até a casa de número 48, estacionou na rua e desligou o motor. Novamente seu BlackBerry vibrou, mas dessa vez ele não atendeu. Em vez disso, tirou um par de luvas de borracha coloridas, desceu e abriu o porta-malas modesto. Dentro havia uma maleta deixada pelo mensageiro da Estação de Dublin. Gabriel a tirou e carregou até o jardim. A porta da frente abriu com seu toque; ele entrou e a fechou. Keller estava no hall de entrada, a Beretta em sua mão. O ar tinha cheiro de cordite e, levemente, de sangue. Era um cheiro muito familiar a Gabriel. Ele passou por Keller sem falar nada e entrou na sala de estar. Havia uma nuvem de fumaça no ar. Três homens, cada um com um buraco de bala no centro da testa, um quarto com um nariz quebrado e um queixo que parecia ter sido deslocado com um martelo. Gabriel se abaixou e viu se tinha pulso. Depois de ver que estava vivo, abriu a mala e começou a trabalhar.
A mala continha três rolos de fita adesiva grossa, uma dúzia de algemas flexíveis descartáveis, uma bolsa de nylon capaz de envolver um homem de 1,80m, um capuz preto, um agasalho azul e branco, duas mudas de roupa, um kit de primeiros socorros, fones de ouvido, sedativo, seringas, álcool e uma cópia do Corão. O Escritório se referia ao conteúdo da mala como pacote móvel do detido. Entre os agentes de campo veteranos, no entanto, era conhecido como um kit de viagem do terrorista.
Depois de determinar que Walsh não corria risco de morrer, Gabriel o mumificou com fita adesiva. Ele não se importou com as algemas de plástico; em questão de arte e restrição física, era um tradicionalista por natureza. Enquanto estava aplicando as últimas faixas de fita na boca e nos olhos de Walsh, o irlandês começou a recuperar a consciência. Gabriel aplicou uma dose do sedativo. Então, com a ajuda de Keller, colocou Walsh na sacola de lona e fechou o zíper.
A casa não tinha garagem, o que significava que não tinham escolha a não ser tirar Walsh pela porta da frente, à vista dos vizinhos. Gabriel encontrou a chave do Mercedes no corpo de um dos mortos. Moveu o carro para a rua e colocou o Škoda na entrada. Keller carregou Walsh para fora sozinho e o depositou no porta-malas aberto. Então subiu no banco do passageiro e deixou que Gabriel dirigisse. Foi o melhor. Na experiência de Gabriel, era pouco inteligente permitir que um homem que tinha acabado de matar três pessoas operasse um veículo motorizado.
— Você apagou as luzes?
Keller assentiu.
— E as portas?
— Estão trancadas.
Keller tirou o silenciador e o pente da Beretta e colocou tudo no porta-luvas. Gabriel saiu para a rua e começou o caminho de volta para Ballyfermot Road.
— Quantas balas você usou? — ele perguntou.
— Três — respondeu Keller.
— Quanto tempo antes que a Garda encontre os corpos?
— Não é com a Garda que deveríamos nos preocupar.
Keller jogou o cigarro na escuridão da rua. Gabriel viu faíscas explodindo pelo espelho.
— Como se sente? — ele perguntou.
— Como se nunca tivesse ido embora.
— Esse é o problema com a vingança, Christopher. Nunca faz a gente se sentir melhor.
— É verdade — disse Keller, acendendo outro cigarro. — E eu só estou começando.
14
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
A CASA ESTAVA NO MEIO da Doonen Road, no alto de uma colina com vista para as águas escuras do Salt Lake. Tinha três quartos, uma cozinha grande com utensílios modernos, uma sala de jantar formal, uma pequena biblioteca e um escritório, e um porão com paredes de pedra. O dono, um advogado de Dublin bem-sucedido, quis mil euros por uma semana. A Organização Interna tinha feito a proposta de mil e quinhentos por duas, e o advogado, que raramente recebia ofertas no inverno, aceitou. O dinheiro apareceu em sua conta bancária na manhã seguinte. Veio de algo chamado Taurus Global Entertainment, uma empresa de produção televisiva com sede na cidade suíça de Montreux. Falaram ao advogado que os dois homens que iam ficar em sua casa eram executivos da Taurus que estavam indo à Irlanda para trabalhar em um projeto que era de natureza delicada. Isso, pelo menos, era verdade.
A casa estava distante da Doonen Road por pelo menos uns cem metros. Havia um portão de alumínio frágil que devia ser aberto e fechado à mão e um caminho de pedras que subia pela colina atravessando a vegetação. No ponto mais alto da terra havia três árvores muito antigas derrubadas pelo vento que soprava do Atlântico norte e que se estreitava pela baía de Clifden. O vento era frio e sem remorso. Balançava as janelas da casa, agarrava as telhas e rondava os quartos sempre que uma porta se abria. O pequeno terraço era inabitável, uma terra de ninguém. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Doonen Road não era uma estrada de verdade, mas uma faixa estreita de asfalto, suficiente para um carro, com uma faixa de grama verde no centro. As pessoas de férias viajavam para lá ocasionalmente, mas ela servia basicamente como a porta dos fundos da vila de Clifden. Era uma cidade jovem pelos padrões irlandeses, fundada em 1814 por um dono de terras e xerife chamado John d’Arcy, que queria criar uma ilha de ordem dentro da violenta e sem lei Connemara. D’Arcy construiu um castelo para si e para os moradores da vila, uma linda cidade com ruas pavimentadas, praças e um par de igrejas com torres que podiam ser vistas de longe. O castelo agora estava em ruínas, mas a vila, que já tinha quase desaparecido por causa da Grande Fome, estava entre as mais vibrantes do oeste da Irlanda.
Um dos homens que estava na casa alugada, o menor dos dois, caminhava até a vila todos os dias, normalmente no final da manhã, vestindo um casaco verde-escuro, carregando uma mochila no ombro e usando um chapéu mole puxado sobre a testa. Ele comprava umas poucas coisas no supermercado e uma ou duas garrafas na Ferguson Fine Wines, italianos normalmente, às vezes franceses. E então, tendo comprado suas provisões, ele passeava pelas vitrines da Main Street com o ar de alguém preocupado com questões mais importantes. Em uma ocasião, ele entrou na Lavelle Art Gallery para dar uma olhada rápida no que tinham. O proprietário ia se lembrar depois que ele parecia conhecer muito sobre quadros e isso chamou sua atenção. Era difícil saber de onde era seu sotaque. Talvez alemão, talvez outra coisa. Não importava; para o povo de Connemara, todo mundo tinha sotaque.
No quarto dia, sua caminhada pela Main Street era mais superficial do que o normal. Ele entrou em apenas um lugar, na banca de jornal, e comprou quatro maços de cigarro norte-americano e uma cópia do The Independent. A primeira página estava cheia de notícias de Dublin, sobre três membros do IRA Autêntico que tinham sido encontrados mortos em uma casa em Ballyfermot. Outro homem estava desaparecido e supostamente tinha sido sequestrado. A Garda estava procurando por ele. Também os membros do IRA Autêntico.
— Gangue de traficantes — murmurou o homem atrás do balcão.
— Terrível — concordou o visitante com o sotaque que ninguém conseguia localizar.
Ele enfiou o jornal na mochila e, com alguma relutância, o cigarro. Aí caminhou de novo para a casa do advogado de Dublin, que, na realidade era odiado pelos residentes de Clifden. O outro homem, que tinha a pele curtida como couro, estava ouvindo atentamente as notícias do meio-dia na RTÉ.
— Estamos perto— foi tudo que ele disse.
— Quando?
— Talvez essa noite.
O menor dos dois homens foi até o terraço enquanto o outro fumava. Uma nuvem escura estava sobre Clifden e o vento parecia estar cheio de lascas. Cinco minutos foi tudo que ele aguentou. Então entrou, para a fumaça e a tensão da espera. Não sentiu vergonha. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Em toda sua carreira, Gabriel tinha tido o desprazer de conhecer vários terroristas: terroristas palestinos, egípcios, sauditas; terroristas motivados pela fé, motivados por uma perda; que tinham nascido nas piores favelas do mundo árabe; terroristas que tinham sido criados no conforto material do ocidente. Geralmente, ele imaginava o que esses homens poderiam ter conseguido se tivessem escolhido outro caminho. Muitos eram bastante inteligentes, e em seus olhos impiedosos, via curas de doenças nunca encontradas, softwares nunca criados, músicas nunca compostas e poemas nunca escritos. Liam Walsh, no entanto, não causou nenhuma impressão. Walsh era um assassino sem remorso ou boa educação, que não tinha ambição a não ser a destruição de vidas e propriedades. Em seu caso, uma carreira no terrorismo, até pelos reduzidos padrões dos republicanos irlandeses conservadores, era o melhor que ele poderia ter conseguido.
Ele não tinha medo, no entanto, e possuía uma obstinação natural que o tornava difícil de quebrar. Nas primeiras 48 horas foi deixado em total isolamento no frio do porão, olhos vendados, amordaçado, com fones de ouvido, imobilizado por fita adesiva. Não ofereceram comida, apenas água, que ele recusou. Keller o levou ao banheiro, mas suas necessidades eram mínimas por causa de sua dieta restritiva. Quando necessário, ele falava com Walsh com o sotaque de um protestante da classe trabalhadora de Belfast oriental. O irlandês não recebeu nenhuma oferta para sair de sua situação e não pediu nada. Tendo visto três de seus companheiros mortos num piscar de olhos, parecia resignado ao seu destino. Como a SAS, os terroristas e traficantes irlandeses jogavam com as regras de gente grande.
Na manhã do terceiro dia, louco de sede, ele aceitou um pouco de água à temperatura ambiente. Ao meio-dia bebeu chá com leite e açúcar, e à noite recebeu mais chá e uma única torrada. Foi então que Keller falou com ele pela primeira vez.
— Você está atolado em problemas, Liam — disse em seu sotaque de Belfast oriental. — E a única forma de sair é me contar o que quero saber.
— Quem é você? — perguntou Walsh com dor no queixo quebrado.
— Isso depende inteiramente de você — respondeu Keller. — Se falar comigo, serei seu melhor amigo no mundo. Se não, vai terminar como seus três amigos.
— O que quer saber?
— Omagh — foi tudo que Keller disse.
Na manhã do quarto dia, Keller tirou os fones do ouvido de Walsh e a mordaça de sua boca, falando sobre a situação em que se encontrava o irlandês agora. Keller afirmou que era membro de um pequeno grupo vigilante de protestantes procurando justiça pelas vítimas do terrorismo republicano. Sugeriu que tinha ligações com o Ulster Volunteer Force, o grupo paramilitar legalista que tinha matado pelo menos quinhentas pessoas, principalmente civis católicos romanos, durante o pior dos problemas na Irlanda do Norte. O UVF aceitou um cessar-fogo em 1994, mas seus murais, com imagens de homens mascarados e armados, ainda estavam nos muros dos bairros protestantes e nas cidades em Ulster. Muitos dos murais tinham o mesmo slogan: “Preparados para a paz, prontos para a guerra.” O mesmo poderia ser dito de Keller.
— Estou procurando quem montou a bomba — ele explicou. — Você sabe de que bomba estou falando, Liam. A bomba que matou 29 pessoas inocentes em Omagh. Você estava lá aquele dia. Estava no carro com ele.
— Não sei do que você está falando.
— Você estava lá, Liam — repetiu Keller. — E esteve em contato com ele depois que o movimento deu em merda. Ele veio aqui para Dublin. Você cuidou dele até que ficou complicado demais.
— Não é verdade. Nada disso é verdade.
— Ele voltou a circular, Liam. Conte-me onde posso encontrá-lo.
Walsh não falou nada por um tempo.
— E se eu contar? — ele perguntou finalmente.
— Vai passar algum tempo preso, um longo tempo, mas vai viver.
— Mentira — cuspiu Walsh.
— Não estamos interessados em você, Liam — respondeu Keller calmamente. — Só nele. Diga onde podemos encontrá-lo e vamos deixar você viver. Tente dar uma de esperto e vou matar você. E não vai ser uma bela bala na cabeça. Vai doer, Liam. Vai doer muito.
Naquela tarde, uma tempestade caiu em toda Connemara. Gabriel se sentou ao lado do fogo lendo um livro de Fitzgerald enquanto Keller dirigia pela região procurando atividades incomuns da Garda. Liam Walsh permaneceu isolado no porão, amarrado, amordaçado, com os olhos e os ouvidos cobertos. Ele não recebeu bebida ou comida. Naquela noite, estava tão fraco de fome e desidratação que Keller quase teve de carregá-lo ao banheiro.
— Quanto tempo? — perguntou Gabriel no jantar.
— Estamos perto— disse Keller.
— Foi o que você falou antes.
Keller ficou em silêncio.
— Tem algo que possamos fazer para acelerar as coisas? Gostaria de sair daqui antes que a Garda venha bater à porta.
— Ou o IRA Autêntico — acrescentou Keller.
— Então?
— Ele está imune à dor nesse ponto.
— E água?
— Água é sempre bom.
— Ele sabe?
— Ele sabe.
— Você precisa de ajuda?
— Não — falou Keller, se levantando. — É pessoal.
Quando Keller saiu, Gabriel foi até o terraço e ficou sob a chuva. Só demorou cinco minutos. Mesmo um homem duro como Liam Walsh não podia aguentar a água por muito tempo.
15
THAMES HOUSE, LONDRES
A CADA NOITE DE SEXTA-FEIRA, normalmente às seis horas, mas às vezes um pouco mais tarde se Londres ou o mundo estivesse em crise, Graham Seymour tomava uma bebida com Amanda Wallace, diretora-geral do MI5. Era, sem dúvida, sua reunião menos agradável da semana. Wallace era a antiga chefe de Seymour. Eles entraram no MI5 no mesmo ano e tinham avançado em suas carreiras de forma paralela; Seymour no departamento de contraterrorismo, Wallace no de contraespionagem. No final, foi Amanda quem venceu a corrida para a sala do DG. Mas agora, bastante inesperadamente e no fim de sua carreira, Seymour tinha recebido o melhor prêmio de todos. Amanda o odiava por isso, pois ele agora era o espião mais poderoso de Londres. Em silêncio, ela trabalhava para miná-lo sempre que podia.
Como Seymour, Amanda Wallace tinha espionagem em seu DNA. Sua mãe trabalhara muito na sala de arquivos do registro do MI5 durante a guerra e, ao se formar em Cambridge, Amanda nunca tinha considerado outra carreira a não ser na inteligência. A linhagem comum deles deveria tê-los tornado aliados. Em vez disso, Amanda tinha imediatamente colocado Seymour no papel de rival. Ele era o canalha bonitão para quem o sucesso tinha chegado muito facilmente e ela era a garota estranha, até tímida, que iria derrubá-lo. Eles se conheciam havia trinta anos e juntos tinham chegado aos dois postos mais importantes da inteligência britânica e, mesmo assim, a dinâmica básica do relacionamento deles nunca tinha mudado.
Na sexta-feira anterior, Amanda tinha ido a Vauxhall Cross, o que significava que sob as regras do relacionamento deles, era a vez de Seymour viajar. Ele não via isso como uma imposição; sempre gostava de voltar a Thames House. Seu Jaguar oficial entrou no estacionamento do subsolo às 17h55 e, dois minutos depois, o elevador de Amanda o deixou no andar mais alto. O corredor principal estava muito silencioso. Seymour supôs que a equipe sênior estava misturada com as tropas em um dos dois bares privativos do prédio. Como sempre, ele parou para dar uma olhada dentro de seu velho escritório. Miles Kent, seu sucessor como vice-diretor, estava olhando para o computador. Parecia que não dormia há uma semana.
— Como ela está? — perguntou Seymour, cauteloso.
— Brava e agitada. Mas é melhor você correr — acrescentou Kent. — Não deve deixar a rainha esperando.
Seymour continuou pelo corredor até a sala da DG. Um membro da equipe toda masculina de Amanda o cumprimentou na antessala e imediatamente abriu a porta do escritório dela. Estava parada contemplando uma janela que dava para o Parlamento. Virando-se, ela consultou o relógio. Amanda valorizava a pontualidade acima de todos os outros atributos.
— Graham — ela falou, tranquila, como se estivesse lendo o nome dele em um dos densos documentos de briefing que sua equipe sempre preparava antes de uma reunião importante. Então deu um sorriso eficiente. Parecia que tinha aprendido a fazer a expressão praticando em frente ao espelho. — Que bom que veio.
Uma bandeja com bebidas tinha sido deixada na longa e brilhante mesa de reuniões. Ela preparou um gim-tônica para Seymour e, para si mesma, um martini seco com azeitonas e cebolas em conserva. Ela se orgulhava da habilidade para preparar sua bebida, uma habilidade que, em sua opinião, era obrigatória para um espião. Era uma de suas poucas qualidades amáveis.
— Saúde — disse Seymour, levantando o copo um centímetro, mas novamente Amanda só sorriu. A BBC estava sintonizada e silenciada em uma grande televisão de tela plana. Um oficial sênior da Garda Síochána estava parado em frente a uma pequena casa em Ballyfermot onde três homens, todos da gangue de traficantes do IRA Autêntico, tinham sido encontrados mortos.
— Bastante horrível — disse Amanda.
— Uma guerra por território, aparentemente — murmurou Seymour sobre o copo.
— Nossos amigos na Garda têm dúvidas sobre isso.
— Do que eles sabem?
— Nada, na verdade, e é por isso que estão preocupados. Os telefones normalmente tocam com muitos dedos-duros depois de um grande assassinato entre gangues, mas não dessa vez. E também — ela acrescentou — a forma como eles foram mortos. Normalmente, esses mafiosos destroem toda a sala com armas automáticas. Mas quem fez isso foi muito preciso. Três tiros, três corpos. A Garda está convencida de que estão lidando com profissionais.
— Têm alguma ideia de onde está Liam Walsh?
— Estão trabalhando com a suposição de que ele está em algum lugar da República, mas não têm ideia de onde. — Ela olhou para Seymour e levantou uma sobrancelha. — Ele não está amarrado em uma cadeira em alguma casa segura do MI6, está, Graham?
— Infelizmente, não.
Seymour olhou para a televisão. A BBC tinha passado para a próxima notícia. O primeiro-ministro Jonathan Lancaster estavam em Washington para uma reunião com o presidente norte-americano. Não tinha ido tão bem quanto ele esperava. A Grã-Bretanha não estava muito em voga em Washington no momento, pelo menos não na Casa Branca.
— Seu amigo — disse Amanda friamente.
— O presidente norte-americano?
— Jonathan.
— Seu também — respondeu Seymour.
— Minha relação com o primeiro-ministro é cordial — disse Amanda deliberadamente —, mas não chega perto da sua. Você e Jonathan são muito ligados.
Estava claro que Amanda queria falar mais sobre a conexão especial de Seymour com o primeiro-ministro. Em vez disso, serviu mais uma bebida para ele enquanto contava uma fofoca sobre a esposa de certo embaixador de um emirado árabe rico em petróleo. Seymour também contou sobre um relatório que tinha recebido de um homem com sotaque britânico que estava comprando mísseis antitanque portáteis no bazar de armas na Líbia. Depois disso, com o gelo sendo rompido, eles continuaram conversando do jeito que só dois espiões experientes poderiam. Compartilharam, revelaram, se aconselharam e em duas ocasiões chegaram a rir. Na verdade, por alguns minutos parecia que a rivalidade entre eles não existia. Eles conversaram sobre a situação no Iraque e na Síria, sobre a China, sobre a economia global e seu impacto na segurança e também sobre o presidente norte-americano, a quem culparam por muitos dos problemas do mundo. Em algum momento, conversaram sobre os russos. Naqueles dias, eles sempre conversavam.
— Os cyberguerreiros deles — disse Amanda — estão atacando nossas instituições financeiras com tudo que têm em suas pequenas caixinhas-surpresa. Também estão atrás de nossos sistemas governamentais e das redes de computadores das maiores empresas de defesa.
— Estão atrás de algo específico?
— Na verdade — ela respondeu —, eles não parecem estar procurando alguma coisa. Só estão tentando causar os maiores danos possíveis. Há uma imprudência como nunca tínhamos visto antes.
— Alguma mudança na postura deles aqui em Londres?
— D4 notou um aumento importante na atividade da Estação Londres. Não temos certeza do que isso significa, mas está claro que estão envolvidos em algo grande.
— Maior do que plantar uma russa ilegal na cama do primeiro-ministro?
Amanda levantou a sobrancelha e girou uma azeitona na borda do copo. O rosto da princesa apareceu na televisão. Sua família tinha anunciado a criação de um fundo para apoiar as causas de que ela gostava. Jonathan Lancaster tinha tido a permissão para fazer a primeira doação.
— Ouviu algo novo? — perguntou Amanda.
— Sobre a princesa?
Ela assentiu.
— Nada. Você?
Ela colocou sua bebida na mesa e olhou Seymour por um momento, em silêncio. Finalmente, perguntou:
— Por que não me contou que foi Eamon Quinn?
Amanda bateu com as unhas no braço da cadeira enquanto esperava uma resposta, o que nunca era um bom sinal. Seymour decidiu que não tinha escolha a não ser contar a verdade, ou pelo menos uma versão dela.
— Não contei — ele disse finalmente — porque não queria envolvê-la.
— Porque não confia em mim?
— Porque não quero que você seja contaminada de nenhuma forma.
— Por que eu seria contaminada? Afinal, Graham, você era o chefe do contraterrorismo na época da bomba de Omagh, não eu.
— E é por isso que você se tornou DG do Serviço de Segurança.
Ele fez uma pausa, depois acrescentou:
— E não eu.
Um silêncio pesado caiu entre eles. Seymour queria ir embora, mas não podia. A questão tinha de ter alguma resolução.
— Quinn estava agindo em nome do IRA Autêntico — perguntou Amanda finalmente — ou de alguém mais?
— Devemos ter uma resposta para isso em algumas horas.
— Assim que Liam Walsh contar?
Seymour não deu nenhuma resposta.
— É uma operação do MI6 autorizada?
— Por fora.
— Sua especialidade.— Disse Amanda, cáustica. — Acho que está trabalhando com os israelenses. Afinal, eles queriam tirar Quinn de circulação há muito tempo.
— E deveríamos ter aceitado a oferta.
— Quanto Jonathan sabe?
— Nada.
Ela xingou baixinho, algo que raramente fazia.
— Vou dar a você muita liberdade de ação nisso — ela falou, finalmente. — Não por você, entenda, mas pelo bem do Serviço de Segurança. Mas espero um aviso antecipado se sua operação entrar em solo britânico. E se algo explodir, vou garantir que seja o seu pescoço na guilhotina, não o meu. — Ela sorriu. — Para que tudo fique claro.
— Eu não teria esperado outra coisa.
— Muito bem, então. — Ela olhou para o relógio. — Infelizmente preciso ir, Graham. Próxima semana no seu escritório?
— Estarei esperando. — Seymour se levantou e esticou a mão. — Sempre um prazer, Amanda.
16
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
ELES O LEVARAM PARA cima e, com os olhos ainda vendados pela fita adesiva, permitiram que tomasse um banho pela primeira vez. Então colocaram o casaco azul e branco e deram um pouco de comida e um chá com leite para beber. Ajudou um pouco sua aparência. Com o rosto inchado, a pele branca e o aspecto geral muito magro, ele parecia um cadáver que se levantou do caixão.
Quando a refeição foi terminada, Keller repetiu seu conselho. O irlandês seria tratado bem desde que respondesse corretamente as perguntas de Keller e em uma voz normal. Se ele mentisse, gritasse ou fizesse alguma tentativa estúpida de fugir, voltaria ao porão e as condições de seu confinamento seriam muito menos agradáveis do que antes. Gabriel não falou, mas Walsh, com os sentidos auditivos ampliados pela escuridão e pelo medo, estava claramente consciente de sua presença. Gabriel preferia dessa forma. Ele não queria deixar Walsh com a impressão equivocada de que estava sob o controle de um único homem, mesmo se esse homem fosse um dos mais mortais do mundo.
Keller não tinha treinamento formal nas técnicas de interrogatório, mas como todos os bons interrogadores, estabeleceu em Walsh o hábito de responder perguntas corretamente e sem hesitar ou se evadir. Eram perguntas simples no começo, perguntas com respostas que eram facilmente verificáveis. Data de nascimento. Local de nascimento. Nomes dos pais e irmãos. As escolas que tinha estudado. Seu recrutamento pelo Exército Republicano Irlandês. Walsh declarou que tinha nascido em Ballybay, condado de Monaghan, em 16 de outubro de 1972. O lugar de seu nascimento era significativo, pois era a três quilômetros da Irlanda do Norte, na tensa região da fronteira. Seu nascimento era significativo, também; era o mesmo de Michael Collins, o líder revolucionário irlandês. Ele frequentou escolas católicas até os 18 anos, quando entrou no IRA. Seu recrutador não fez nenhuma tentativa de glamourizar a vida que Walsh tinha escolhido. Ele teria um salário ridículo e viveria sempre perto do perigo. O mais provável é que passasse vários anos na prisão. As chances eram grandes de que ele morreria violentamente.
— E o nome do recrutador? — perguntou Keller em seu sotaque de Ulster.
— Não tenho a liberdade de dizer.
— Agora você tem.
— Era Seamus McNeil — disse Walsh depois de um momento de hesitação. — Ele era...
— Membro da Brigada South Armagh — Keller cortou. — Foi morto em uma emboscada por soldados britânicos e enterrado com honras pelo IRA, que descanse em paz.
— Na verdade — disse Walsh —, ele morreu durante um tiroteio com a SAS.
— Só caubóis e gangsters fazem tiroteio — respondeu Keller. — Mas você estava a ponto de me contar sobre seu treinamento.
Foi o que Walsh fez. Ele foi mandado a um remoto campo na República para treinamento de armas leves e lições na manufatura e entrega de bombas. Disseram para parar de beber e evitar socializar com pessoas que não eram membros do IRA. Finalmente, seis meses depois de seu recrutamento, foi designado a uma unidade de serviço ativo de elite do IRA. Sua militância era junto com um mestre na confecção de bombas e planejador operacional chamado Eamon Quinn. Quinn era vários anos mais velho que Walsh e já era uma lenda. Nos anos oitenta, fora enviado a um campo no deserto da Líbia para treinamento. Mas, no final, disse Walsh, Quinn mais ensinou que aprendeu com os líbios. Na verdade, Eamon foi quem deu aos líbios o design para a bomba que derrubou o voo 103 da Pan Am em Lockerbie, na Escócia.
— Mentira — respondeu Keller.
— Se não quiser acreditar... — respondeu Walsh.
— Quem mais estava no campo com ele?
— Eram da OLP, principalmente, e alguns caras de uma das organizações que se separaram.
— Qual?
— Acredito que era a Frente Popular para a Libertação da Palestina.
— Você conhece os grupos terroristas da Palestina...
— Temos muito em comum com os palestinos.
— Por quê?
— Os dois estão ocupados por potências coloniais racistas.
Keller olhou para Gabriel, que estava olhando, impassível, para as mãos. Walsh, ainda vendado, parecia sentir a tensão na sala. Do lado de fora, o vento atacava as portas e janelas da casa, como se estivesse procurando um ponto de entrada.
— Onde estou? — perguntou Walsh.
— Inferno — respondeu Keller.
— O que tenho de fazer para sair?
— Continue falando.
— O que quer saber?
— Os detalhes da sua primeira operação.
— Foi em 1993.
— Que mês?
— Abril.
— Ulster ou Inglaterra?
— Inglaterra.
— Que cidade?
— A única cidade que importa.
— Londres?
— É.
— Bishopsgate?
Walsh assentiu. Bishopsgate...
O caminhão, um basculante Ford Iveco, roubado de Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, em março. Eles o levaram a um armazém alugado e o pintaram de azul. Então, Quinn colocou a bomba, um aparato de combustível/nitrato de amônia de uma tonelada que ele montou em South Armagh e levou escondido até a Inglaterra. Na manhã de 24 de abril, Walsh dirigiu o caminhão até Londres e estacionou em frente ao 99 da Bishospgate, uma torre de escritórios ocupada exclusivamente pelo HSBC. A explosão destruiu mais de quinhentas toneladas de vidro, derrubou uma igreja e matou um fotojornalista. O governo britânico respondeu cercando o distrito financeiro de Londres em um cordão de segurança chamado de “anel de aço”. Sem medo, o IRA voltou a Londres, em fevereiro de 1996, com outro caminhão-bomba criado e montado por Eamon Quinn. Dessa vez, o alvo era Canary Wharf, em Docklands. A explosão foi tão forte que destruiu janelas a oito quilômetros de distância. Os primeiros-ministros da Grã-Bretanha e da Irlanda rapidamente anunciaram a retomada das negociações de paz. Dezoito meses depois, em julho de 1997, o IRA aceitou o cessar-fogo.
— Foi um desastre do caralho — disse Walsh.
— E quando o IRA se dividiu mais tarde, naquele outono — disse Keller —, você foi com McKevitt e Bernadette Sands?
— Não. — respondeu Walsh. — Eu fui com Eamon Quinn.
Desde o princípio, Walsh continuou, o IRA Autêntico estava cheio de informantes do MI5 e da Crime e Segurança, uma divisão secreta da Garda Síochána que operava fora dos escritórios oficiais, no bairro de Phoenix Park, em Dublin. Mesmo assim, o grupo conseguiu realizar uma série de ataques de bomba, incluindo um devastador, em Banbridge em primeiro de agosto de 1998. A bomba pesava 225 quilos e estava escondida dentro de um Vauxhall Cavalier vermelho. Os avisos telefônicos codificados eram imprecisos — sem localização, sem tempo de detonação. Como resultado, 33 pessoas ficaram seriamente feridas, incluindo dois oficiais do Royal Ulster Constabulary. Pedaços do Vauxhall foram encontrados a mais de quinhentos metros de distância. Foi, disse Walsh, uma prévia das próximas atrações.
— Omagh — falou Keller, em voz baixa.
Walsh não falou nada.
— Você foi parte da equipe operacional?
Walsh assentiu.
— Que carro? — perguntou Keller. — Bomba, escolta ou fuga.
— Bomba.
— Motorista ou passageiro?
— Deveria ser o motorista, mas houve uma mudança no último minuto.
— Quem dirigiu?
Walsh hesitou, depois falou:
— Quinn.
— Por que a mudança?
— Ele falou que estava mais nervoso do que o costume antes de uma operação. Disse que dirigir ia ajudar a acalmar.
— Mas essa não era a verdadeira razão, era, Liam? Quinn queria ele mesmo resolver os problemas. Quinn queria colocar um prego no caixão do processo de paz.
— Uma bala na cabeça era como ele descrevia.
— Ele deveria deixar a bomba no tribunal?
— Esse era o plano.
— Ele procurou um lugar para estacionar?
— Não — disse Walsh, balançando a cabeça. — Foi direto para a Lower Market Street e estacionou em frente à S.D. Kells.
— Por que você não fez nada?
— Tentei convencê-lo, mas ele não me ouviu.
— Deveria ter tentado mais, Liam.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
— Onde estava o carro de fuga?
— No estacionamento do supermercado.
— E quando você entrou?
— A chamada foi para o outro lado da fronteira.
— Os tijolos estão na parede.
Walsh assentiu.
— Por que você não contou a ninguém que a bomba estava no lugar errado?
— Se eu tivesse aberto minha boca, Quinn teria me matado. Além disso — acrescentou Walsh —, já era muito tarde.
— E quando a bomba explodiu?
— A cidade virou uma merda.
A morte e a devastação causaram revolta nos dois lados da fronteira e no mundo todo. O IRA Autêntico divulgou um pedido de desculpas e anunciou um cessar-fogo, mas era tarde demais; o movimento tinha sofrido danos irreparáveis. Walsh se estabeleceu em Dublin para cuidar dos interesses do IRA Autêntico no crescente comércio de drogas. Quinn se escondeu.
— Onde?
— Espanha.
— O que ele fez?
— Ele viveu na praia até que o dinheiro acabou.
— E depois?
— Ele ligou para um velho amigo e disse que queria voltar ao jogo.
— Quem era o amigo?
Walsh hesitou, depois falou:
— Muamar Kadafi.
17
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
NÃO FOI REALMENTE KADAFI, Walsh acrescentou rapidamente. Foi alguém de confiança da inteligência líbia que Quinn tinha conhecido quando estava no campo de treinamento de terrorismo no deserto. Quinn pediu ajuda e o homem da inteligência líbia, depois de consultar o dirigente, concordou em permitir que Quinn fosse para o país. Ele vivia em uma casa protegida em um bairro chique de Trípoli, e fazia alguns trabalhos para os serviços de segurança da Líbia. Também era um visitante frequente do bunker subterrâneo de Kadafi, onde ia entreter o líder com histórias da luta contra os britânicos. Com o tempo, Kadafi dividiu Quinn com alguns de seus aliados regionais menos sofisticados. Ele desenvolveu contatos com cada vilão do continente: ditadores, senhores da guerra, mercenários, traficantes de diamantes, militantes islâmicos de todos os tipos. Também fez amizade com um negociante de armas que estava enviando armamentos e munição para toda a guerra civil e insurgência na África subsaariana. O traficante de armas concordou em mandar um pequeno container de AK-47 e explosivos plásticos para o IRA Autêntico. Walsh entregou a encomenda em Dublin.
— Lembra-se do nome do homem da inteligência líbia? — perguntou Keller.
— Ele se chamava Abu Muhammad.
Keller olhou para Gabriel, que assentiu lentamente.
— E o traficante de armas russo? — perguntou Keller.
— Era Ivan Kharkov, o que foi morto em Saint-Tropez alguns anos atrás.
— Tem certeza, Liam? Tem certeza de que era Ivan?
— Quem mais poderia ser? Ivan controlava o comércio de armas na África e ele matava qualquer um que tentasse fazer negócios lá.
— E a casa em Trípoli? Sabe onde era?
— Era em um bairro que chamavam de Al-Andalus.
— A rua?
— Via Canova. Número 27 — acrescentou Walsh. — Mas não perca seu tempo. Quinn deixou a Líbia há vários anos.
— O que aconteceu?
— Kadafi decidiu limpar sua barra. Desistiu dos programas de armas e disse aos norte-americanos e europeus que queria normalizar as relações. Tony Blair apertou a mão dele em uma tenda nos arredores de Trípoli. A BP ganhou o direito de explorar o solo líbio. Lembra?
— Eu lembro, Liam.
Aparentemente, falou Walsh, o MI6 sabia que Quinn estava vivendo secretamente em Trípoli. O chefe do MI6 exigiu que Kadafi expulsasse Quinn e ele concordou. Pediu a alguns de seus amigos na África, mas ninguém o aceitou. Então ligou para um de seus melhores amigos no mundo e a mudança foi organizada. Uma semana depois, Kadafi deu a Quinn uma cópia autografada de seu Livro verde e o colocou em um avião.
— E o amigo que concordou em receber Quinn?
— Três palpites — disse Walsh. — Os dois primeiros não contam.
O amigo era Hugo Chávez, presidente da Venezuela, aliada da Rússia, de Cuba e dos mulás de Teerã, um problema para os Estados Unidos. Chávez se via como líder do movimento revolucionário do mundo, e operava um campo de treinamento não tão secreto para terroristas e rebeldes esquerdistas na Ilha Margarita. Quinn logo se tornou uma atração. Trabalhava com todo mundo, do Sendero Luminoso ao Hamas e Hezbollah, compartilhando os truques mortais que tinha descoberto durante sua longa carreira de conflitos com os britânicos. Chávez, como Kadafi antes dele, tratou-o bem. Deu a ele uma casa perto do mar e um passaporte diplomático para viajar pelo mundo. Até deu a ele um novo rosto.
— Quem fez o trabalho?
— O médico de Kadafi.
— O brasileiro?
Walsh assentiu.
— Ele foi a Caracas e realizou a cirurgia em um hospital ali. Fez uma total reconstrução em Quinn. As velhas fotos são inúteis agora. Eu quase não consegui reconhecê-lo.
— Você o viu quando estava na Venezuela?
— Duas vezes.
— Foi até o campo?
— Nunca.
— Por que não?
— Não tinha autorização. Eu o vi no continente.
— Continue falando, Liam.
Um ano depois que Quinn chegou à Venezuela, um alto oficial do VEVAK, o serviço de inteligência iraniano, fez uma visita à ilha. Não estava ali para ver seus aliados do Hezbollah; estava para ver Quinn. O homem do VEVAK ficou na ilha por uma semana. E, quando voltou a Teerã, Quinn foi com ele.
— Por quê?
— Os iranianos queriam que Quinn construísse uma arma.
— Que tipo de arma?
— Uma arma que o Hezbollah poderia usar contra os tanques israelenses e veículos blindados no sul do Líbano.
Keller olhou para Gabriel, que parecia estar contemplando uma rachadura no teto. Walsh, sem saber a verdadeira identidade de sua pequena audiência, ainda estava falando.
— Os iranianos colocaram Quinn em uma fábrica de armas em um subúrbio de Teerã chamado Lavizan. Ele construiu uma versão de uma arma antitanque na qual estava trabalhando há anos. Criava uma bola de fogo que viajava a trezentos metros por segundo e envolvia o veículo avançando em chamas. O Hezbollah usou contra os israelenses no verão de 2006. Os tanques israelenses queimavam totalmente. Era como o Holocausto.
Keller novamente olhou de lado para Gabriel, que agora estava olhando diretamente para Liam Walsh.
— E quando ele terminou de criar a arma antitanque? — perguntou Keller.
— Ele foi ao Líbano para trabalhar diretamente com o Hezbollah.
— Que tipo de trabalho?
— Bombas em estradas, principalmente.
— E depois?
— Os iranianos o mandaram ao Iêmen para trabalhar com a Al-Qaeda, na península Arábica.
— Não sabia que havia ligações entre os iranianos e a Al-Qaeda.
— Quem contou isso?
— Onde ele está agora?
— Não tenho ideia.
— Você está mentindo, Liam.
— Não estou. Juro que não sei onde ele está ou para quem está trabalhando.
— Quando foi a última vez que você o viu?
— Há seis meses.
— Onde?
— Espanha.
— Espanha é um país grande, Liam.
— Foi no sul, em Sotogrande.
— Um playground irlandês.
— É como Dublin com sol.
— Onde se encontrou com ele?
— Em um pequeno hotel perto da marina. Muito tranquilo.
— O que ele queria?
— Queria me entregar um pacote.
— Que tipo de pacote?
— Dinheiro.
— Para quem era o dinheiro?
— A filha dele.
— Nunca soube que era casado.
— A maioria das pessoas não sabe.
— Onde está a filha?
— Em Belfast com a mãe.
— Continue falando, Liam.
Os serviços combinados de inteligência britânica tinham juntado uma montanha de material sobre a vida e os tempos de Eamon Quinn, mas em nenhum lugar desses volumosos arquivos havia qualquer menção a uma esposa ou uma filha. Não era acidente, disse Walsh. Quinn, o planejador operacional, tinha trabalhado muito para manter sua família em segredo. Walsh afirmava ter participado da cerimônia na qual os dois se casaram e depois ajudou a gerenciar as questões financeiras da família durante os anos em que Quinn estava vivendo no exterior como uma superestrela do terrorismo internacional. O pacote que Quinn deu a Walsh no hotel espanhol de Sotogrande continha cem mil libras em notas usadas. Foi o maior pagamento que Quinn já tinha confiado a seu velho amigo.
— Por que tanto dinheiro? — perguntou Keller.
— Ele disse que seria o último pagamento por um tempo.
— Falou o motivo?
— Não.
— E você não perguntou?
— Eu sei qual é o meu lugar!
— E você entregou o pagamento total?
— Cada libra.
— Não cobrou uma taxa pelo serviço? Afinal, Quinn nunca ficaria sabendo.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
Keller perguntou se Quinn já tinha vindo a Belfast para ver sua família.
— Nunca.
— E elas nunca viajaram para fora do país para vê-lo?
— Ele tinha medo de que os britânicos seguissem as duas. Além disso — acrescentou Walsh —, elas não o teriam reconhecido. Quinn tinha um novo rosto. Quinn era outra pessoa.
Isso os levou de volta ao assunto da aparência cirurgicamente alterada de Quinn. Gabriel e Keller tinham posse das imagens que os franceses haviam capturado em São Bartolomeu — umas poucas imagens do vídeo do aeroporto, umas poucas fotos capturadas de câmeras de segurança de lojas —, mas em nenhuma o rosto de Quinn estava claramente visível. Parecia um esfregão com cabelo escuro e barba, um homem para olhar uma vez e rapidamente esquecer. Liam Walsh tinha o poder de completar o retrato de Quinn, pois havia se sentado em frente a ele seis meses antes, em um quarto de hotel espanhol.
Gabriel tinha realizado esboços em circunstâncias desafiadoras, mas nunca com uma testemunha que estava vendada. Na verdade, ele tinha quase certeza de que não era possível. Keller explicou como o processo funcionaria. Havia outro homem presente, ele falou, um homem que era tão bom com esboços e lápis quanto ele era com os punhos e uma arma. Esse homem não era nem irlandês nem de Ulster. Walsh deveria descrever a aparência de Quinn para ele. Poderia olhar o esboço do homem, mas sob nenhuma circunstância poderia olhar para o rosto dele.
— E se eu olhar sem querer?
— Não olhe.
Keller retirou a fita adesiva dos olhos de Walsh. O irlandês piscou várias vezes. Então olhou diretamente para a figura sentada do lado oposto da mesa com papel e uma caixa de lápis coloridos.
— Você acabou de violar as regras — disse Gabriel, calmo.
— Quer saber como ele se parece ou não?
Gabriel pegou um lápis.
— Vamos começar com os olhos.
— São verdes — respondeu Walsh. — Como os seus.
Trabalharam sem parar pelas próximas duas horas. Walsh descreveu, Gabriel desenhou, Walsh corrigiu, Gabriel revisou. Finalmente, à meia-noite, o retrato estava completo. O cirurgião plástico brasileiro tinha feito um bom trabalho. Tinha dado a Quinn um rosto sem nenhuma característica memorável. Mesmo assim, era um rosto que Gabriel reconheceria se passasse por ele na rua.
Se Walsh estava curioso sobre a identidade do homem de olhos verdes atrás do papel, não mostrou. Nem resistiu quando Keller cobriu seus olhos com uma venda de fita adesiva ou quando Gabriel injetou sedativo suficiente para mantê-lo quieto por umas horas. Eles o colocaram inconsciente na sacola de lona e limparam cada item e superfície que algum deles tinha tocado na casa. Então, o enfiaram no porta-malas do Škoda e sentaram nos bancos da frente. Keller dirigiu. Era sua área.
As estradas estavam vazias, a chuva era esporádica, uma queda torrencial em um minuto, uma névoa com vento no seguinte. Keller fumava um cigarro atrás do outro e ouvia as notícias no rádio. Gabriel olhava pela janela para as colinas escuras e a vegetação balançando com o vento. Em seus pensamentos, no entanto, só estava Eamon Quinn. Desde que fugiu da Irlanda, Quinn tinha trabalhado com alguns dos homens mais perigosos do mundo. Era possível que estivesse agindo por consciência ou por crença política, mas Gabriel duvidava. Claramente, ele pensou, Quinn deixou tudo isso para trás. Ele tinha seguido o mesmo caminho que Carlos e Abu Nidal antes dele. Era um terrorista de aluguel, matando às ordens de seus poderosos patronos. Mas quem pagara Quinn? Quem o havia contratado para matar uma princesa? Gabriel tinha uma longa lista de potenciais suspeitos. Por enquanto, porém, encontrar Quinn teria prioridade. Liam Walsh tinha dado muitos lugares para procurar, nenhum mais promissor que uma casa em Belfast ocidental. Uma parte de Gabriel queria procurar em outro lugar, pois ele via esposas e filhos como fora do limite. Quinn, no entanto, não tinha deixado outra opção.
No lado oriental de Killary Harbor, Keller entrou em um caminho de terra e seguiu até um bosque denso. Parou em uma pequena clareira, apagou as luzes, desligou o motor e abriu o porta-malas. Gabriel ia abrir a porta, mas Keller o impediu.
— Fique aqui — foi tudo que disse antes de abrir sua porta e descer na chuva.
Nesse momento, Walsh tinha recuperado a consciência. Gabriel ouviu quando Keller explicava o que ia acontecer. Como Walsh tinha cooperado, ele seria liberado sem problemas. Sob nenhuma circunstância deveria discutir seu interrogatório com seus sócios. Nem deveria fazer qualquer tentativa de passar uma mensagem de aviso a Quinn. Se fizesse isso, disse Keller, ele era um homem morto.
— Entendido, Liam?
Gabriel ouviu Walsh murmurando algo afirmativo. Então, sentiu a parte de trás do Škoda levantar um pouco quando Keller ajudava o irlandês a se levantar. O porta-malas fechou; Walsh caminhou vendado até o bosque, Keller o guiava por um ombro. Por um momento havia somente o vento e a chuva. Então, deu para ver duas explosões de luz no fundo do bosque.
Keller logo reapareceu. Ele se sentou atrás do volante, ligou o carro e voltou para a estrada. Gabriel olhava pela janela quando notícias de um mundo complicado eram dadas pelo rádio. Dessa vez, ele não perguntou como Keller se sentia. Era pessoal. Ele fechou os olhos e dormiu. Quando acordou era de dia e estavam cruzando a fronteira com a Irlanda do Norte.
18
OMAGH, IRLANDA DO NORTE
A PRIMEIRA CIDADE DO OUTRO lado da fronteira era Aughnacloy. Keller parou para encher o tanque em uma linda igreja e depois seguiu a A5 para o norte até Omagh, assim como Quinn e Liam Walsh tinham feito na tarde de 15 de agosto de 1998. Eram poucos minutos depois das nove quando eles chegaram aos subúrbios ao sul da cidade; a chuva tinha parado e um sol forte brilhava entre as nuvens. Eles deixaram o carro perto do tribunal e caminharam até um café na Lower Market Street. Keller pediu um café da manhã irlandês tradicional, mas Gabriel só pediu chá e pão. Ele viu seu reflexo na janela e ficou estarrecido por sua aparência. Keller, ele decidiu, parecia pior. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto estava precisando muito de um barbeador. Em nenhum lugar de sua expressão, no entanto, havia qualquer sugestão de que tinha recentemente matado um homem em um bosque no condado de Mayo.
— Por que estamos aqui? — perguntou Gabriel enquanto olhava os primeiros pedestres da manhã, principalmente comerciantes, andando pelas calçadas.
— É um bom lugar.
— Já esteve aqui antes?
— Em várias ocasiões, para dizer a verdade.
— O que o trouxe a essa cidade?
— Eu costumava encontrar uma fonte aqui.
— IRA?
— Mais ou menos.
— Onde está a fonte agora?
— Cemitério de Greenhill.
— O que aconteceu?
Keller colocou a mão em forma de arma na testa.
— IRA? — perguntou Gabriel.
Keller deu de ombros.
— Mais ou menos.
A comida chegou. Keller devorou como se não tivesse comido durante vários dias, mas Gabriel pegou, sem apetite, seu pão. Do lado de fora, as nuvens estavam brincando com a luz. Era manhã, e logo em seguida, noite. Gabriel imaginou a rua cheia de vidro quebrado e partes de corpos humanos. Olhou para Keller e novamente perguntou por que eles tinham ido a Omagh.
— Caso você tenha se arrependido.
— Do quê?
Keller olhou para o que sobrava do seu café e falou:
— Liam Walsh.
Gabriel não falou nada. Do outro lado da rua, uma mulher com queimaduras em um braço e no rosto estava tentando abrir a porta de uma loja de roupas. Gabriel supôs que era uma das feridas. Foram mais de duzentos aquele dia: homens, mulheres, adolescentes, crianças. Os políticos e a imprensa sempre pareciam se concentrar nos mortos depois de uma bomba, mas os vivos eram logo esquecidos — aqueles com a pele queimada, os que tinham lembranças tão terríveis que nem toda a terapia ou medicação do mundo poderiam colocar suas mentes em paz. Essas eram as conquistas de um homem como Eamon Quinn, um homem que poderia fazer uma bola de fogo viajar a trezentos metros por segundo.
— Então? — perguntou Keller.
— Não — falou Gabriel. — Não estou arrependido.
Um Vauxhall vermelho parou no meio-fio em frente ao café e dois homens desceram. Gabriel sentiu o sangue subir até o rosto enquanto via os homens caminharem pela rua. Então, olhou para o carro como se estivesse esperando que o relógio no porta-luvas chegasse a zero.
— O que você teria feito? — ele perguntou de repente.
— Sobre o quê?
— Se soubesse onde estava a bomba naquele dia.
— Eu teria tentado avisá-los.
— E se a bomba estivesse a ponto de explodir? Teria arriscado sua vida?
A garçonete colocou a conta na mesa antes que Keller pudesse responder. Gabriel pagou a conta em dinheiro, enfiou o recibo no bolso e seguiu Keller até a rua. O tribunal estava à direita. Keller virou à esquerda e deixou Gabriel passar por lojas e vitrines coloridas, até uma torre de vidro azul-esverdeado na calçada, como uma lápide. Era o memorial para as vítimas da bomba de Omagh, colocado no ponto em que o carro tinha explodido. Gabriel e Keller ficaram ali por um momento, nenhum deles falava, enquanto os pedestres passavam. A maioria evitava os olhos deles. Do outro lado da rua, uma mulher com cabelo claro e óculos escuros levantou um smartphone, como se fosse tirar uma fotografia. Keller rapidamente se virou de costas. Assim como Gabriel.
— O que você teria feito, Christopher?
— Sobre a bomba?
Gabriel assentiu.
— Eu teria feito tudo que poderia para afastar as pessoas.
— Mesmo se você morresse?
— Mesmo se eu morresse.
— Como pode ter tanta certeza?
— Porque eu não poderia viver com essa culpa.
Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então, falou baixinho:
— Você vai ser um excelente agente do MI6, Christopher.
— Agentes do MI6 não matam terroristas e deixam seus corpos no meio do campo.
— Não — falou Gabriel. — Só os bons.
Olhou sobre o ombro. A mulher com o smartphone tinha ido embora.
Vinte e cinco anos tinham se passado desde que Christopher Keller tinha pisado em Belfast, e o centro da cidade tinha mudado muito em sua ausência. Na verdade, se não fosse por alguns pontos de referência como o Opera House e o hotel Europa, ele quase não a reconheceria. Não havia soldados britânicos patrulhando as ruas, nenhum posto de vigilância do exército no alto dos edifícios e nenhum medo no rosto dos pedestres caminhando pela Great Victoria. A geografia da cidade continuava dividida em linhas sectárias e ainda havia murais paramilitares em alguns dos bairros mais barra-pesada. Mas, na maior parte, as provas da longa e sangrenta guerra tinham sido apagadas. Belfast se promovia como uma meca do turismo. E por alguma razão, pensou Keller, os turistas realmente vinham.
Uma das principais atrações da cidade era uma cena musical celta muito vibrante que tinha reaparecido com o fim da guerra. A maioria dos bares e pubs que tinham música ao vivo estava localizada nas ruas ao redor da catedral de St. Anne. O Tommy O’Boyle’s ficava na Union, no térreo de uma velha fábrica vitoriana de tijolos vermelhos. Ainda não era meio-dia e a porta estava trancada. Keller apertou o botão do intercomunicador e rapidamente virou de costas para a câmera de segurança. Com o silêncio como resposta, ele apertou o botão uma segunda vez.
— Estamos fechados — disse uma voz.
— Eu sei ler — respondeu Keller em seu sotaque de Belfast.
— O que você quer?
— Falar com Billy Conway.
Alguns segundos de silêncio.
— Ele está ocupado.
— Tenho certeza de que terá tempo para mim.
— Qual é o seu nome?
— Michael Connelly.
— Não significa nada para mim.
— Diga a ele que eu trabalhava na lavanderia Sparkle Clean, na Road, no passado.
— O lugar fechou há anos.
— Estamos pensando em voltar a abrir.
Houve outro silêncio. Aí, a voz falou:
— Seja bonzinho e me deixa dar uma olhada na sua cara.
Keller hesitou antes de olhar para as lentes da câmera de segurança. Dez segundos depois a porta se abriu.
— Entre — disse a voz.
— Eu prefiro aqui fora.
— Como você quiser.
Havia uma pilha de jornais caída na calçada escura carregada por um vento frio que vinha do rio Lagan. Keller levantou a gola do casaco. Pensou no terraço ensolarado de sua casa na Córsega. Parecia algo de outro mundo para ele agora, um lugar que tinha visitado uma vez em sua infância. Ele não podia mais lembrar o aroma das colinas ou uma imagem clara do rosto do Dom. Era Christopher Keller de novo. Estava de volta ao jogo.
Ouviu um barulho e, virando-se, viu a porta do Tommy O’Boyle’s abrindo lentamente. Parado na abertura estreita havia um homem pequeno e magro com quase sessenta anos, uma barba grisalha no rosto e um pouco mais de cabelo na cabeça. Olhava como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, era verdade.
— Oi, Billy — disse Keller, amável. — É bom vê-lo de novo.
— Achei que estivesse morto.
— Estou morto. — Keller colocou uma mão no ombro do homem. — Vamos dar uma volta, Billy. Precisamos conversar.
19
GREAT VICTORIA STREET, BELFAST
ELES TINHAM IDO A um lugar onde ninguém iria reconhecê-los. Billy Conway sugeriu uma loja de donuts na Great Victoria; nenhum homem do IRA, ele falou, iria entrar ali. Ele pediu dois cafés grandes e se sentou em uma mesa vazia na parte de trás, perto da saída de incêndio. Era a doença de Belfast. Não se sente muito perto das janelas de vidro caso uma bomba exploda na rua. Sempre tenha uma rota de fuga se o tipo errado de pessoa entrar pela porta da frente. Keller se sentou de costas para o salão. Conway olhou para os outros enquanto dava um gole.
— Você deveria ter ligado antes — ele falou. — Quase tive um ataque do coração.
— Teria concordado em me ver?
— Não — falou Billy Conway. — Acho que não.
Keller sorriu.
— Você sempre foi honesto, Billy.
— Honesto demais. Ajudei você a colocar muitos homens no Labirinto. — Conway parou, depois acrescentou — Embaixo da terra, também.
— Isso foi há muito tempo.
— Não tanto — Conway olhou pelo interior da loja. — Eles me deram uma surra depois que você foi embora. Disseram que você entregou a eles meu nome naquela fazenda lá em Armagh.
— Não falei nada.
— Eu sei — disse Conway. — Não estaria vivo se você tivesse me entregado, estaria?
— Nenhuma chance, Billy.
Os olhos de Conway estavam se movendo de novo. Ele tinha ajudado a salvar incontáveis vidas e evitado milhões em danos nas propriedades. E sua recompensa, pensou Keller, era passar o resto da vida esperando por uma bala do IRA. A organização era como um elefante. Nunca esquecia. E certamente nunca perdoaria um informante.
— Como andam os negócios? — perguntou Keller.
— Tudo bem. Você?
Keller moveu os ombros, evasivo.
— Em que negócios você está metido hoje em dia, Michael Connelly?
— Não é importante.
— Presumo que não era seu nome verdadeiro.
Keller fez uma careta para dizer que não era.
— Como aprendeu a falar assim?
— Assim como?
— Como um de nós — disse Conway.
— Acho que é um dom.
— Você tem outros dons também — disse Conway. — Eram quatro contra um na fazenda e mesmo assim não foi uma luta justa.
— Na verdade — disse Keller —, eram cinco contra um.
— Quem era o quinto?
— Quinn.
Um silêncio caiu entre eles.
— Você é corajoso de voltar após todos esses anos — disse Conway depois de um momento. — Se descobrirem que você está na cidade, é um homem morto. Com ou sem acordo de paz.
A porta da loja se abriu e vários turistas — dinamarqueses ou suecos, Keller não conseguiu decidir — entraram. Conway franziu a testa e bebeu seu café.
— O guia turístico os traz para os bairros e mostra onde aconteceram as piores atrocidades. E depois leva ao Tommy O’Boyle’s para ouvir música.
— É bom para os negócios.
— Acho que sim — ele olhou para Keller. — É por isso que você voltou? Para fazer um passeio pela área dos conflitos?
Keller olhou a fila de turistas na rua. Então, olhou para Conway e perguntou:
— Quem foi que interrogou você depois que saí de Belfast?
— Foi o Quinn.
— Onde ele fez isso?
— Não tenho certeza. Realmente não me lembro muito, exceto da faca. Ele me disse que ia arrancar meus olhos se eu não admitisse que era um espião dos britânicos.
— O que contou a ele?
— Obviamente, eu neguei. E posso ter implorado pela minha vida também. Ele pareceu gostar disso. Sempre foi um maldito cruel.
Keller assentiu lentamente, como se Conway tivesse falado palavras de grande inspiração.
— Ouviu falar do Liam Walsh? — Conway perguntou.
— É difícil não ter ouvido.
— Quem você acha que está por trás disso?
— A Garda diz que foram drogas.
— A Garda — falou Conway — é uma merda completa.
— O que você sabe?
— Sei que alguém entrou na casa do Walsh em Dublin e matou três caras bem duros sem suar.
Conway parou, depois perguntou:
— Parece familiar?
Keller não falou nada.
— Por que você voltou aqui?
— Quinn.
— Não vai encontrá-lo em Belfast.
— Sabia que ele tem esposa e filha aqui?
— Ouvi rumores sobre isso, mas nunca descobri um nome.
— Maggie Donahue.
Conway levantou os olhos, pensativo, para o teto.
— Faz sentido.
— Conhece?
— Todo mundo conhece a Maggie.
— Trabalho?
— Do outro lado da rua, no hotel Europa. Na verdade — Conway acrescentou olhando o relógio —, ela deve estar lá agora.
— E a menina?
— Estuda na Our Lady of Mercy. Deve ter 16 agora.
— Sabe onde elas moram?
— No começo da Crumlin Road, em Ardoyne.
— Preciso do endereço, Billy.
— Sem problema.
20
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
BILLY CONWAY DEMOROU MENOS de trinta minutos para descobrir que Maggie Donahue vivia no número oito em Stratford Gardens com sua única filha, que se chamava Catherine, o mesmo nome da mãe de Quinn. Os vizinhos não sabiam a fonte do nome da menina, apesar de que a maioria suspeitava de que o marido ausente de Maggie, estivesse morto ou vivo, era algum homem do IRA, possivelmente um dissidente que tinha rejeitado o acordo da Sexta-Feira Santa. Esses sentimentos eram profundos em Ardoyne. Durante a pior parte dos conflitos, o Royal Ulster Constabulary via o bairro como uma área proibida, muito perigosa para patrulhar ou mesmo entrar. Mais de uma década depois dos acordos de paz, ainda era cenário de lutas entre católicos e protestantes.
Para complementar os pagamentos de dinheiro que ela recebia de seu marido, Maggie trabalhava como garçonete no bar do hotel Europa, o mais bombardeado do mundo. Naquela tarde ela teve o azar de atender as necessidades particulares de um hóspede chamado Herr Johannes Klemp. Seu registro no hotel tinha um endereço de Munique, mas seu trabalho — aparentemente tinha algo a ver com design de interior — exigia que ele passasse um bom tempo longe de casa. Como muitos viajantes frequentes, ele era um pouco difícil de agradar. Seu almoço, parecia, estava uma catástrofe. A salada estava muito crua, o sanduíche estava muito frio, o leite do café estava horrível. Pior ainda, ele tinha gostado da pobre criatura cujo emprego era deixá-lo feliz. Ela não gostou das tentativas dele. Poucas mulheres gostavam.
— Longo dia? — ele perguntou quando ela enchia sua xícara de café.
— Só começando.
Ela sorriu cansada. Tinha o cabelo muito escuro, a pele branca e grandes olhos azuis em cima de bochechas amplas. Tinha sido muito bonita, mas seu rosto tinha sofrido muito. Ele achava que Belfast a deixara mais velha. Ou talvez, pensou, tinha sido Quinn que havia arruinado sua beleza.
— Você é daqui? — ele perguntou.
— Todo mundo é daqui.
— Leste ou oeste?
— Você faz muitas perguntas.
— Estou apenas curioso.
— Com o quê?
— Belfast — ele respondeu.
— É por isso que veio aqui? Porque está curioso?
— Trabalho, infelizmente. Mas tenho o resto do dia para mim mesmo, então pensei em ver um pouco da cidade.
— Por que não contrata um guia turístico? Eles conhecem muito.
— Prefiro cortar os pulsos.
— Sei como se sente. — Sua ironia pareceu acertá-lo como uma pedra jogada de um trem bala. — Tem algo mais que eu poderia fazer por você?
— Pode tirar o resto do dia livre e me mostrar a cidade.
— Não posso — foi tudo que ela disse.
— Que horas você deixa o trabalho?
— Oito.
— Vou passar para beber algo e conto como foi meu dia.
Ela sorriu triste e disse:
— Vou estar aqui.
Ele pagou a conta em dinheiro e foi para a Great Victoria, onde Keller esperava atrás do volante do Škoda. No banco de trás, envolto em celofane, havia um buquê de flores. O pequeno envelope estava endereçado a maggie donahue.
— A que horas ela deixa o trabalho? — perguntou Keller.
— Ela falou oito horas, mas poderia estar tentando me evitar.
— Falei para você ser bonzinho.
— Não está no meu DNA ser bonzinho com a esposa de um terrorista.
— É possível que ela não saiba.
— Onde seu marido consegue cem mil libras em notas usadas?
Keller não tinha resposta.
— E a garota? — perguntou Gabriel.
— Está na escola até as três.
— E depois?
— Um jogo de hóquei contra Belfast Model School.
— Protestante?
— A maioria.
— Deve ser interessante.
Keller ficou em silêncio.
— Então, o que vamos fazer?
— Entregamos umas flores em Stratford Gardens.
— E depois?
— Damos uma olhada dentro.
Mas, primeiro, eles decidiram dar uma passeada pelo passado violento de Keller. Estava a velha Divis Tower, onde ele tinha morado entre os integrantes do IRA como Michael Connelly, e a lavanderia abandonada de Falls Road, onde o mesmo Michael Connelly tinha testado roupas dos membros do IRA em busca de provas de explosivos. Mais embaixo, na Road, havia o portão de ferro do cemitério de Milltown, onde Elizabeth Conlin, a mulher que Keller tinha amado em segredo, estava enterrada em uma tumba que Eamon Quinn tinha cavado para ela.
— Você nunca foi? — perguntou Gabriel.
— É muito perigoso — disse Keller, balançando a cabeça. — O IRA vigia os túmulos.
De Milltown eles passaram pelos conjuntos habitacionais em Ballymurphy até Springfield Road. Pelo lado norte havia uma barricada separando um enclave protestante de um distrito católico vizinho. A primeira das chamadas linhas de paz apareceu em Belfast, em 1969, como uma solução temporária para o sectarismo sangrento da cidade. Agora era uma característica permanente de sua geografia — na verdade, o número, a extensão e a escala tinham crescido desde a assinatura dos acordos da Sexta-Feira Santa. Na Springfield Road a barricada era uma cerca verde transparente de uns dez metros de altura. Mas em Cupar Way, uma parte especialmente tensa de Ardoyne, era uma estrutura parecida com o Muro de Berlim, com arame farpado no alto. Os moradores dos dois lados tinham pintado murais. Era possível comparar com o muro de separação entre Israel e a Cisjordânia.
— Isso parece paz para você? — perguntou Keller.
— Não — respondeu Gabriel. — Parece minha casa.
Finalmente, à uma e meia, Keller entrou em Stratford Gardens. O número oito, como seus vizinhos, era uma casa de dois andares de tijolos vermelhos com uma porta branca e uma única janela em cada andar. A grama crescia no jardim; havia um cesto de lixo verde derrubado pelo vento. Keller parou no meio-fio e desligou o carro.
— A gente se pergunta — disse Gabriel — por que Quinn decidiu viver em uma casa luxuosa na Venezuela em vez de morar aqui?
— Deu uma olhada na porta?
— Uma única fechadura, sem ferrolho.
— Quanto tempo demora para abrir?
— Trinta segundos — falou Gabriel. — Menos que isso se deixar essas estúpidas flores.
— Você precisa levar as flores.
— Prefiro levar a arma.
— Vou ficar com a arma.
— O que acontece se encontro um par de amigos do Quinn lá dentro?
— Finja ser um católico de Belfast ocidental.
— Não acho que vão acreditar em mim.
— É melhor — falou Keller. — Ou você é um homem morto.
— Algum outro conselho útil?
— Cinco minutos e nem um a mais.
Gabriel abriu a porta e desceu do carro. Keller xingou baixinho. As flores ainda estavam no banco de trás.
21
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
HAVIA UMA PEQUENA BANDEIRA tricolor irlandesa pendurada imóvel no batente da porta. Como o sonho de uma Irlanda unida, estava apagada e esfarrapada. Gabriel tentou a fechadura e, como era esperado, estava trancada. Então pegou uma fina ferramenta de metal do bolso e, usando a técnica aprendida na juventude, trabalhou cuidadosamente no mecanismo. Alguns segundos foram suficientes para a trava se entregar. Quando ele tentou a fechadura pela segunda vez, ela permitiu a passagem. Ele deu um passo e fechou a porta silenciosamente. Não tocou nenhum alarme, nenhum cachorro latiu.
A correspondência estava espalhada pelo chão. Ele juntou os vários envelopes, folhetos, revistas e propaganda, dando uma olhada rápida neles. Todos estavam em nome de Maggie Donahue, exceto uma revista de moda para adolescentes, que estava em nome de sua filha. Parecia não haver nenhuma correspondência particular de nenhum tipo, só o lixo comercial comum que entope os serviços de correios no mundo todo. Gabriel enfiou no bolso uma conta de cartão de crédito e devolveu o resto ao chão. Depois, entrou na sala de estar.
Era uma sala pequena, uns poucos metros quadrados, com espaço suficiente para o sofá, a televisão e um par de poltronas combinando. Na mesa de café havia uma pilha de revistas velhas e jornais de Belfast, junto com mais correspondência, aberta e fechada. Um dos itens era uma newsletter e um apelo financeiro para contribuir com o Movimento de Soberania dos 32 Condados, o braço político do IRA Autêntico. Gabriel ficou pensando se quem enviou sabia que estava mandando para a esposa secreta do melhor construtor de bombas e explosivos do grupo.
Ele devolveu a carta a seu envelope e à mesa. As paredes da sala estavam vazias exceto por uma violenta paisagem da costa irlandesa de qualidade inferior pendurada sobre o sofá. Em uma das mesinhas havia uma fotografia emoldurada de uma mãe e uma criança na primeira comunhão, na igreja Holy Cross. Gabriel não conseguiu encontrar nenhum traço de Quinn no rosto da criança. Nisso, pelo menos, ela era afortunada.
Olhou para o relógio. Noventa segundos tinham se passado desde que ele tinha entrado na casa. Abriu as cortinas finas e viu um carro cruzando lentamente a rua. Havia dois homens dentro. Eles pareceram notar cuidadosamente Keller enquanto passavam pelo Škoda estacionado. Então o carro continuou por Stratford Gardens e desapareceu na esquina. Gabriel olhou para o Škoda. As luzes ainda estavam apagadas. Em seguida olhou o BlackBerry. Nenhum aviso, nenhuma ligação perdida.
Ele soltou a cortina e entrou na cozinha. Uma xícara de café com batom estava na pia; pratos molhados de água com sabão. Ele abriu a geladeira. Estava razoavelmente cheia, nada verde, nenhuma fruta, nenhuma cerveja, só meia garrafa de um vinho branco italiano barato.
Soltou a porta da geladeira e começou a abrir e fechar as gavetas. Em uma encontrou um envelope cor de creme e dentro do envelope havia uma nota escrita por Quinn.
Deposite em pequenas quantidades, assim parece dinheiro de gorjeta... Mande um beijo para C...
Gabriel enfiou o bilhete no bolso do casaco perto da conta de cartão de crédito e olhou o relógio. Dois minutos e meio. Saiu da cozinha e subiu.
O carro voltou às 13h37. Novamente cruzou lentamente na frente do número oito, mas dessa vez parou ao lado do Škoda. No começo, Keller fingiu não perceber. Então, indiferente, ele abaixou o vidro.
— O que você está fazendo aqui? — perguntou o motorista com um forte sotaque de Belfast ocidental.
— Esperando uma amiga — respondeu Keller no mesmo sotaque.
— Qual é o nome da sua amiga?
— Maggie Donahue.
— E o seu? — perguntou o passageiro no carro.
— Gerry Campbell.
— De onde você é, Gerry Campbell?
— Dublin.
— E antes disso?
— Derry.
— Quando você partiu?
— Não é problema seu.
Keller não estava mais sorrindo. Nem os dois homens no outro carro. O vidro subiu; o carro continuou pela rua tranquila e desapareceu na esquina uma segunda vez. Keller pensou quanto demoraria para eles descobrirem que Maggie Donahue, a esposa secreta de Eamon Quinn, estava no momento trabalhando no hotel Europa. Dois minutos, pensou. Talvez menos. Ele tirou o celular e ligou.
— Os nativos estão começando a ficar impacientes.
— Tente dar as flores a eles.
A linha ficou muda. Keller ligou o motor e segurou a Beretta. Ficou olhando pelo espelho retrovisor e esperou que o carro voltasse.
No alto das escadas havia duas portas. Gabriel entrou no quarto à direita. Era o maior dos dois, apesar de que estava longe de ser uma suíte master. Havia roupas espalhadas pelo chão e em cima da cama desfeita. As cortinas estavam bem fechadas; não havia nenhuma luz a não ser os dígitos vermelhos do alarme, que estava dez minutos adiantado. Gabriel abriu a gaveta do criado-mudo e iluminou o conteúdo com sua lanterna. Canetas sem tinta, pilhas usadas, um envelope contendo centenas de libras em notas velhas, outra carta de Quinn. Parece que ele queria ver sua filha. Não havia menção de onde ele estava vivendo ou onde o encontro poderia acontecer. Mesmo assim, sugeria que Liam Walsh não tinha sido verdadeiro quando afirmava que Quinn não tinha tido nenhum contato pessoal com sua família desde que havia fugido da Irlanda após o ataque de Omagh.
Gabriel acrescentou a carta a sua pequena coleção de provas e abriu a porta do armário. Procurou entre a roupa e encontrou vários itens claramente pertencentes a um homem. Era possível que Maggie Donahue tivesse tido um amante durante a longa ausência de seu marido. Era possível, também, que a roupa pertencesse a Quinn. Ele tirou um dos itens, uma calça de lã e mediu o tamanho com a própria perna. Quinn, ele lembrava, media 1,78m, não era um homem alto, mas era maior que Gabriel. Ele procurou algo nos bolsos. Em um, encontrou três moedas, euros e uma pequena passagem azul e amarela. Estava rasgada, só sobrava a metade. Gabriel conseguia ver quatro números, 5846, nada mais. Na parte de trás havia uns poucos centímetros de uma tarja magnética.
Gabriel enfiou a passagem no bolso, devolveu a calça em seu cabide original e entrou no banheiro. No armário de remédios encontrou lâmina de barbear, loção pós-barba e desodorante masculino. Depois cruzou o corredor e entrou no segundo quarto. Em limpeza, a filha de Quinn era exatamente o oposto de sua mãe. A cama estava arrumada; as roupas, penduradas no armário. Gabriel procurou nas gavetas da penteadeira. Não havia drogas nem cigarro, nenhuma prova de uma vida secreta escondida da mãe. Nem havia traço de Eamon Quinn.
Gabriel olhou a hora. Tinham se passado cinco minutos. Ele foi até a janela e viu o carro com dois homens passando lentamente na rua. Quando terminou, o BlackBerry vibrou. Ele o levou até a orelha e ouviu a voz de Christopher Keller.
— Acabou o tempo.
— Mais dois minutos.
— Não temos dois minutos.
Keller desligou sem falar mais nada. Gabriel olhou no quarto. Estava acostumado a procurar nas propriedades de profissionais, não adolescentes. Profissionais eram bons em esconder coisas, adolescentes, não. Eles presumiam que todos os adultos eram tontos, e o excesso de confiança era normalmente o que levava a erros.
Gabriel voltou ao armário e procurou dentro dos sapatos. Em seguida, folheou as revistas de moda, mas não encontrou nada a não ser ofertas de assinaturas e amostras de perfumes. Finalmente, repassou a pequena coleção de livros dela. Incluía uma história dos conflitos escrita por um autor simpático ao IRA e à causa do nacionalismo irlandês. E foi ali, entre duas páginas, que encontrou o que estava procurando.
Era uma fotografia de uma adolescente e um homem usando um chapéu com abas e óculos escuros. Estavam parados em uma rua com prédios antigos, talvez europeus, talvez sul-americanos. A garota era Catherine Donahue e o homem ao seu lado era o pai, Eamon Quinn.
Stratford Gardens estava quieta quando Gabriel saiu da casa número oito. Ele passou pelo portão de metal, caminhou até o Škoda e entrou no carro. Keller abriu caminho pelas ruas principais do Ardoyne católico e voltou a Crumlin Road. Então fez um rápido giro à direita na Cambrai e só aí soltou o acelerador. Havia bandeiras inglesas penduradas nos postes. Eles tinham cruzado uma das fronteiras invisíveis de Belfast. Estavam de volta à segurança do lado protestante.
— Encontrou algo? — perguntou Keller finalmente.
— Acho que sim.
— O quê?
Gabriel sorriu e disse:
— Quinn.
22
WARRING STREET, BELFAST
– PODERIA SER QUALQUER UM — disse Keller.
— Poderia — respondeu Gabriel. — Mas não é. É o Quinn.
Estavam no quarto de Keller, no Premiere Inn, na Warring. Era na esquina do Europa e muito menos luxuoso. Ele fez o check-in como Adrien LeBlanc e falou em inglês com um sotaque francês para os funcionários. Gabriel, durante sua breve passagem pelo lobby, não tinha dito nada.
— Onde você acha que eles estão? — perguntou Keller, ainda estudando a fotografia.
— Boa pergunta.
— Não há sinais no edifício ou carros na rua. É quase como se...
— Ele escolhesse o lugar com grande cuidado.
— Talvez seja Caracas.
— Ou talvez seja Santiago ou Buenos Aires.
— Já foi?
— Aonde?
— Buenos Aires — falou Keller.
— Várias vezes, na verdade.
— Negócios ou prazer?
— Não viajo por prazer.
Keller sorriu e olhou para a foto de novo.
— Parece um pouco com o centro velho de Bogotá para mim.
— Vou ter de acreditar em você nessa.
— Ou talvez seja Madri.
— Talvez.
— Deixe-me ver esse canhoto da passagem.
Gabriel entregou. Keller olhou cuidadosamente a parte da frente. Virou e passou os dedos pela parte da tarja magnética.
— Há alguns anos — ele falou finalmente —, Dom aceitou um contrato de um cavalheiro que tinha roubado muito dinheiro de pessoas que não gostam de ter seu dinheiro roubado. O cavalheiro estava escondido em uma cidade como a dessa foto. Era uma cidade velha que tinha perdido a beleza, uma cidade de colinas e bondes.
— Qual era o nome do cavalheiro?
— Prefiro não falar.
— Onde estava escondido?
— Vou chegar lá.
Keller estava estudando a parte da frente da passagem de novo.
— Como esse cavalheiro não tinha carro, era, por necessidade, um dedicado usuário de transporte público. Eu o segui por uma semana antes de atacar, o que significou que me tornei um dedicado usuário de transporte público, também.
— Você reconhece a passagem, Christopher?
— Pode ser.
Keller pegou o BlackBerry de Gabriel, abriu o Google e digitou vários caracteres na caixa de buscas. Quando os resultados apareceram, ele clicou em um e sorriu.
— Encontrou? — perguntou Gabriel.
Keller virou o BlackBerry para que Gabriel pudesse ver a tela. Nela, havia uma versão completa da passagem que tinha encontrado na casa de Maggie Donahue.
— De onde é? — perguntou Gabriel.
— Uma cidade de colinas e bondes.
— Acho que não está se referindo a San Francisco?
— Não — falou Keller. — É Lisboa.
— Isso não prova que a foto foi tirada lá — disse Gabriel depois de um momento.
— Concordo — respondeu Keller. — Mas se pudermos provar que Catherine Donahue esteve lá...
Gabriel não falou nada.
— Você não viu o passaporte dela quando esteve na casa, viu?
— Não tive a sorte.
— Então suponho que teremos de pensar em outra forma de dar uma olhada nele.
Gabriel pegou o BlackBerry e enviou uma breve mensagem a Graham Seymour em Londres, pedindo informações sobre todas as viagens ao exterior de Catherine Donahue, de Stratford Gardens, número oito, Belfast, Irlanda do Norte. Uma hora depois, quando a escuridão caía sobre a cidade, eles recebiam a resposta.
O ministério britânico tinha emitido o passaporte em dez de novembro de 2013. Uma semana depois, ela embarcou em um voo da British Airways, em Belfast, e desceu no Heathrow de Londres onde, noventa minutos depois, passou para um segundo voo da British Airways, com destino a Lisboa. De acordo com autoridades de imigração portuguesa, ela ficou no país por apenas três dias. Foi sua única viagem ao exterior.
— Nada disso prova que Quinn estava vivendo ali na época — afirmou Keller.
— Por que levá-la a Lisboa entre tantos lugares? Por que não Mônaco, Cannes ou St. Moritz?
— Talvez Quinn estivesse sem dinheiro.
— Ou talvez ele mantenha um apartamento ali, em um velho edifício charmoso no tipo de vizinhança onde ninguém notaria um estrangeiro indo e vindo.
— Conhece alguns lugares assim?
— Passei toda a minha vida em lugares assim.
Keller ficou em silêncio por um momento.
— E agora? — perguntou finalmente.
— Acho que poderíamos levar a foto e meu desenho do rosto dele, e começar a bater nas portas.
— Ou?
— Contratamos os serviços de alguém que é especialista em encontrar aqueles que preferem não ser encontrados.
— Algum candidato?
— Só um.
Gabriel pegou o BlackBerry e ligou para Eli Lavon.
23
BELFAST — LISBOA
ELES DECIDIRAM TOMAR O caminho mais longo até Lisboa. Melhor não chegar à cidade tão rapidamente, disse Gabriel. Melhor tomar cuidado com os arranjos de viagem e a trilha que deixariam. Pela primeira vez, Quinn era real para eles. Não era mais só um rumor. Era um homem em uma rua, com uma filha ao lado. Tinha carne em seus ossos, sangue em suas veias. Ele poderia ser encontrado. E então poderia ser tirado de seu sofrimento.
Então eles deixaram Belfast assim como entraram, em silêncio e sob falsos argumentos. Monsieur LeBlanc falou ao funcionário do Premiere que tinha uma pequena crise pessoal para resolver; Herr Klemp contou algo parecido no hotel Europa. Passando pelo lobby, viu Maggie Donahue, a esposa secreta do assassino, servindo um copo de uísque muito grande a um homem de negócios já bêbado. Ela evitou o olhar de Herr Klemp e ele evitou o dela.
Dirigiram até Dublin, abandonaram o carro no aeroporto e fizeram o check-in em dois quartos no Radisson. Pela manhã, tomaram café como estranhos no restaurante do hotel e depois embarcaram em voos separados para Paris: Gabriel, na Aer Lingus; Keller, na Air France. O voo de Gabriel chegou primeiro. Ele retirou um Citroën limpo do estacionamento e estava esperando no desembarque quando Keller saiu do terminal.
Passaram aquela noite em Biarritz, onde Gabriel já tinha matado alguém por vingança, e, na noite seguinte, na cidade espanhola de Vitoria, onde Keller, em nome de Dom Anton Orsati, já tinha matado um membro do grupo separatista basco ETA. Gabriel podia ver que as ligações de Keller com sua antiga vida estavam começando a entrar em choque; que Keller, a cada dia que passava, estava ficando mais confortável com a perspectiva de trabalhar para Graham Seymour no MI6. Quinn tinha iniciado a cadeia de eventos que havia levado à ruptura de laços de Keller com a Inglaterra. E agora, 25 anos depois, Quinn estava levando Keller de volta para casa.
De Vitoria, eles foram para Madri, e de Madri dirigiram até Badajoz, perto da fronteira portuguesa. Keller estava ansioso para ir a Lisboa, mas, por insistência de Gabriel, eles foram mais para o oeste e pegaram os últimos fracos raios de sol da temporada em Estoril. Ficaram em hotéis separados na praia e levaram vidas separadas de homens sem esposas, sem filhos, sem cuidados ou responsabilidade. Gabriel passava várias horas do dia garantindo que não estavam sendo vigiados. Sentiu a tentação de enviar uma mensagem a Chiara, em Jerusalém, mas não se atreveu. Nem fez contato com Eli Lavon. Lavon era um dos mais experientes rastreadores de homens do mundo. Quando jovem, tinha caçado os membros do Setembro Negro, que realizaram o massacre da Olimpíada de Munique de 1972. Então, depois de deixar o Escritório, tinha começado a trabalhar de forma privada, rastreando bens roubados no Holocausto e algum ocasional criminoso de guerra nazista. Se houvesse algum traço de Quinn em Lisboa — uma residência, um apelido, outra esposa ou filho — Lavon encontraria.
Mas quando se passaram mais dois dias sem nenhuma notícia, até Gabriel começou a ter dúvidas, não da capacidade de Lavon, mas em sua fé de que Quinn tinha algum tipo de ligação com Lisboa. Talvez Catherine Donahue tivesse viajado à cidade com amigos ou como parte de uma viagem escolar. Talvez as calças que Gabriel tinha encontrado no armário de Maggie Donahue pertencessem a outro homem, assim como a passagem rasgada do sistema de bondes de Lisboa. Eles teriam de procurar em outro lugar, ele pensou — no Irã, no Líbano, no Iêmen ou na Venezuela, ou em algum dos incontáveis outros lugares onde Quinn tinha exercido seu mortal negócio. Quinn era um homem do submundo. Ele poderia estar em qualquer lugar.
Mas na terceira manhã de sua estada, Gabriel recebeu uma breve, mas promissora mensagem de Eli Lavon sugerindo que o homem em questão era um visitante frequente da cidade de interesse. Ao meio-dia, Lavon tinha certeza disso, e, no fim da tarde, havia descoberto um endereço. Gabriel ligou para o hotel de Keller e contou que estavam prontos para agir. Eles deixaram Estoril assim como tinham entrado, em silêncio e sob falsos argumentos, dirigindo-se a Lisboa.
— Ele se chama Alvarez.
— Como em português ou espanhol?
— Isso depende do humor dele.
Eli Lavon sorriu. Estavam sentados em uma mesa no Café Brasileira, no bairro do Chiado, em Lisboa. Eram nove e meia e o café estava lotado. Ninguém parecia notar muito os dois homens de meia-idade em frente a xícaras de café em um canto. Eles conversavam em alemão baixinho, uma das muitas línguas que tinham em comum. Gabriel falava no sotaque de Berlim de sua mãe, mas o alemão de Lavon era definitivamente vienense. Usava um suéter de cardigã por baixo da jaqueta de tweed enrugada e um lenço no pescoço. O cabelo era ralo e despenteado; os traços do rosto eram comuns e facilmente esquecíveis. Era um dos seus maiores bens. Eli Lavon parecia ser uma das muitas pessoas pouco interessantes do mundo. Na verdade, era um predador natural que podia seguir um agente de inteligência altamente treinado ou um terrorista duro em qualquer rua do mundo sem atrair nenhum interesse.
— Primeiro nome? — perguntou Gabriel.
— Às vezes José. Outras vezes, ele é Jorge.
— Nacionalidade?
— Às vezes venezuelano, às vezes equatoriano. — Lavon sorriu. — Está começando a ver um padrão?
— Mas ele nunca tenta se passar por português.
— Não domina o idioma para isso. Até seu espanhol é duro. Aparentemente, ele tem bastante sotaque.
Alguém no bar deve ter dito algo divertido, porque uma explosão de risadas reverberou pelo chão de azulejos quadriculado e morreu no alto do teto, onde os candelabros emitiam um fraco brilho dourado. Gabriel olhou por cima do ombro de Lavon e imaginou que Quinn estava sentado na mesa ao lado. Mas não era Quinn; era Christopher Keller. Estava segurando uma xícara de café na mão direita. A mão direita significava que estava tudo bem, a esquerda significava problemas. Gabriel olhou para Lavon de novo e perguntou sobre a localização do apartamento de Quinn. Lavon inclinou a cabeça na direção do Bairro Alto.
— Como é o prédio?
Lavon fez um gesto com a mão para indicar que estava entre aceitável e condenável.
— Porteiro?
— No Bairro Alto?
— Que andar?
— Segundo.
— Podemos entrar?
— Estou surpreso por perguntar isso. A questão é — continuou Lavon — nós queremos entrar?
— Queremos?
Lavon balançou a cabeça.
— Quando temos a sorte de encontrar a segunda casa de um homem como Eamon Quinn, não nos arriscamos a jogar tudo fora correndo até a porta da frente. Adquirimos um posto de observação fixo e esperamos pacientemente o alvo aparecer.
— A menos que existam outros fatores a considerar.
— Como quais?
— A possibilidade de que outra bomba exploda.
— Ou que nossa esposa esteja a ponto de dar à luz a gêmeos?
Gabriel franziu a testa, mas não disse nada.
— Caso você esteja se perguntando — disse Lavon —, ela está bem.
— Está brava?
— Está de sete meses e meio, e seu marido está sentado em um café em Lisboa. Como você acha que ela se sente?
— Como está a segurança dela?
— A rua Narkiss é, possivelmente, a rua mais segura de toda Jerusalém. Uzi mantém uma equipe de segurança na porta o tempo todo.
Lavon hesitou, depois acrescentou:
— Mas todos os guarda-costas do mundo não substituem um marido.
Gabriel não falou nada.
— Posso fazer uma sugestão?
— Se você tiver.
— Volte a Jerusalém por uns dias. Seu amigo e eu podemos vigiar o apartamento. Se Quinn aparecer, você será o primeiro a saber.
— Se eu for a Jerusalém — respondeu Gabriel — não vou querer partir.
— Foi por isso que eu sugeri. — Lavon pigarreou gentilmente. Era um sinal de mais intimidade. — Sua esposa gostaria que você soubesse que daqui a um mês, talvez menos, você será pai de novo. Ela gostaria que você estivesse presente na ocasião. Ou, do contrário, sua vida não vai valer nada.
— Ela falou algo mais?
— Ela pode ter mencionado algo sobre Eamon Quinn.
— O que ela disse?
— Aparentemente, Uzi contou a ela sobre a operação. Sua esposa não aceita bem homens que explodem mulheres e crianças inocentes. Ela gostaria que você encontrasse Quinn antes de voltar para casa. E depois — acrescentou Lavon —, ela gostaria que você o matasse.
Gabriel olhou para Keller e disse:
— Isso não será necessário.
— Entendo — falou Lavon. — Sorte sua.
Gabriel sorriu e tomou um gole de café. Lavon enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um dispositivo USB. Colocou na mesa e empurrou na direção de Gabriel.
— Como pedido, o arquivo completo do Escritório sobre Tariq al-Hourani, nascido na Palestina durante a grande catástrofe árabe, morto a tiros nas escadas de um prédio de apartamentos de Manhattan pouco antes da queda das Torres Gêmeas.
Lavon esperou antes de falar:
— Acredito que você estava lá na época. Por algum motivo, não fui convidado.
Gabriel olhou para o dispositivo em silêncio. Havia partes do arquivo que ele não iria ler de novo — pois foi Tariq al-Hourani que, em uma noite de um janeiro com muita neve, em 1991, tinha plantado uma bomba embaixo do carro de Gabriel, em Viena. A explosão tinha matado seu filho, Dani, e mutilado Leah, sua primeira esposa. Ela vivia em um hospital psiquiátrico no alto do monte Herzl, dentro de uma prisão da memória e um corpo destruído pelo fogo. Durante uma recente visita, Gabriel tinha contado que ele logo seria pai de novo.
— Eu achava — disse Lavon, com a voz baixa — que você conhecia esse arquivo de cor.
— Conheço — disse Gabriel. — Mas gostaria de refrescar minha memória sobre uma parte especial da carreira dele.
— Qual?
— A época que passou na Líbia.
— Tem algum pressentimento?
— Talvez.
— Algo mais que você quer me contar?
— Fico feliz que esteja aqui, Eli.
Lavon mexeu lentamente o café.
— Pelo menos um dos dois está.
Eles saíram pela famosa porta verde do Brasileira em uma praça onde Fernando Pessoa estava sentado em bronze por toda a eternidade, sua punição por ser o poeta mais famoso de Portugal. O vento frio do Tejo rodopiava em um anfiteatro de graciosos edifícios amarelos; um bonde chacoalhava passando pelo largo do Chiado. Gabriel imaginou Quinn sentado em uma cadeira perto da janela, o Quinn do rosto alterado cirurgicamente e de coração sem misericórdia. Quinn, a prostituta da morte. Lavon estava subindo a colina, lentamente, como um flâneur. Gabriel ia ao lado dele e juntos caminharam por um labirinto de ruas escuras. Lavon nunca parou para pensar em seu rumo ou consultar um mapa. Estava falando em alemão sobre uma descoberta que tinha feito recentemente em uma escavação sob a Cidade Velha de Jerusalém. Quando não estava trabalhando para o Escritório, ele era professor-adjunto de arqueologia bíblica na Universidade Hebraica. Na verdade, por causa de uma descoberta monumental que tinha feito debaixo do monte do Templo, Eli Lavon era visto como a resposta de Israel a Indiana Jones.
Ele parou de repente e perguntou:
— Reconhece isso?
— Reconheço o quê?
— Esse lugar. — Com o silêncio como resposta, Lavon se virou. — Que tal agora?
Gabriel se virou também. Não havia nenhuma luz acesa na rua. A escuridão tinha deixado os edifícios sem formato, sem características ou detalhes.
— É onde eles estavam parados. — Lavon deu uns poucos passos subindo a rua com paralelepípedos. — E a pessoa que tirou a fotografia estava parada aqui.
— Pergunto-me quem poderia ser.
— Poderia ter sido alguém que passava na rua.
— Quinn não parece o tipo de pessoa que deixaria um completo estranho tirar uma foto dele.
Lavon voltou a caminhar sem dar outra palavra e subiu mais o bairro. Fez várias outras curvas, à esquerda e à direita, até Gabriel ter perdido todo o sentido de direção. Seu único ponto de orientação era o Tejo, que aparecia esporadicamente através dos espaços entre os prédios, sua superfície brilhando como as escamas de um peixe. Finalmente, Lavon parou e apontou com a cabeça para a entrada de um edifício. Era um pouco mais alto que a maioria dos edifícios no Bairro Alto, quatro andares em vez de três, e todo grafitado no térreo. Uma persiana no segundo andar estava aberta obliquamente; havia uma videira florescendo pendurada na sacada enferrujada. Gabriel caminhou até a entrada e inspecionou o interfone. Não havia nome no 2B. Ele colocou seu dedão no botão e a campainha soou forte, como através de uma janela aberta ou paredes de papel. Então colocou a mão suavemente sobre a maçaneta.
— Sabe quanto tempo demoraria para abrir isso?
— Uns 15 segundos — respondeu Lavon. — Mas quem espera alcança boas coisas.
Gabriel olhou para o declive da rua. No canto, havia um pequeno restaurante onde Keller estava estudando, indiferente, o menu em uma mesa na rua. Bem em frente ao prédio havia um par de casinhas, e uns passos depois havia um prédio de quatro andares com uma fachada cor de canário. Preso na entrada, meio enrolado como se estivesse há muito tempo sob o sol, havia um cartaz explicando em português e inglês que havia um apartamento no prédio disponível para aluguel.
Gabriel arrancou o cartaz e enfiou no bolso. Então, com Lavon a seu lado, passou por Keller sem dar uma palavra ou olhar e desceu a colina até o rio. Na manhã, enquanto tomava café no Brasileira, ele ligou para o número impresso no cartaz. E, ao meio-dia, depois de pagar seis meses de aluguel e um depósito de segurança antecipado, o apartamento era dele.
24
BAIRRO ALTO, LISBOA
GABRIEL SE MUDOU PARA o apartamento logo cedo com o ar de um homem cuja esposa não podia mais tolerar sua companhia. Ele não tinha posses a não ser uma mala bem viajada e manteve a cara fechada que mostrava que não estava ali para socializar. Eli Lavon chegou uma hora mais tarde trazendo duas sacolas de compras — para fazer, era o que parecia, uma refeição de consolo. Keller chegou por último. Entrou no prédio com o silêncio de um ladrão e se estabeleceu na frente de uma janela como se estivesse entrando no esconderijo do País dos Bandidos de Armagh. E assim começou a longa vigília.
O apartamento tinha móveis, mas poucos. A pequena reunião de cadeiras que não combinavam na sala de estar parecia ter sido adquirida em um mercado de móveis usados; os dois quartos eram como celas de monges ascéticos. A falta de camas não atrapalhava, pois um homem sempre estava vigiando na janela. Invariavelmente, era Keller. Ele tinha esperado muito tempo para que Quinn saísse de seu porão e queria a honra de ser o primeiro a colocar os olhos sobre ele. Gabriel pendurou o desenho do rosto de Quinn na parede como um retrato familiar, e Keller o consultava sempre que se aproximava um homem de idade e altura parecida — quarenta e poucos, talvez 1,77 — passando na rua estreita. Cedo, na terceira manhã, ele se convenceu de que viu Quinn indo da direção do café fechado. Era o rosto de Quinn, ele disse a Lavon em um sussurro animado. Mais importante, ele falou, era a forma como Quinn caminhava. Mas não era Quinn; era um homem português que, eles descobriram mais tarde, trabalhava em uma loja a poucas ruas dali. Lavon, um especialista em vigilância física, explicou que era um dos perigos de uma longa vigília. Às vezes, o vigilante vê o que quer ver. E, às vezes, o alvo está parado na frente dele e o vigilante está muito cego pela fadiga ou pela ambição para perceber.
O dono do apartamento acreditava que Gabriel era o único ocupante do lugar, então só ele aparecia em público. Era um homem com o coração machucado, um homem com muito tempo livre. Caminhava pelas ladeiras do Bairro Alto, andava de bonde aparentemente sem destino, visitou o Museu do Chiado, passava as tardes no Brasileira. E em um parque verde nas margens do Tejo, encontrou um mensageiro do Escritório que entregou uma mala cheia de ferramentas de um posto de campo: uma câmera com tripé com uma teleobjetiva com visão noturna, um microfone parabólico, rádios seguros, um transmissor miniatura e um laptop com um link de satélite seguro com o Boulevard Rei Saul. Além disso, havia um bilhete do chefe de Operações gentilmente dando uma bronca por Gabriel ter adquirido uma propriedade segura por meios próprios em vez de usar o departamento de Organização Interna. Havia também uma carta manuscrita de Chiara. Gabriel leu duas vezes antes de queimar na pia do banheiro. Depois disso, seu humor estava tão negro quanto as cinzas que ele jogou ritualmente no cano.
— Minha oferta ainda está de pé — disse Lavon.
— Qual?
— Eu fico aqui com o Keller. Você vai para casa ficar com sua esposa.
A resposta de Gabriel foi a mesma de antes, e Lavon nunca voltou a falar no assunto — mesmo tarde da noite, quando as mesas do canto do restaurante estavam vazias e a chuva batizava a rua silenciosa. Eles diminuíram as luzes do apartamento, assim suas sombras não seriam visíveis de fora, e, no escuro, os anos desapareceriam de seus rostos. Eles poderiam ter sido os mesmos garotos de vinte e poucos anos que o Escritório tinha despachado no outono de 1972 para caçar os realizadores do massacre da Olimpíada de Munique. A operação foi chamada de Ira de Deus. No léxico com base no hebreu da equipe, Lavon tinha sido um ayin, um rastreador. Gabriel era um aleph, um assassino. Durante três anos eles perseguiram suas presas por toda a Europa, matando na escuridão e em plena luz do dia, vivendo com medo de que a, qualquer momento, pudessem ser presos e acusados de assassinato. Tinham passado noites infinitas em quartos apertados vigiando entradas e homens, habitando secretamente a vida dos outros. Estresse e visões de sangue tiraram deles a capacidade de dormir. Um rádio transistor era a única ligação com o mundo real. Contava sobre guerras perdidas e vencidas, sobre um presidente norte-americano que renunciou e, às vezes, nas quentes noites de verão, tocava música para eles — a mesma música que garotos normais de vinte anos estavam ouvindo, garotos que não tinham sido chamados por seu país a servirem como executores, anjos de vingança dos 11 judeus assassinados.
A falta de sono logo era epidêmica no pequeno apartamento no Bairro Alto. Eles tinham planejado fazer turnos rotativos de duas horas no posto ao lado da janela, mas com o passar dos dias, e a insônia mútua dominando, os três agentes veteranos estabeleceram um tipo de vigilância permanente conjunta. Todos que passavam pela janela deles eram fotografados, independentemente de idade, gênero ou nacionalidade. Aqueles que entraram no prédio-alvo recebiam um exame adicional, assim como os moradores. Gradualmente, seus segredos foram descobertos no posto de observação. Essa era a natureza de qualquer observação de longo prazo. Com bastante frequência, os pecados venais dos inocentes eram expostos.
O apartamento tinha uma televisão com uma antena satélite que perdia o sinal sempre que chovia ou mesmo quando o vento mais leve soprava nas ruas. Servia como a ligação deles com o mundo que, a cada dia, parecia ir ficando cada vez mais descontrolado. Era o mundo que Gabriel iria herdar no momento em que fizesse seu juramento como o próximo chefe do Escritório. E seria o mundo de Keller também, se ele quisesse. Keller era a última restauração de Gabriel. Seu verniz sujo tinha sido removido, sua tela tinha sido realinhada e retocada. Ele não era mais o assassino inglês. Logo seria o espião inglês.
Como todos os bons vigilantes, Keller foi abençoado com uma paciência natural. Mas, com sete dias de observação, sua paciência já tinha acabado. Lavon sugeriu uma caminhada pelo rio ou uma viagem até a costa, qualquer coisa para quebrar a monotonia da vigilância, mas Keller se recusou a deixar o apartamento ou abandonar seu posto na janela. Ele fotografava os rostos que passavam na rua — velhos conhecidos, recém-chegados, transeuntes — e esperava por um homem com quarenta e poucos anos, aproximadamente 1,77m de altura, que parasse na entrada do prédio do outro lado da estreita rua. Para Lavon, parecia que Keller estava vigiando a Lower Market Street, em Omagh, esperando que um Vauxhall Cavalier vermelho andando devagar de marcha à ré parasse para estacionar no meio-fio; esperando que dois homens, Quinn e Walsh, descessem. Walsh tinha sido punido por seus pecados. Quinn seria o próximo.
Mas quando se passou outro dia sem sinal dele, Keller sugeriu que fizessem a busca em outro lugar. A América do Sul, ele falou, era o local mais lógico. Eles podiam ir até Caracas e começar a chutar umas portas até encontrarem a do Quinn. Gabriel parecia estar pensando seriamente na questão. Na realidade, ele estava olhando a mulher de uns trinta anos sentada sozinha no restaurante no final da rua. Ela havia colocado a bolsa na cadeira ao lado. Era uma bolsa grande, grande o suficiente para acomodar artigos de higiene, até uma muda de roupa. O zíper estava aberto, e a bolsa estava virada de uma forma que deixava os conteúdos facilmente acessíveis. Uma agente feminina do Escritório teria deixado a bolsa do mesmo jeito, pensou Gabriel, especialmente se houvesse uma arma ali.
— Está me ouvindo? — perguntou Keller.
— Cada palavra — mentiu Gabriel.
A última luz do crepúsculo estava se apagando; a mulher de uns trinta anos ainda estava usando óculos escuros. Gabriel virou a lente para o rosto dela, deu um zoom e tirou uma fotografia. Ele examinou cuidadosamente pelo visor da câmera. Era um rosto bonito, pensou, um rosto que valia uma pintura. As bochechas eram amplas, o queixo era pequeno e delicado, a pele era impecável e branca. Os óculos escuros escondiam seus olhos, mas Gabriel achava que eram azuis. O cabelo era na altura dos ombros e muito escuros. Ele duvidava que a cor fosse natural.
No momento em que Gabriel tirou a fotografia, a mulher estava olhando o menu. Agora estava olhando para a rua. Não era a melhor visão. A maioria dos frequentadores do restaurante olhava para o lado oposto, que tinha uma vista melhor da cidade. Apareceu um garçom. Tarde demais, Gabriel pegou o microfone parabólico e virou para a mesa. Ele ouviu o garçom dizer “Thank you”, em inglês, seguido por uma explosão de música. Era o toque do celular dela. A mulher desligou a chamada com um botão, colocou de novo o telefone na bolsa e tirou um guia de Lisboa. Gabriel novamente olhou pelo visor da câmera e deu um zoom, não no rosto da mulher, mas no guia que ela tinha nas mãos. Era um Frommer’s, em inglês. Ela o abaixou uns segundos e retomou o estudo da rua.
— O que você está olhando? — perguntou Keller.
— Não tenho certeza.
Keller se aproximou da janela e seguiu o olhar de Gabriel.
— Bonita — ele falou.
— Talvez.
— Recém-chegada ou habitué?
— Turista, aparentemente.
— Por que uma jovem turista bonita comeria sozinha?
— Boa pergunta.
O garçom reapareceu com uma taça de vinho branco, que colocou na mesa, ao lado do guia de Lisboa. Ele abriu o bloco de anotações, mas ela disse algo que o fez ir embora sem escrever nada. Ele voltou um momento depois com a conta. Colocou na mesa e foi embora. Não trocaram nenhuma palavra.
— O que acabou de acontecer? — perguntou Keller.
— Parece que a jovem turista bonita mudou de ideia.
— Por que será?
— Talvez tenha algo a ver com a ligação que não atendeu.
A mão da mulher agora estava mexendo na bolsa aberta. Quando reapareceu, havia uma nota em euros. Ela colocou em cima da conta, prendeu com a taça de vinho e se levantou.
— Acho que ela não gostou — disse Gabriel.
— Talvez tenha ficado com dor de cabeça.
A mulher pegou a bolsa, colocou-a no ombro e deu uma olhada final para a rua. Então se virou para a direção oposta, dobrou a esquina e desapareceu.
— Que pena — disse Keller.
— Vamos ver — disse Gabriel.
Ele estava olhando o garçom pegar o dinheiro. Mas, em seus pensamentos, estava calculando quanto tempo levaria para vê-la de novo. Dois minutos, calculou; era quanto tempo demoraria para voltar ao destino por uma rua paralela. Ele marcou o tempo no relógio e quando se passaram noventa segundos, olhou de novo pelo visor e começou a contar lentamente. Quando chegou a vinte, ele a viu surgir meio iluminada, a bolsa sobre o ombro, os óculos de sol sobre os olhos. Parou na entrada do prédio-alvo, enfiou uma chave na fechadura e abriu a porta. Quando entrou no hall, outro morador, um homem de vinte e poucos anos, estava saindo. Ele olhou por cima do ombro para ela; se era por admiração ou curiosidade, Gabriel não sabia dizer. Ele tirou uma foto do morador, depois olhou para as janelas escuras do segundo andar. Dez segundos depois, havia luz por trás das persianas.
CONTINUA
GUSTÁVIA, SÃO BARTOLOMEU
NADA DISSO TERIA ACONTECIDO se Spider Barnes não tivesse ido ao Eddy’s duas noites antes da partida do Aurora. Spider era visto como o melhor chef de cozinha de embarcações de todo o Caribe: bravo, mas também insubstituível, um gênio louco de jaleco branco e avental. Spider, sabem, tinha treinamento clássico. Ele tinha trabalhado um tempo em Paris, um tempo em Londres e também em Nova York e São Francisco, além de ter tido uma estada infeliz em Miami antes de deixar o negócio de restaurantes para sempre e ser livre no mar. Ele trabalhava em grandes iates agora, o tipo de embarcação que estrelas de cinema, rappers, bilionários e quem gosta de aparecer alugava sempre que queriam impressionar. E, quando Spider não estava atrás do fogão, estava caído sobre os melhores balcões de bar em terra firme. O Eddy’s estava entre os cinco melhores do Caribe, talvez os cinco melhores do mundo. Ele começou às sete horas aquela noite com umas cervejas, fumou um baseado no jardim escuro às nove e, às dez, estava contemplando seu primeiro copo de rum de baunilha. Tudo parecia ótimo no mundo. Spider Barnes estava tonto e no paraíso.
Mas então ele viu Verônica, e a noite fez uma curva perigosa. Ela era nova na ilha, uma garota perdida, uma europeia de procedência incerta que servia bebidas para turistas no bar de mergulhadores ao lado. Era bonita, no entanto — “bonita como um toque floral”, Spider comentou com seu companheiro de bebida — e se apaixonou por ela em dez segundos. Pediu a garota em casamento, que era a principal cantada de Spider, e quando ela recusou, ele sugeriu que fossem para a cama, então. De alguma forma, isso funcionou e os dois foram vistos cambaleando sob uma chuva torrencial à meia-noite. E essa foi a última vez que alguém o viu: à meia-noite e meia de uma noite chuvosa em Gustávia, totalmente molhado, bêbado e novamente apaixonado.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/15_O_ESPI_O_INGLES.jpg
O capitão do Aurora, um iate luxuoso de 154 pés de Nassau, era um homem chamado Ogilvy — Reginald Ogilvy, ex-membro da Royal Navy, um ditador benevolente que dormia com uma cópia do regulamento no criado-mudo, junto com a Bíblia do Rei James de seu avô. Ele nunca tinha se importado com Spider Barnes, não antes das nove da manhã seguinte, quando o renomado chef não apareceu na reunião regular da equipe. Não era uma reunião comum, pois o Aurora estava sendo preparado para um convidado muito importante. Só Ogilvy conhecia sua identidade. Ele também sabia que os acompanhantes incluíam uma equipe de seguranças e que a pessoa era exigente, para dizer o mínimo, o que explicava por que ficou alarmado pela ausência de Spider.
Ogilvy informou a situação ao supervisor do porto de Gustávia, que rapidamente informou à polícia local. Dois policiais bateram à porta da pequena casa de Verônica no alto da colina, mas não havia nenhum sinal dela também. Em seguida, realizaram uma busca nos vários pontos da ilha onde os bêbados e os apaixonados tipicamente se lavavam depois de uma noite de devassidão. Um sueco com o rosto vermelho no Le Select afirmou ter pagado uma Heineken a Spider aquela manhã. Outro disse que o viu caminhando pela praia em Colombier, e houve uma informação, nunca confirmada, de uma pessoa inconsolável uivando para a lua nos bosques de Toiny.
A polícia seguiu cada uma das pistas. Reviraram a ilha de norte a sul, de popa a proa, sem encontrar nada. Alguns minutos depois do pôr do sol, Reginald Ogilvy informou à equipe do Aurora que Spider Barnes tinha desaparecido e que um substituto à altura teria de ser encontrado o mais rápido possível. A equipe se espalhou pela ilha, dos restaurantes à beira-mar de Gustávia às barracas de praia do Grand Cul-de-Sac. E, às nove da noite, em um dos lugares menos prováveis, eles encontraram seu homem.
Ele tinha chegado à ilha no auge da temporada de furacões e se estabeleceu em uma casa no fim da praia de Lorient. Não tinha bagagem a não ser uma mochila de lona, uma pilha de livros bastante folheados, um rádio de onda curtas e uma scooter velha que tinha comprado em Gustávia com umas notas encardidas e um sorriso. Os livros eram grossos, pesados e muito usados; o rádio tinha uma qualidade raramente vista hoje em dia. No final da noite, quando ele se sentava na varanda meio inclinada, lendo à luz de uma lanterna à pilha, o som da música flutuava acima do farfalhar das folhas de palmeira e o gentil ir e vir das ondas. Jazz e clássica, principalmente, e às vezes um pouco de reggae das estações de outros países. A cada hora, ele deixava o livro e ouvia atentamente as notícias da BBC. Então, quando terminava o boletim, ele procurava algo de que gostasse, e as palmeiras e o mar mais uma vez dançavam ao ritmo de sua música.
No começo, não estava claro se estava de férias, de passagem, se escondendo ou planejando viver permanentemente na ilha. Dinheiro não parecia ser um problema. De manhã, quando ia à confeitaria tomar o café da manhã, sempre dava boas gorjetas às garotas. E à tarde, quando parava no pequeno mercado perto do cemitério para comprar cerveja alemã e cigarro americano, nunca se importava com o troco que saía do dispensador automático. Seu francês era razoável, mas tingido com um sotaque que ninguém conseguia identificar. Seu espanhol, que ele falava com o dominicano que trabalhava no balcão do JoJo Burger, era muito melhor, mas ainda havia aquele sotaque. As garotas na confeitaria decidiram que ele era australiano, mas os garotos do JoJo Burger achavam que era africânder. Estavam por todo o Caribe, os africânderes. Na maior parte, gente decente, mas uns poucos deles tinham negócios escusos.
Os dias dele, apesar de indefinidos, não pareciam totalmente despropositados. Ele tomava café na confeitaria, parava na banca de jornal em Saint-Jean para comprar vários jornais ingleses e americanos do dia anterior, fazia exercícios rigorosos na praia, lia densos volumes de literatura e história com um chapéu cobrindo os olhos. E, certa vez, ele alugou um barco e passou a tarde mergulhando na ilha de Tortu. Mas sua inatividade parecia mais forçada do que voluntária. Ele parecia um soldado ferido esperando voltar ao campo de batalha, um exilado sonhando com sua terra natal, onde quer que fosse.
De acordo com Jean-Marc, oficial de aduana no aeroporto, ele tinha chegado em um voo de Guadalupe com um passaporte venezuelano válido e o peculiar nome de Colin Hernandez. Parecia ser o produto de um breve casamento entre uma mãe anglo-irlandesa e um pai espanhol. A mãe tinha brincado de ser poeta; o pai tinha feito algo suspeito com dinheiro. Colin odiava o pai, mas falava da mãe como se a canonização fosse uma mera formalidade. Carregava a foto dela em sua carteira. O menino loiro no colo dela não se parecia muito com ele, mas o tempo fazia essas coisas.
O passaporte dizia que tinha 38, o que parecia correto, e sua ocupação era “empresário”, o que podia significar qualquer coisa. As garotas da padaria achavam que era um escritor buscando inspiração. O que mais explicaria o fato de que quase nunca era visto sem um livro? Mas as garotas do mercado criaram uma louca teoria, totalmente sem base, de que ele tinha assassinado um homem em Guadalupe e estava se escondendo em São Bartolomeu até a tempestade passar. O dominicano do JoJo Burger, que estava se escondendo, achou a hipótese ridícula. Colin Hernandez, ele declarou, era apenas outro preguiçoso vivendo do dinheiro de um pai que odiava. Ele ficaria ali até se cansar, ou até o dinheiro acabar. Aí voaria para outro lugar e, em dois ou três dias, ninguém nem se lembraria do nome dele.
Finalmente, um mês depois de sua chegada, houve uma pequena mudança na rotina. Depois de almoçar no JoJo Burger, ele foi até o barbeiro em Saint-Jean, e quando saiu, sua juba negra desgrenhada estava raspada, esculpida e lustrosamente azeitada. Na manhã seguinte, quando apareceu na padaria, estava recém-barbeado e vestido com calça cáqui e uma camisa branca bem passada. Ele tomou o café de sempre — uma xícara grande de café com leite e uma fatia de pão — enquanto lia o Times de Londres do dia anterior. Aí, em vez de voltar para casa, ele subiu na scooter e foi até Gustávia. Ao meio-dia, finalmente ficou claro por que o homem chamado Colin Hernandez tinha vindo a São Bartolomeu.
Ele foi primeiro ao velho e imponente hotel Carl Gustaf, mas o chef, depois de saber que ele não tinha nenhum treinamento formal, se recusou a entrevistá-lo. Os donos do Maya’s o recusaram educadamente, assim como os gerentes do Wall House, Ocean e La Cantina. Ele tentou o La Plage, mas não se interessaram. Nem o Eden Rock, o Guanahani, La Crêperie, Le Jardin ou Le Grain de Sel, o solitário posto de frente para os pântanos de sal de Saline. Até La Gloriette, fundado por um exilado político, não quis nada com ele.
Decidido, ele tentou a sorte nas joias pouco conhecidas da ilha: o bar do aeroporto, o boteco Creole do outro lado da rua, o pequeno estabelecimento que vendia pizza e panini no estacionamento do supermercado L’Oasis. E foi ali que a sorte finalmente sorriu para ele, pois descobriu que o chef no Le Piment tinha sido despedido depois de uma longa disputa sobre horas e salário. Às quatro horas daquela tarde, depois de demonstrar suas habilidades na minúscula cozinha do Le Piment, ele foi contratado. Trabalhou seu primeiro turno aquela mesma noite. As críticas foram todas brilhantes.
Na verdade, não demorou muito para que suas proezas culinárias se espalhassem pela pequena ilha. Le Piment, antes lugar frequentado apenas por nativos e habitués, logo estava cheio de uma nova clientela, todos elogiando o novo chef misterioso com esse peculiar nome anglo-espanhol. O Carl Gustaf tentou roubá-lo, assim como o Eden Rock, o Guanahani e o La Plage, todos sem sucesso. Portanto, Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, estava pessimista quando apareceu no Le Piment sem fazer reserva, na noite posterior ao desaparecimento de Spider Barnes. Foi forçado a esperar por trinta minutos no bar antes de finalmente conseguir uma mesa. Pediu três tira-gostos e três entradas. E depois de experimentar cada um, pediu para falar com o chef. Dez minutos se passaram antes de ele aparecer.
— Com fome? — perguntou o homem chamado Colin Hernandez, olhando os pratos de comida.
— Não muito.
— Então, por que veio aqui?
— Queria ver se você era tão bom quanto todos parecem pensar que é.
Ogilvy esticou a mão e se apresentou — posto e nome, seguido pelo nome do barco. O homem chamado Colin Hernandez levantou a sobrancelha, curioso.
— O Aurora é o barco de Spider Barnes, não é?
— Conhece o Spider?
— Acho que já tomei algo com ele uma vez.
— Não foi o único.
Ogilvy olhou bem para a figura parada na frente dele. Era compacto, forte, formidável. Para o olho agudo do inglês, ele parecia um homem que tinha navegado por mares duros. Sua sobrancelha era escura e grossa; o queixo era robusto e resoluto. É um rosto, pensou Ogilvy, feito para aguentar um soco.
— Você é venezuelano — ele disse.
— Quem falou?
— Todo mundo que se recusou a contratá-lo quando estava procurando emprego.
Os olhos de Ogilvy foram do rosto para a mão descansando nas costas da cadeira. Não havia evidências de tatuagens, o que ele viu como um sinal positivo. Ogilvy via a cultura moderna da tinta como uma forma de automutilação.
— Você bebe? — ele perguntou.
— Não como o Spider.
— Casado?
— Só uma vez.
— Filhos?
— Deus, não.
— Vícios?
— Coltrane e Monk.
— Já matou alguém?
— Não que me lembre.
Disse isso com um sorriso. Reginald Ogilvy também sorriu.
— Estou me perguntando se poderia tentá-lo a deixar esse lugar — falou, olhando para o modesto salão aberto do restaurante. — Estou preparado para pagar um salário generoso. E quando não estivermos no mar, você terá muito tempo livre para fazer o que gosta de fazer quando não está cozinhando.
— Quanto generoso?
— Dois mil por semana.
— Quanto o Spider estava ganhando?
— Três — respondeu Ogilvy depois de hesitar por um momento. — Mas o Spider ficou comigo por dois anos.
— Ele não está mais com você agora, está?
Ogilvy fingiu pensar um pouco.
— Três, então — ele falou. — Mas preciso que você comece imediatamente.
— Quando você parte?
— Amanhã de manhã.
— Nesse caso — disse o homem chamado Colin Hernandez — acho que terá de me pagar quatro.
Reginald Ogilvy, capitão do Aurora, olhou os pratos de comida antes se levantar.
— Oito horas — ele falou. — Não se atrase.
François, o dono do Le Piment, um marselhês bravo, não recebeu bem a notícia. Soltou uma série de xingamentos no rápido patois do sul. Houve promessas de vingança. E também uma garrafa de um Bordeaux bastante bom, vazia, quebrando-se em milhares de pedaços quando se espatifou contra a parede da pequena cozinha. Mais tarde, François negaria que tinha mirado em seu antigo chef. Mas Isabelle, uma garçonete que presenciou o incidente, iria questionar a versão dele dos eventos. François, ela jurou, tinha jogado a garrafa como se fosse uma adaga diretamente na cabeça de Monsieur Hernandez. E Monsieur Hernandez, ela se lembra, tinha se esquivado do objeto com um movimento que foi tão curto e rápido que ocorreu em um piscar de olho. Depois, ele olhou friamente por um longo tempo para François como se estivesse decidindo a melhor forma de quebrar o pescoço dele. Então, calmamente, tirou seu avental branco limpo e subiu em sua scooter.
Passou o resto da noite na varanda de sua casa, lendo sob a luz da lâmpada de querosene. E, a cada hora, ele abaixava seu livro e ouvia o noticiário da BBC com o vaivém das ondas na praia e o balanço das folhas das palmeiras com o vento noturno. De manhã, após um mergulho revigorante no mar, tomou banho, se vestiu e empacotou as coisas na mochila: roupas, livros e o rádio. Além disso, empacotou dois itens que tinham sido deixados para ele na ilha de Tortu: uma Stechkin 9mm com silenciador e um pacote retangular, trinta por cinquenta centímetros. O pacote pesava exatamente sete quilos. Ele o colocou no centro da mochila, assim ela ficaria bem equilibrada quando fosse carregada.
Deixou a praia de Lorient pela última vez às sete e meia e, com a mochila sobre o joelho, foi para Gustávia. O Aurora brilhava na ponta do porto. Ele subiu às dez para as oito e a sous-chef, uma garota inglesa magra com o nome improvável de Amelia List, mostrou qual era a cabine dele. Guardou suas posses no armário — incluindo o revólver Stechkin e o pacote de sete quilos — e vestiu as roupas de chef que tinham sido deixadas na cama para ele. Amelia List estava esperando no corredor quando ele saiu. Ela o acompanhou até a cozinha e apresentou a despensa de produtos secos, a geladeira e a adega cheia de vinhos. Foi ali, no frio escuro, que ele teve seu primeiro pensamento sexual com a garota inglesa em seu uniforme branco. Não fez nada para evitar. Estava solteiro havia tantos meses que quase nem conseguia se lembrar como era tocar o cabelo de uma mulher ou acariciar a pele de um seio indefeso.
Alguns minutos antes das dez horas veio o anúncio pelo intercomunicador do barco instruindo a todos os membros da tripulação a se apresentarem no deque posterior. O homem chamado Colin Hernandez seguiu Amelia List até o lado de fora e estava parado ao lado dela quando duas Range Rovers negras brecaram na popa do Aurora. Da primeira saíram duas garotas queimadas de sol, rindo, e um homem com o rosto rosa-claro, de cerca de quarenta e poucos anos, carregando auma sacola de praia cor-de-rosa em uma mão e o gargalo de uma garrafa aberta de champanhe na outra. Dois homens atléticos desceram do segundo Rover, seguidos um momento depois por uma mulher que parecia estar sofrendo de um caso terminal de melancolia. Usava um vestido cor de pêssego que deixava a impressão de nudez parcial, um chapéu de amplas abas que escondiam seus ombros delgados e grandes óculos escuros que cobriam boa parte de seu rosto de porcelana. Mesmo assim, ela era instantaneamente reconhecível. Seu perfil a traía, o perfil tão admirado pelos fotógrafos de moda e os paparazzi que a seguiam para aonde fosse. Não havia paparazzi naquela manhã. Dessa vez, ela conseguiu enganá-los.
A mulher subiu no Aurora como se estivesse entrando em uma tumba aberta e passou pela equipe reunida sem uma palavra ou um olhar, caminhando tão perto do homem chamado Colin Hernandez que ele precisou suprimir a vontade de tocá-la para ter certeza de que era real e não um holograma. Cinco minutos depois, o Aurora partiu do porto e ao meio-dia a encantada ilha de São Bartolomeu era um ponto verde e marrom no horizonte. Esticada e de topless no deque da frente, uma bebida na mão, sua pele perfeita tostando ao sol, estava a mulher mais famosa do mundo. E no deque embaixo, preparando uma entrada de torta de atum, pepino e abacaxi, estava o homem que ia matá-la.
2
SAINDO DAS ILHAS DE BARLAVENTO
TODO MUNDO CONHECIA A história. Até aqueles que fingiam não se importar, ou mostravam desdém por seu culto de devoção mundial, conheciam todos os detalhes sórdidos. Ela era uma garota muito tímida e bonita de classe média de Kent, que tinha conseguido entrar em Cambridge e ele era o bonito e, um pouco mais velho, futuro rei da Inglaterra. Eles tinham se conhecido em um debate no campus que tinha algo a ver com o meio ambiente e, de acordo com a lenda, o futuro rei ficou instantaneamente apaixonado. Seguiu-se um longo namoro, quieto e discreto. A garota foi aprovada pelo povo do futuro rei; o futuro rei, pelo dela. Finalmente, um dos piores tabloides conseguiu tirar uma fotografia do casal deixando o baile de verão anual do duque de Rutland no castelo Belvoir. O Palácio de Buckingham soltou um comunicado morno confirmando o óbvio: que o futuro rei e a garota de classe média sem sangue aristocrático nas veias estavam namorando. Um mês depois, com os tabloides lotados de rumores e especulações, o palácio anunciou que a garota de classe média e o futuro rei planejavam se casar.
Isso aconteceu na catedral de St. Paul em uma manhã de junho, quando os céus do sul da Inglaterra estavam tomados pela chuva. Mais tarde, quando as coisas não foram bem, uma parte da imprensa britânica iria escrever que estavam condenados desde o começo. A garota, por temperamento e criação, não estava preparada para a vida no aquário real; e o futuro rei, pelas mesmas razões, não estava preparado para o casamento. Ele tinha muitas amantes, demais para serem contadas, e a garota o puniu levando um de seus guarda-costas para a cama. O futuro rei, quando ficou sabendo do caso dela, baniu o guarda para um posto solitário na Escócia. Consternada, a garota tentou se suicidar tomando uma overdose de pílulas para dormir e foi levada à emergência do Hospital St. Anne. O Palácio de Buckingham anunciou que ela estava sofrendo de desidratação causada por um surto de gripe. Quando perguntaram por que seu marido não a visitou no hospital, disseram algo sobre um conflito de agendas. A declaração oficial levantou muito mais perguntas do que respostas.
Quando ela teve alta, ficou óbvio para aqueles que seguiam a família real que a linda esposa do futuro rei não estava nada bem. Mesmo assim, ela cumpriu seus deveres matrimoniais dando dois herdeiros a ele, um menino e uma menina, os dois nascidos depois de períodos de gravidez breves e difíceis. O rei mostrou sua gratidão voltando para a cama de uma mulher a quem já tinha proposto casamento, e a princesa retaliou alcançando um grau de celebridade global que eclipsou a santa mãe do rei. Ela viajava pelo mundo apoiando causas nobres, uma horda de repórteres e fotógrafos acompanhando cada palavra e movimento dela e, mesmo assim, ninguém parecia notar que ela estava desenvolvendo algum tipo de loucura. Finalmente, com sua bênção e quieta assistência, a história apareceu nas páginas de um livro que contava tudo: as infidelidades de seu marido, os surtos de depressão, as tentativas de suicídio, os distúrbios alimentares causados pela constante exposição à imprensa e ao público. O futuro rei, com ódio, iniciou vários vazamentos de notícias retaliatórias sobre o comportamento errático de sua esposa. Aí aconteceu o golpe de misericórdia: a gravação de uma conversa telefônica apaixonada entre a princesa e seu amante favorito. Nesse momento, a rainha chegou ao limite. Com a monarquia em perigo, ela pediu que o casal se divorciasse o mais rápido possível. Eles fizeram isso um mês depois. O Palácio de Buckingham, sem um traço de ironia, publicou uma declaração afirmando que o fim do casamento real tinha sido “amigável”.
A princesa teve a permissão para manter seus aposentos no Palácio de Kensignton, mas perdeu o título de Sua Alteza Real. A rainha ofereceu um título inferior, mas ela recusou, preferindo ser chamada pelo nome. Ela até recusou seus guarda-costas SO14, pois achava que eram mais espiões do que seguranças. O palácio acompanhava discretamente seus movimentos e associações, assim como a inteligência britânica, que a via mais como um incômodo que como uma ameaça ao reino.
Em público, ela era o rosto radiante da compaixão global, mas por trás de portas fechadas, ela bebia muito e se cercava com um séquito que um conselheiro real descreveu como “eurolixo”. Nessa viagem, no entanto, havia menos acompanhantes que o normal. As duas mulheres bronzeadas eram amigas de infância; o homem que embarcou no Aurora com uma garrafa aberta de champanhe era Simon Hastings-Clarke, o visconde absurdamente rico que bancava o estilo de vida ao qual tinha se acostumado. Foi Hastings-Clarke que a levou para voar ao redor do mundo em sua frota de jatos, e era Hastings-Clarke que pagava a conta de seus guarda-costas. Os dois homens que a acompanhavam ao Caribe eram empregados de uma empresa de segurança privada em Londres. Antes de deixar Gustávia, eles tinham feito uma inspeção superficial sobre o Aurora e sua tripulação. Sobre o homem chamado Colin Hernandez, fizeram só uma pergunta: “O que vamos almoçar?”
A pedido da ex-princesa, o bufê foi leve, apesar de nem ela nem seus acompanhantes parecessem muito interessados. Beberam muito aquela tarde, torrando o corpo no forte sol, até que uma tempestade fez com que entrassem rindo em seus quartos. Ficaram lá até às nove da noite, quando saíram vestidos e penteados como se fossem a uma festa no jardim de Somerset. Tomaram coquetéis e comeram canapés no deque e depois foram até o salão principal para jantar: salada com trufas ao vinagrete, seguida de risoto de lagosta e costelas de cordeiro com alcachofra, limão forte, abobrinha e piment d’argile. A ex-princesa e seus acompanhantes declaram que a refeição tinha sido magnífica e exigiram a presença do chef. Quando ele finalmente apareceu, foi recebido com um aplauso infantil.
— O que vai nos fazer amanhã à noite? — perguntou a ex-princesa.
— É uma surpresa — ele respondeu, com seu peculiar sotaque.
— Ah, ótimo — ela disse, com o mesmo sorriso que ele já tinha visto em incontáveis capas de revistas. — Adoro surpresas.
Era uma equipe pequena, oito ao todo, e era responsabilidade do chef e da sua assistente cuidar da porcelana, das taças, da prataria e das panelas, além dos utensílios de cozinha. Eles ficaram lado a lado na pia muito depois que a ex-princesa e seus acompanhantes tinham saído, suas mãos ocasionalmente se tocando debaixo da água quente com sabão, o quadril ossudo dela pressionando a coxa dele. E, uma vez, quando passaram um atrás do outro no gabinete apertado, os bicos duros dos seios dela traçaram duas linhas nas costas dele, enviando uma descarga de eletricidade e sangue para o meio das pernas dele. Foram cada um para sua cabine, mas alguns minutos depois ele ouviu uma batida leve em sua porta. Ela o agarrou sem fazer nenhum som. Era como fazer amor com uma muda.
— Talvez tenha sido um erro — ela sussurrou no ouvido dele quando terminaram.
— Por que você está falando isso?
— Porque vamos trabalhar juntos por muito tempo.
— Não tanto.
— Você não está planejando ficar?
— Isso depende.
— Do quê?
Ele não falou mais nada. Ela deitou a cabeça no peito dele e fechou os olhos.
— Você não pode ficar aqui — ele disse.
— Eu sei — ela respondeu meio adormecida. — Só um pouco mais.
Ele ficou imóvel por muito tempo, com Amelia List dormindo em seu peito, o Aurora subindo e descendo debaixo dele e sua mente trabalhando sobre os detalhes do que iria acontecer. Finalmente, às três horas, ele saiu da cama e caminhou nu pela cabine até o armário. Em silêncio, vestiu sua calça preta, um suéter de lã e um casaco escuro à prova d’água. Tirou o envoltório do pacote — que media trinta por cinquenta centímetros e pesava exatamente sete quilos — e conectou a fonte de energia e o relógio do detonador. Colocou o pacote de volta no armário e ia pegar o revólver Stechkin quando ouviu a garota se mexer atrás dele. Virou-se lentamente e olhou para ela no escuro.
— O que era aquilo? — ela perguntou.
— Volte a dormir.
— Vi uma luz vermelha.
— Era meu rádio.
— Por que está ouvindo rádio às três da manhã?
Antes que ele pudesse responder, o abajur se acendeu. Os olhos dela correram pela roupa escura antes de pararem na arma com silenciador que ainda estava nas mãos dele. Ela abriu a boca para gritar, mas ele colocou sua palma sobre o rosto dela antes que qualquer som pudesse escapar. Enquanto ela lutava para se livrar da mão dele, o homem sussurrou baixinho no ouvido dela.
— Não se preocupe, meu amor — ele estava falando. — Só vai doer um pouco.
Os olhos se abriram com terror. Então ele girou a cabeça dela violentamente para a esquerda, quebrando sua coluna vertebral e a segurou gentilmente enquanto ela morria.
Não era costume de Reginald Ogilvy acordar logo cedo, mas a preocupação com a segurança de sua famosa passageira o levou à ponte de comando do Aurora nas primeiras horas daquela manhã. Estava verificando a previsão do tempo no computador de bordo, uma xícara de café fresco na mão, quando o homem chamado Colin Hernandez apareceu no alto da escada, vestido totalmente de preto. Ogilvy levantou a vista e perguntou:
— O que você está fazendo aqui? — Mas não recebeu nenhuma resposta a não ser dois tiros da Stechkin silenciada, que furaram seu uniforme e atingiram o coração.
A xícara de café caiu no chão; Ogilvy, instantaneamente morto, desabou pesado ao lado dela. Seu assassino caminhou calmamente pelo console, fez um ligeiro ajuste na direção do barco, e desceu a escada. O deque principal estava deserto, nenhum outro membro da tripulação estava de serviço. Ele baixou um dos botes no mar escuro, subiu e soltou a corda.
Deixou o bote livre, debaixo de um céu cheio de diamantes brancos, enquanto olhava o Aurora navegar para o leste em direção às linhas de barcos do Atlântico, sem piloto, um barco fantasma. Verificou seu relógio de pulso, que brilhava. Então, quando ele marcou zero, olhou para cima de novo. Mais 15 segundos se passaram, tempo suficiente para considerar a remota possibilidade de que a bomba tinha algum defeito. Finalmente, houve uma explosão no horizonte — a luz branca cegante do explosivo, seguida pelo laranja-amarelado da explosão secundária e do fogo.
O som era como um rumor de um trovão distante. Depois disso, só se ouvia o mar batendo contra a lateral do bote e o vento. Apertando um botão, ele ligou o motor de popa e ficou olhando enquanto o Aurora começava sua jornada para o fundo do mar. Então, direcionou o bote para o oeste e acelerou.
3
CARIBE — LONDRES
O PRIMEIRO INDICADOR DE PROBLEMAS veio quando o Pegasus Global Charters de Nassau informou que uma mensagem de rotina a um de seus barcos, o luxuoso iate de 47 metros, o Aurora, não tinha sido respondida. O centro de operações Pegasus imediatamente solicitou assistência de todos os barcos comerciais e de turismo na vizinha das Ilhas de Barlavento e, em poucos minutos, a tripulação de um petroleiro com bandeira liberiana informou que tinham visto uma luz estranha na área aproximadamente às 3h45 daquela manhã. Logo depois, a tripulação de um container viu um dos botes do Aurora flutuando vazio e sem rumo aproximadamente a cem milhas ao sudoeste de Gustávia. Simultaneamente, um barco particular encontrou coletes salva-vidas e outros restos flutuando algumas milhas ao oeste. Temendo o pior, a gerência da Pegasus ligou para o Alto Comissariado Britânico, em Kingston, e informou ao cônsul honorário que o Aurora estava desaparecido e possivelmente perdido. A gerência então enviou uma cópia da lista de passageiros, que incluía o nome da ex-princesa.
— Diga que não é ela — pediu o cônsul honorário, incrédulo, mas a gerência do Pegasus confirmou que a passageira era realmente a ex-esposa do futuro rei.
O cônsul imediatamente ligou para seus superiores no Foreign Office, em Londres, e os superiores determinaram que a situação era suficientemente grave para acordar o primeiro-ministro Jonathan Lancaster, e foi quando a crise realmente começou.
O primeiro-ministro deu a notícia ao futuro rei por telefone, à uma e meia, mas esperou até às nove para informar ao povo britânico e ao mundo. Parado na frente da porta preta do número 10 da Downing Street, o rosto triste, ele contou os fatos que eram conhecidos no momento. A ex-esposa do futuro rei tinha viajado ao Caribe na companhia de Simon Hastings-Clarke e duas amigas de longa data. Na ilha paradisíaca de São Bartolomeu, o grupo tinha subido ao luxuoso iate Aurora para um cruzeiro de uma semana. Todo contato com o barco tinha sido perdido e restos da embarcação foram encontrados espalhados pelo mar.
— Esperamos e oramos para que a princesa seja encontrada viva — disse o primeiro-ministro, solene. — Mas devemos nos preparar para o pior.
O primeiro dia de busca não foi bem-sucedido em encontrar sobreviventes ou pistas. Nem o segundo ou o terceiro. Depois de se reunir com a rainha, o primeiro-ministro Lancaster anunciou que seu governo estava trabalhando com a suposição de que a adorada princesa estava morta. No Caribe, as equipes de busca concentraram seus esforços em encontrar restos do barco em vez de corpos. Não seria uma longa busca. Na verdade, apenas 48 horas depois, um submarino automático operado pela marinha francesa descobriu o Aurora debaixo de dois mil pés de água salgada. Um especialista que viu as imagens de vídeo disse que era evidente que o barco tinha sofrido algum tipo de problema cataclísmico, quase certamente uma explosão.
— A pergunta é — ele disse —: foi um acidente ou foi intencional?
A maioria das pessoas do país — diziam pesquisas confiáveis — se recusava a acreditar que a ex-princesa tinha realmente morrido. Eles mantinham a esperança de que somente um dos dois botes do Aurora tinha sido encontrado. Claro, argumentavam, ela estava perdida no mar aberto ou tinha sido levada pela correnteza até uma ilha deserta. Um site pouco sério chegou a informar que ela foi vista em Montserrat. Outro disse que estava vivendo tranquila à beira-mar, em Dorset. Teóricos da conspiração de todos os tipos criaram histórias sensacionalistas sobre um plano para matar a princesa que foi concebido pelo Conselho Privado da Rainha e realizado pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânico, mais conhecido como MI6. Havia muita pressão para que seu chefe, Graham Seymour, fizesse uma declaração negando as alegações, mas ele se recusou.
— Isso não são alegações — ele disse ao secretário de relações exteriores durante uma tensa reunião na enorme sede do serviço ao lado do rio. — São fantasias criadas por pessoas com problemas mentais, e não vou me rebaixar a dar uma resposta a elas.
Em particular, no entanto, Seymour já tinha chegado à conclusão de que a explosão a bordo do Aurora não tinha sido um acidente. Da mesma forma que sua contraparte no DGSE, o bastante eficiente serviço de inteligência francês. Um analista francês,vendo o vídeo dos destroços, tinha determinado que o Aurora fora destruído por uma bomba detonada no deque inferior. Mas quem tinha levado a bomba para dentro do barco? E quem tinha ligado o detonador? O principal suspeito do DGSE era o homem que tinha sido contratado para substituir o chef desaparecido do Aurora na noite antes da partida do iate. Os franceses enviaram ao MI6 um vídeo granulado de sua chegada ao aeroporto de Gustávia, junto com algumas fotos de baixa qualidade capturada por câmeras de segurança de algumas lojas. Mostrava um homem que não se importava em aparecer em fotos.
— Ele não me parece o cara que afundaria um barco — Seymour disse em uma reunião de sua equipe. — Ele está solto por aí, em algum lugar. Descubram quem ele é e onde está se escondendo, preferencialmente antes dos franceses.
Ele era um sussurro em uma capela meio acesa, um fio perdido na bainha de uma roupa descartada. Eles verificaram as fotografias nos computadores. E, quando os computadores não encontraram uma combinação, procuraram por ele da forma antiga, com sapatos de couro e envelopes cheios de dinheiro — dinheiro norte-americano, claro, pois nas regiões inferiores do mundo da espionagem, os dólares continuavam a ser a moeda comum. O homem do MI6 em Caracas não encontrou nenhum traço dele. Nem conseguiram encontrar alguma pista de uma mãe anglo-irlandesa com um coração poético, ou um pai empresário espanhol. O endereço de seu passaporte terminou sendo uma favela em Caracas; seu último número conhecido há muito estava desconectado. Um informante pago dentro da polícia secreta venezuelana disse que tinha ouvido um rumor sobre uma ligação com Castro, mas uma fonte perto da inteligência cubana murmurou algo sobre os cartéis colombianos.
— Talvez antes — disse um policial incorruptível em Bogotá —, mas ele se afastou dos grandes traficantes há muito tempo. A última coisa que ouvi é que estava vivendo no Panamá com uma das antigas amantes de Noriega. Tinha muitos milhões guardados em um banco panamenho sujo e um condomínio em Playa Farallón.
A antiga amante negou conhecê-lo e o gerente do banco em questão, depois de aceitar um suborno de dez mil dólares, não conseguiu encontrar nenhum registro de conta em nome dele. Quanto ao condomínio na praia em Farallón, um vizinho quase não conseguia se lembrar de sua aparência, só da voz dele.
— Ele falava com um sotaque peculiar — disse. — Parecia que era da Austrália. Ou seria da África do Sul?
Graham Seymour monitorou a busca pelo suspeito do conforto de seu escritório, o melhor de todo o mundo da espionagem, com um jardim inglês no vestíbulo, uma enorme mesa de mogno usada por todos os chefes antes dele, janelas enormes voltadas para o rio Tâmisa e o imponente relógio de seu avô construído por ninguém menos que Sir Mansfield Smith Cumming, o primeiro “C” do Serviço Secreto Britânico. O esplendor do que tinha ao seu redor deixava Seymour inquieto. Em seu distante passado, ele tinha sido um homem de campo de alguma reputação — não no MI6, mas no MI5, o serviço de segurança interno menos glamoroso da Grã-Bretanha, onde havia servido com distinção antes de fazer a curta viagem da Thames House a Vauxhall Cross. Havia alguns no MI6 que se ressentiam da indicação de alguém de fora, mas a maioria via “a transferência”, como tinha ficado conhecida no meio, como um tipo de volta para casa. O pai de Seymour foi um lendário oficial do MI6, enganando nazistas, com importante participação em vários eventos no Oriente Médio. E agora seu filho, no auge da vida, se sentava atrás da mesa na qual Seymour pai tinha se apresentado para receber ordem.
Com o poder, no entanto, geralmente vem um sentimento de desamparo. E Seymour, o espiocrata, o espião de sala de reuniões, caiu vítima dele. Com busca cada vez mais infrutífera, e com a pressão de Downing Street e do palácio crescendo, seu mau humor ia piorando. Ele mantinha uma foto do alvo em sua mesa, perto do tinteiro vitoriano e da caneta-tinteiro Parker que usava para marcar documentos com seu criptograma pessoal. Algo no rosto era familiar. Seymour suspeitava que, em algum lugar — em outro campo de batalha, em outra terra —, seus caminhos tinham se cruzado. Não importava que os bancos de dados do serviço não afirmassem isso. Seymour confiava em sua memória mais do que na memória de qualquer computador do governo.
E assim, com as mãos em campo levando a falsas pistas e a poços vazios, Seymour conduzia uma busca própria a partir da gaiola dourada no alto de Vauxhall Cross. Ele começou esquadrinhando sua prodigiosa memória, e quando não deu certo, pediu acesso a uma pilha de casos antigos do MI5 e procurou ali também. Novamente não encontrou nenhuma pista. Finalmente, na manhã do décimo dia, o telefone na mesa de Seymour tocou levemente. O tom diferente mostrou que quem ligava era Uzi Navot, o chefe do tão falado serviço de inteligência de Israel. Seymour hesitou, depois levantou o telefone de forma cautelosa. Como sempre, o chefe dos espiões israelense não se importou em alguma troca de amabilidade.
— Acho que podemos ter encontrado o homem que você está procurando.
— Quem é ele?
— Um velho amigo.
— Seu ou nosso?
— Seu — disse o israelense. — Não temos nenhum amigo.
— Pode nos dizer o nome dele?
— Não pelo telefone.
— Quão rapidamente pode chegar a Londres?
A linha ficou muda.
4
VAUXHALL CROSS, LONDRES
UZI NAVOT CHEGOU A Vauxhall Cross pouco antes das onze da noite e foi levado à suíte executiva pelo elevador. Estava usando um terno cinza que parecia apertado para os ombros fortes, uma camisa branca aberta em seu grosso pescoço e óculos sem aro que marcavam a ponte de seu nariz de pugilista. À primeira vista, poucos presumiam que Navot era israelense, ou mesmo judeu, um traço que tinha funcionado bem durante sua carreira. Uma vez, ele tinha sido um katsa, o termo usado por seu serviço para descrever agentes de campo disfarçados. Armado com bom conhecimento de vários idiomas e uma pilha de falsos passaportes, Navot tinha penetrado em redes de terror e recrutado vários espiões e informantes espalhados pelo mundo. Em Londres, ficou conhecido como Clyde Bridges, o diretor de marketing europeu de uma obscura empresa de software. Tinha dirigido várias operações bem-sucedidas em solo britânico na época, quando era responsabilidade de Seymour evitar essas atividades. Seymour não guardava rancor, pois essa era a natureza dos relacionamentos entre espiões: adversários um dia, aliados no outro.
Um frequente visitante em Vauxhall Cross, Navot não comentou nada sobre a beleza do grande escritório de Seymour. Nem se dedicou à fofoca profissional que precedia a maioria dos encontros entre habitantes do mundo secreto. Seymour sabia os motivos do humor taciturno do israelense. O primeiro mandato de Navot como chefe estava terminando, e o primeiro-ministro tinha pedido que ele saísse para que outro homem assumisse, um lendário agente com quem Seymour tinha trabalhado em diversas ocasiões. Havia boatos de que a lenda tinha feito um acordo para que Navot continuasse. Era algo pouco ortodoxo permitir que seu predecessor continuasse no serviço, mas a lenda raramente se preocupava com a ortodoxia. A disposição para correr riscos era sua maior força — e às vezes, pensou Seymour, sua ruína.
Na forte mão direita de Navot estava pendurada uma maleta de aço inoxidável com trava de combinação. Dela, tirou uma fina pasta, que colocou sobre a mesa de mogno. Dentro havia um documento, uma página; os israelenses se orgulhavam da brevidade de seus arquivos. Seymour leu a linha de assunto. Aí olhou para a fotografia ao lado de seu tinteiro e xingou baixinho. Do lado oposto da mesa imponente, Uzi Navot se permitiu um breve sorriso. Não era comum que conseguissem contar ao diretor-geral do MI6 algo que ele ainda não sabia.
— Quem é a fonte da informação? — perguntou Seymour.
— É possível que seja um iraniano — respondeu Navot, vagamente.
— O MI6 tem acesso regular a seu produto?
— Não — respondeu Navot. — Ele é exclusivamente nosso.
O MI6, a CIA e a inteligência israelense trabalharam juntos durante mais de uma década para evitar que os iranianos chegassem a ter armas nucleares. Os três serviços tinham operado conjuntamente contra a rede de suprimentos nuclear iraniana e compartilharam grande quantidade de dados técnicos e de inteligência. Era reconhecido que os israelenses tinham as melhores fontes humanas em Teerã e, para contrariedade dos norte-americanos e britânicos, eles as protegiam com todo cuidado. Julgando pelo escrito no relatório, Seymour suspeitava de que o espião de Navot trabalhava para o VEVAK, o serviço de inteligência iraniano. As fontes do VEVAK eram famosas pela dificuldade de trato. Às vezes a informação que trocavam por dinheiro ocidental era genuína. Outras vezes estava a serviço da taqiyya, a prática persa de mostrar uma intenção enquanto abrigava outra.
— Acredita nele? — perguntou Seymour.
— Não estaria aqui se não acreditasse. — Navot fez uma pausa e acrescentou: — E algo me diz que você acredita também.
Quando Seymour não respondeu, Navot tirou um segundo documento da maleta e colocou na mesa, perto dele.
— É uma cópia de um relatório que enviamos ao MI6 há três anos — ele explicou. — Sabíamos sobre sua conexão com os iranianos já naquela época. Também sabíamos que estava trabalhando com Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda e qualquer um que pagasse.
Navot acrescentou:
— Seu amigo não discrimina muito com quem ele anda.
— Foi antes da minha época — respondeu Seymour.
— Mas agora é seu problema. — Navot apontou para uma passagem perto do final do documento. — Como consegue ver, fizemos a proposta de uma operação para tirá-lo de circulação. Até nos apresentamos como voluntários para fazer o serviço. E como você acha que seu predecessor respondeu a nossa generosa oferta?
— Obviamente, ele recusou.
— Com extremo preconceito. Na verdade, ele nos disse em termos bem claros que não deveríamos colocar um dedo nele. Estava com medo de que isso abriria uma caixa de Pandora. — Navot balançou a cabeça lentamente. — E, agora, aqui estamos nós.
A sala estava silenciosa, exceto pelo tique-taque do velho relógio do avô de C. Finalmente, Navot perguntou com a voz baixa:
— Onde você estava naquele dia, Graham?
— Que dia?
— Cinco de agosto, mil novecentos e noventa e oito.
— O dia da bomba?
Navot assentiu.
— Sabe muito bem onde eu estava — respondeu Seymour. — Estava no Cinco.
— Você era o chefe de contraterrorismo.
— É.
— O que significa que era sua responsabilidade.
Seymour não falou nada.
— O que aconteceu, Graham? Como ele conseguiu?
— Foram cometidos erros. Sérios erros. Sérios o suficiente para arruinar carreiras, até hoje. — Seymour juntou os dois documentos e os devolveu a Navot. — Sua fonte iraniana contou por que ele fez isso?
— É possível que ele tenha voltado a uma antiga briga. Também é possível que estivesse agindo em nome de outros. De qualquer forma, é preciso lidar com ele, antes que seja tarde demais.
Seymour não respondeu.
— Nossa oferta ainda está de pé, Graham.
— Que oferta?
— Vamos cuidar dele — respondeu Navot. — E depois vamos enterrá-lo em um buraco tão fundo que ninguém da época dos conflitos vai conseguir recuperá-lo.
Seymour ficou em um silêncio contemplativo.
— Só existe uma pessoa a quem eu confiaria um trabalho como esse — ele falou, finalmente.
— Isso poderia ser difícil.
— A gravidez?
Navot assentiu.
— Quando ela vai ter?
— Infelizmente isso é informação confidencial.
Seymour deu um breve sorriso.
— Você acha que ele poderia ser persuadido a aceitar essa missão?
— Tudo é possível — respondeu Navot, sem querer se comprometer. — Eu ficaria feliz em falar com ele em seu nome.
— Não — falou Seymour. — Eu faço isso.
— Há mais um problema — falou Navot depois de um momento.
— Só um?
— Ele não conhece muito essa parte do mundo.
— Eu conheço alguém que pode servir como guia.
— Ele não vai trabalhar com alguém que não conhece.
— Na verdade, eles são bons amigos.
— Ele é do MI6?
— Não — respondeu Seymour. — Ainda não.
5
AEROPORTO FIUMICINO, ROMA
– POR QUE VOCÊ ACHA que meu voo está atrasado? — perguntou Chiara.
— Pode ser um problema mecânico — respondeu Gabriel.
— Pode ser — ela repetiu sem convicção.
Estavam sentados em um canto silencioso da sala de espera da primeira classe. Não importava a cidade, pensou Gabriel, eram todos iguais. Jornais abandonados, garrafas quentes de pinot grigio suspeito, a CNN International silenciosa em uma televisão grande de tela plana. Pelos seus cálculos, Gabriel tinha passado um terço de sua carreira em lugares assim. Ao contrário da sua esposa, ele era extraordinariamente bom em esperar.
— Vá perguntar à garota bonita no balcão de informações por que meu voo ainda não começou a embarcar — ela disse.
— Não quero falar com a garota bonita no balcão de informações.
— Por que não?
— Porque ela não sabe nada e vai simplesmente falar algo que acha que quero ouvir.
— Por que você sempre precisa ser tão fatalista?
— Evita que me desaponte depois.
Chiara sorriu e fechou os olhos; Gabriel olhava a televisão. Um repórter britânico com capacete e colete à prova de balas estava falando sobre os últimos ataques aéreos contra Gaza. Gabriel se perguntou por que a CNN tinha ficado tão apaixonada pelos jornalistas britânicos. Ele achava que era o sotaque. As notícias sempre pareciam mais fortes quando dadas com um sotaque britânico, mesmo se fossem completas mentiras.
— O que ele está falando? — perguntou Chiara.
— Você realmente quer saber?
— Vai ajudar a passar o tempo.
Gabriel apertou os olhos para ler as legendas.
— Diz que um avião israelense atacou uma escola onde várias centenas de palestinos estavam se escondendo da batalha. Diz que pelo menos 15 pessoas foram mortas e várias dezenas seriamente feridas.
— Quantas eram mulheres e crianças?
— Todas elas, aparentemente.
— A escola era o verdadeiro alvo do ataque aéreo?
Gabriel digitou uma breve mensagem no BlackBerry e enviou com segurança para o Boulevard Rei Saul, o quartel-general do serviço de inteligência de Israel. Tinha um nome comprido e enganador que tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os funcionários chamavam de Escritório e nada mais.
— O verdadeiro alvo — ele falou, os olhos no BlackBerry— era uma casa do outro lado da rua.
— Quem vive na casa?
— Muhammad Sarkis.
— O Muhammad Sarkis?
Gabriel assentiu.
— Muhammad ainda está entre os vivos?
— Aparentemente, não.
— E a escola?
— Não foi atingida. As únicas vítimas foram Sarkis e membros de sua família.
— Talvez alguém deveria contar a verdade ao jornalista.
— Em que isso ajudaria?
— Mais fatalismo — disse Chiara.
— Nenhum desapontamento.
— Por favor, descubra por que meu voo está atrasado.
Gabriel digitou outra mensagem no BlackBerry. Um momento depois, chegou a resposta.
— Um dos foguetes do Hamas caiu perto do Ben-Gurion.
— Muito perto? — perguntou Chiara.
— Perto o suficiente para causar desconfortos.
— Você acha que a garota bonita no balcão de informações sabe que meu destino está sendo atacado por foguetes?
Gabriel ficou em silêncio.
— Tem certeza de que quer continuar com isso? — perguntou Chiara.
— Com o quê?
— Não me obrigue a falar em voz alta.
— Está perguntando se eu ainda quero ser chefe em um momento como esse?
Ela assentiu.
— Em um momento como esse — ele falou, vendo as imagens de combate e explosões na tela —, eu gostaria de poder ir até Gaza e lutar junto com nossos rapazes.
— Achei que você tinha odiado o exército.
— Odiei.
Ela virou a cabeça para ele e abriu os olhos. Eram cor de caramelo com toques de ouro. O tempo não tinha deixado nenhuma marca em seu lindo rosto. Não fosse pela barriga inchada e o anel dourado no dedo, ela poderia ser a mesma garota jovem que ele tinha encontrado há muito tempo, no antigo gueto de Veneza.
— Combina, não?
— O quê?
— Que os filhos de Gabriel Allon nasçam em tempo de guerra.
— Com um pouco de sorte, a guerra vai terminar quando eles nascerem.
— Não estou tão segura disso. — Chiara olhou para o quadro de embarque. A situação do voo 386 para Tel Aviv ainda aparecia a mesma. — Se meu avião não partir logo, eles vão nascer aqui na Itália.
— Sem chance.
— O que tem de errado com isso?
— Tínhamos um plano. E vamos continuar com ele.
— Na verdade — ela disse, com astúcia —, o plano era que voltássemos a Israel juntos.
— É verdade — disse Gabriel, sorrindo. — Mas houve a intervenção de eventos.
— Eles sempre fazem isso.
Setenta e duas horas antes, em uma igreja comum perto do lago Como, Gabriel e Chiara tinham descoberto um dos quadros roubados mais famosos do mundo: a Natividade com São Francisco e São Lourenço, de Caravaggio. A pintura, bastante danificada, agora estava no Vaticano, onde esperava restauração. Era intenção de Gabriel realizar os primeiros estágios, ele mesmo. Essa era sua combinação única de talentos. Ele era restaurador de arte, espião e assassino, uma lenda que tinha participado de algumas das maiores operações na história da inteligência israelense. Logo seria pai de novo e depois se tornaria o chefe. Não escrevem histórias sobre chefes, ele pensou. Escrevem histórias sobre os homens que os chefes mandam a campo para fazer o trabalho sujo.
— Não sei por que você é tão cabeça-dura em relação àquele quadro — disse Chiara.
— Eu encontrei, eu quero restaurá-lo.
— Na verdade, nós encontramos. Mas isso não muda o fato de que não existe uma maneira possível de terminá-lo antes que as crianças nasçam.
— Não importa se vou conseguir terminar ou não. Só queria...
— Deixar sua marca nele?
Ele assentiu lentamente.
— Poderia ser o último quadro que tenho a chance de restaurar. Além disso, tenho uma dívida com ele.
— Quem?
Ele não respondeu; estava lendo as legendas na televisão.
— O que estão falando agora? — Chiara perguntou.
— Sobre a princesa.
— O que tem?
— Parece que a explosão que afundou o barco foi um acidente.
— Acredita nisso?
— Não.
— Então por que eles falariam algo assim?
— Acho que querem ter um pouco de tempo e espaço.
— Para quê?
— Para encontrar o homem que estão procurando.
Chiara fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dele. O cabelo escuro dela, com tons ruivos e luzes castanhas, tinha um delicioso cheiro de baunilha. Gabriel beijou o cabelo dela e sentiu o perfume. De repente, não queria que ela subisse sozinha no avião.
— O que o painel de embarque está mostrando sobre meu voo? — ela perguntou.
— Atrasado.
— Não pode fazer algo para acelerar as coisas?
— Você superestima meus poderes.
— Falsa modéstia não combina com você, querido.
Gabriel digitou outra breve mensagem no BlackBerry e enviou para o Boulevard Rei Saul. Um momento depois, o aparelho vibrou levemente com a resposta.
— E então? — perguntou Chiara.
— Olha o painel.
Chiara abriu os olhos. O status do voo 386 da El Al ainda mostrava ATRASADO. Trinta segundos depois, mudou para EMBARCANDO.
— Pena que você não consegue acabar com a guerra tão facilmente — disse Chiara.
— Só o Hamas pode parar a guerra.
Ela juntou a bagagem de mão e uma pilha de revistas de moda e se levantou cuidadosamente.
— Seja um bom menino — ela falou. — E se alguém pedir um favor, lembre-se das três adoráveis palavras.
— Encontre outra pessoa.
Chiara sorriu. Então beijou Gabriel com uma urgência surpreendente.
— Venha para casa, Gabriel.
— Logo.
— Não — ela falou. — Venha para casa agora.
— É melhor correr, Chiara. Ou vai perder o voo.
Ela o beijou pela última vez. Então se afastou sem outra palavra e entrou no avião.
Gabriel esperou até o voo de Chiara estar seguro no ar antes de deixar o terminal e caminhar pelo caótico estacionamento do Fiumicino. Seu anônimo sedan alemão estava no canto da terceira plataforma, com a frente virada para fora, caso ele tivesse motivos para fugir da garagem apressadamente. Como sempre, ele olhou embaixo do carro para ver se havia explosivos escondidos antes de entrar atrás do volante e ligar o carro. Uma canção pop italiana começou a tocar no rádio, uma das músicas bobinhas que Chiara estava sempre cantando quando achava que ninguém estava ouvindo. Gabriel mudou para a BBC, mas estava cheia de notícias sobre a guerra, então, ele abaixou o volume. Haveria tempo suficiente para a guerra mais tarde, pensou. Nas próximas semanas só haveria o Caravaggio.
Gabriel cruzou o Tibre sobre a ponte Cavour e entrou na via Gregoriana. O velho apartamento seguro do Escritório estava no final da rua, perto do alto das escadarias da praça da Espanha. Estacionou o sedan em um espaço vazio ao longo do meio-fio e tirou a Beretta 9 mm do porta-luvas antes de descer. O ar frio da noite tinha cheiro de alho frito e folhas molhadas, o cheiro de Roma no outono. Algo nisso sempre fazia Gabriel pensar em morte.
Passou a entrada do seu edifício, o toldo do hotel Hassler Villa Medici e foi até a igreja de Trinità dei Monti. Um momento depois, quando determinou que não estava sendo seguido, voltou ao prédio. Uma única lâmpada de baixo consumo iluminava um pouco o vestíbulo; ele caminhou debaixo da esfera de luz e subiu a escada escura. Quando pisou no terceiro andar, parou. A porta do apartamento estava entreaberta e de dentro vinha o som de gavetas abrindo e fechando. Calmamente, ele tirou a Beretta das costas e usou o cano para lentamente empurrar a porta. No começo, não conseguiu ver nenhum sinal do invasor. Então, a porta se abriu mais um centímetro e ele viu Graham Seymour parado na pia da cozinha, uma garrafa fechada de Gavi em uma mão e um saca-rolha na outra. Gabriel enfiou a arma no bolso do casaco e entrou. E, em sua cabeça, ele estava pensando nas três adoráveis palavras.
Encontre outra pessoa...
6
VIA GREGORIANA, ROMA
– TALVEZ SEJA MELHOR QUE eu faça isso, Gabriel. Ou alguém vai acabar machucado.
Seymour entregou a garrafa de vinho e o saca-rolha, encostando-se na pia da cozinha. Estava usando calça de flanela cinza, uma jaqueta espinha de peixe e uma camisa azul com punho francês. A ausência de ajudantes pessoais ou segurança sugeria que tinha viajado a Roma usando um passaporte falso. Era um mau sinal. O chefe do MI6 viajava clandestinamente só quando tinha um problema sério.
— Como você entrou aqui? — perguntou Gabriel.
Seymour puxou uma chave do bolso de sua calça. Presa a ela estava o medalhão preto tão amado pela Organização Interna, a divisão do Escritório que procurava e gerenciava propriedades seguras.
— Onde conseguiu isso?
— Uzi me deu ontem em Londres.
— E o código do alarme? Suponho que ele tenha dado também.
Seymour recitou o número de oito dígitos.
— É uma violação do protocolo do Escritório.
— Houve circunstâncias atenuantes. Além disso — acrescentou Seymour —, depois de todas as operações que fizemos juntos, sou praticamente membro da família.
— Até membros da família batem antes de entrar em um aposento.
— É você quem está dizendo.
Gabriel tirou a rolha da garrafa, serviu duas taças e entregou uma a Seymour. O inglês levantou a taça meio centímetro e disse:
— À paternidade.
— Dá azar beber por crianças que ainda não nasceram, Graham.
— Então pelo que vamos beber?
Quando Gabriel não respondeu, Seymour foi até a sala de estar. De sua janela era possível ver a torre da igreja e o alto das escadarias. Ele ficou ali por um momento olhando os tetos como se estivesse admirando, do terraço de sua casa, as colinas de sua cidade natal. Com suas mechas cor de chumbo e queixo robusto, Graham Seymour era o típico funcionário público britânico, um homem que tinha nascido, sido criado e educado para liderar. Ele era bonito, mas não muito; era alto, mas não muito. Fazia os outros se sentirem inferiores, principalmente os norte-americanos.
— Sabe — ele disse, finalmente —, você realmente deveria encontrar outro lugar para ficar quando está em Roma. Todo mundo conhece esse apartamento seguro, o que significa que não é nada seguro.
— Gosto da vista.
— Dá para ver o motivo.
Seymour voltou seu olhar para os tetos escuros. Gabriel sentiu que algo o preocupava. Ele falaria sobre isso em algum momento. Sempre chegava.
— Ouvi dizer que sua esposa saiu da cidade hoje — falou finalmente.
— Que outra informação privilegiada o chefe do meu serviço compartilhou com você?
— Ele mencionou algo sobre um quadro.
— Não é um quadro qualquer, Graham. É o...
— Caravaggio — falou Seymour, terminando a sentença.
Então, sorriu e acrescentou:
— Você tem jeito para encontrar coisas, não?
— Isso deveria ser um elogio?
— Acho que sim.
Seymour bebeu. Gabriel perguntou por que Uzi Navot tinha ido a Londres.
— Ele tinha uma informação que queria me mostrar. Tenho de admitir — acrescentou Seymour —, ele parecia bem para um homem em sua posição.
— Que posição é essa?
— Todo mundo no meio sabe que Uzi está saindo — respondeu Seymour. — E está deixando para trás uma grande confusão. Todo o Oriente Médio está pegando fogo e vai piorar bastante antes de melhorar.
— Não foi o Uzi que fez a bagunça.
— Não — concordou Seymour —, foram os norte-americanos que fizeram. O presidente e seus conselheiros foram muito rápidos em se afastar dos árabes fortes. Agora o presidente enfrenta um mundo que ficou louco e ele não tem ideia do que fazer.
— E se você estivesse aconselhando o presidente, Graham?
— Diria para ressuscitar os árabes fortes. Funcionou antes, pode funcionar de novo.
— Todos os cavalos do rei, e todos os homens do rei.
— O que quer dizer?
— A velha ordem está destruída e não pode ser recuperada. Além disso — acrescentou Gabriel —, foi a velha ordem que criou Bin Laden e os jihadistas em primeiro lugar.
— E quando os jihadistas tentarem expulsar o Estado judeu da Casa do Islã?
— Eles estão tentando, Graham. E caso você não tenha notado, o Reino Unido não tem muita utilidade para eles também. Goste ou não, estamos nessa juntos.
O BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele olhou para a tela e franziu a testa.
— O que foi? — perguntou Seymour.
— Outro cessar fogo.
— Quanto tempo vai durar esse?
— Acho que até o Hamas decidir rompê-lo. — Gabriel colocou o BlackBerry na mesa de café e, curioso, olhou para Seymour. — Você estava a ponto de me dizer o que está fazendo no meu apartamento.
— Tenho um problema.
— Qual é o nome dele?
— Quinn — respondeu Seymour. — Eamon Quinn.
Gabriel passou o nome pelo banco de dados de sua memória, mas não encontrou nada.
— Irlandês? — ele perguntou.
Seymour assentiu.
— Republicano?
— Do pior tipo.
— Então, qual é o problema?
— Há muito tempo cometi um erro e pessoas morreram.
— E Quinn foi o responsável?
— Quinn acendeu o pavio, mas, em última análise, eu fui o responsável. É a parte maravilhosa de nosso negócio. Nossos erros sempre voltam para nos assombrar, e no final todas as dívidas são pagas. — Seymour levantou sua taça. — Podemos brindar por isso?
7
VIA GREGORIANA, ROMA
O CÉU TINHA FICADO ASSUSTADOR a tarde toda. Finalmente, às dez e meia, uma chuva torrencial transformou, por um tempo, a via Gregoriana em um canal de Veneza. Graham Seymour estava parado na janela vendo como gotas grossas de chuva caíam no terraço, mas estava pensando no otimista verão de 1998. A União Soviética era uma memória. As economias da Europa e dos Estados Unidos estavam rugindo. Os jihadistas da Al-Qaeda eram objetos de estudo em seminários incrivelmente chatos sobre ameaças futuras.
— Nós nos enganamos ao pensar que tínhamos chegado ao fim da história — ele estava dizendo. — Havia alguns no Parlamento que realmente estavam propondo acabar com os Serviços de Segurança e o MI6, e nos queimar na fogueira. — Olhou sobre o ombro. — Eram os dias de vinho e rosas. Foram os dias da ilusão.
— Não para mim, Graham. Eu estava fora do negócio na época.
— Eu lembro.
Seymour se afastou de Gabriel e ficou olhando a chuva batendo no vidro.
— Estava vivendo na Cornualha na época, não estava? Naquela pequena casa no rio Helford. Sua primeira esposa estava no hospital psiquiátrico em Stafford e você a mantinha limpando quadros para Julian Isherwood. E havia aquele rapaz que vivia na casa ao lado. Não lembro o nome dele.
— Peel — falou Gabriel. — O nome dele era Timothy Peel.
— Ah, sim, o jovem mestre Peel. Nunca conseguimos entender por que você passava tanto tempo com ele. Então, percebemos que ele tinha exatamente a mesma idade do filho que você perdeu para uma bomba em Viena.
— Achei que estivessemos falando de você, Graham.
— Estamos — respondeu Seymour.
Ele, então, lembrou a Gabriel, desnecessariamente, de que no verão de 1998 ele era chefe de contraterrorismo no MI5. Dessa forma, era o responsável por proteger a Grã-Bretanha dos terroristas do IRA, o Exército Republicano Irlandês. E, mesmo em Ulster, cena de um conflito secular entre protestantes e católicos, havia sinais de esperança. Os eleitores da Irlanda do Norte tinham ratificado os acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e o IRA Provisório estava aderindo aos termos do cessar fogo. Só o IRA Autêntico, um pequeno grupo de dissidentes de linha dura, continuava com a luta armada. Seu líder era Michael McKevitt, ex-intendente geral do IRA. Sua esposa, Bernadette Sands-McKevitt, dirigia a ala política: o Movimento pela Soberania dos 32 Condados. Era irmã de Bobby Sands, o membro do IRA Provisório que fez uma greve de fome até a morte na prisão de Maze, em 1981.
— E então — falou Seymour — havia Eamon Quinn. Quinn planejava as operações. Quinn construía as bombas. Infelizmente, ele era bom. Muito bom.
Um trovão fez o prédio tremer. Seymour se encolheu um pouco antes de continuar.
— Quinn tinha certa genialidade para construir bombas bastante eficientes e entregá-las em seus alvos. Mas o que ele não sabia — acrescentou Seymour — era que eu tinha um agente na cola dele.
— Quanto tempo ele ficou?
— Minha agente era uma mulher — respondeu Seymour. — E ela estava desde o começo.
Administrar a agente e sua inteligência, continuou Seymour, provou ser algo delicado para equilibrar. Como a agente tinha um alto posto dentro da organização, ela geralmente tinha conhecimento avançado dos ataques, incluindo o alvo, a hora e o tamanho da bomba.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour. — Impedir os ataques e colocar a agente em risco? Ou permitir que os ataques acontecessem e tentar garantir que ninguém fosse morto?
— O segundo — respondeu Gabriel.
— Você fala como um verdadeiro espião.
— Não somos policiais, Graham.
— Graças a Deus.
— Na maior parte do tempo — disse Seymour —, a estratégia funcionou. Vários carros-bombas foram desarmados, e vários outros explodiram com poucos estragos, apesar de que um praticamente nivelou a High Street de Portadown, uma fortaleza legalista, em fevereiro de 1998. Aí, seis meses depois, a espiã do MI5 informou que o grupo estava planejando um grande ataque. Algo grande, ela avisou. Algo que iria explodir em pedaços o processo de paz da Sexta-Feira Santa.
— O que deveríamos fazer? — perguntou Seymour.
Do lado de fora, o céu explodiu com um raio. Seymour esvaziou sua taça e contou a Gabriel o resto da história.
Na noite de 13 de agosto de 1998, um Vauxhall Cavalier marrom, placa 91 DL 2554, desapareceu de uma casa em Carrickmacross, na República da Irlanda. Foi levado até uma fazenda isolada na fronteira, onde colocaram placas falsas da Irlanda do Norte. Então Quinn colocou a bomba: 220 quilos de fertilizante, uma vareta feita à máquina com fortes explosivos, um detonador, uma fonte escondida em um recipiente plástico para alimentos, um interruptor no porta-luvas. Na manhã de domingo, 15 de agosto, ele dirigiu o carro pela fronteira até Omagh e estacionou na frente da loja de departamentos S.D. Kells, em Lower Market Street.
— Obviamente — falou Seymour —, Quinn não entregou a bomba sozinho. Havia outro homem no Vauxhall, mais dois no carro acompanhante e outro que dirigia o carro de fuga. Eles se comunicavam por celular. E estávamos ouvindo cada palavra.
— O Serviço de Segurança?
— Não — respondeu Seymour. — Nossa capacidade de monitorar ligações telefônicas não se estendia além das fronteiras do Reino Unido. A conspiração de Omagh nasceu na República da Irlanda, então tivemos de confiar no GCHQ para fazer as escutas para nós.
O Government Communications Headquarters (GCHQ), o quartel-general de comunicações do governo, era a versão britânica da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos EUA. Às 14h20 tinha interceptado uma ligação de um homem que parecia Eamon Quinn. Ele falou cinco palavras: “Os tijolos estão na parede.” O MI5 sabia por experiências passadas que a frase significava que a bomba estava no lugar. Doze minutos depois, a Ulster Television recebeu um aviso telefônico anônimo: “Há uma bomba, tribunal, Omagh, rua principal, duzentos e vinte quilos, explosão em trinta minutos.” O Royal Ulster Constabulary começou a evacuar as ruas ao redor do tribunal de Omagh e a procurar pela bomba. O que não perceberam era que estavam olhando o lugar errado.
— O aviso por telefone era incorreto — disse Gabriel.
Seymour assentiu lentamente.
— O Vauxhall não estava nem perto do tribunal. Estava a várias centenas de metros mais para baixo, na Lower Market Street. Quando o RUC começou a evacuação, eles sem querer levaram as pessoas na direção da bomba em vez de afastá-las.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Era exatamente o que Quinn queria. Queria que pessoas morressem, então deliberadamente estacionou o carro no lugar errado. Ele enganou a própria organização.
Dez minutos depois das três, a bomba detonou. Vinte e nove pessoas foram mortas, outras duzentas ficaram feridas. Foi o ataque terrorista mais mortal na história do conflito. A oposição foi tão poderosa que o IRA Autêntico sentiu-se obrigado a divulgar um pedido de desculpas. De alguma forma, o processo de paz foi mantido. Depois de trinta anos de sangue e bombas, o povo da Irlanda do Norte finalmente se cansou.
— E, então, a imprensa e as famílias das vítimas começaram a fazer perguntas desconfortáveis — disse Seymour. — Como o IRA Autêntico conseguiu plantar uma bomba no meio de Omagh sem o conhecimento da polícia e dos serviços de segurança? E por que ninguém foi preso?
— O que você fez?
— Fizemos o que sempre fazemos. Fechamos as fileiras, queimamos nossos arquivos e esperamos a tempestade passar.
Seymour se levantou, carregou sua taça até a cozinha e tirou a garrafa de Gavi da geladeira.
— Você tem algo mais forte que isso?
— Como o quê?
— Algo destilado.
— Eu prefiro tomar acetona a bebidas destiladas.
— Acetona com alguma coisa poderia funcionar. — Seymour serviu um pouco de vinho em sua taça e colocou a garrafa na pia.
— O que aconteceu com Quinn depois de Omagh?
— Quinn começou a trabalhar sozinho. Quinn se tornou internacional.
— Que tipo de trabalho ele faz?
— O de sempre — respondeu Seymour. — Trabalho de segurança para bandidos e ditadores, clínicas de fabricação de bombas para revolucionários e dementes religiosos. Conseguimos encontrá-lo de vez em quando, mas na maior parte do tempo ele voa abaixo do nosso radar. Então, o chefe da inteligência iraniana o convidou a ir a Teerã, e foi quando o Boulevard Rei Saul entrou em cena.
Seymour abriu as travas de sua maleta, tirou uma única folha de papel e colocou sobre a mesinha. Gabriel olhou para o documento e franziu a testa.
— Outra violação do protocolo do Escritório.
— O quê?
— Carregar documentos confidenciais do Escritório em uma maleta insegura.
Gabriel pegou o documento e começou a ler. Afirmava que Eamon Quinn, ex-membro do IRA Autêntico, organizador do ataque terrorista de Omagh, tinha sido retido pela inteligência iraniana para desenvolver bombas muito letais para serem usadas contra forças britânicas e norte-americanas no Iraque. O mesmo Eamon Quinn tinha realizado um serviço parecido para o Hezbollah, no Líbano; e o Hamas, na Faixa de Gaza. Além disso, tinha viajado ao Iêmen, onde ajudou a Al-Qaeda, na península arábica, a construir uma pequena bomba líquida que poderia ser colocada dentro de um avião norte-americano. Ele era, dizia o relatório em seu parágrafo de conclusão, um dos homens mais perigosos do mundo e precisava ser eliminado imediatamente.
— Você deveria aceitar o conselho do Uzi.
— É fácil ver isso agora — respondeu Seymour. — Mas eu não seria tão superficial. Afinal, Uzi teria provavelmente dado o trabalho para você.
Gabriel metodicamente rasgou o documento em pequenos pedaços.
— Isso não é suficiente — disse Seymour.
— Vou queimar mais tarde.
— Faça um favor e queime Eamon Quinn junto.
Gabriel ficou em silêncio por um momento.
— Meus dias no campo terminaram — disse ele, finalmente. — Trabalho no escritório agora, Graham, como você. Além disso, a Irlanda do Norte nunca foi minha praia.
— Então acho que teremos de encontrar um parceiro para você. Alguém que conhece o lugar. Alguém que pode passar por residente se for necessário. Alguém que realmente conhece Eamon Quinn pessoalmente.
Seymour fez uma pausa, depois acrescentou:
— Você conhece alguém que se encaixa nessa descrição?
— Não — falou Gabriel enfaticamente.
— Eu conheço — respondeu Seymour. — Mas tem um pequeno problema.
— Qual?
Seymour sorriu e disse:
— Ele está morto.
8
VIA GREGORIANA, ROMA
– ESTARÁ MESMO?
Seymour retirou duas fotografias de sua maleta e colocou uma na mesa de café. Mostrava um homem de altura e corpo médios caminhando pelo controle de passaporte no aeroporto de Heathrow, em Londres.
— Você o reconhece? — perguntou Seymour.
Gabriel não falou nada.
— É você, claro. — Seymour apontou para a hora na base da imagem. — Foi tirada no inverno passado durante o caso Madeline Hart. Você entrou no Reino Unido sem ser anunciado para fazer algumas pesquisas.
— Eu estava lá, Graham. Lembro bem.
— Então você também vai lembrar que começou sua pesquisa para Madeline Hart na ilha da Córsega, um ponto de início lógico porque foi onde ela desapareceu. Logo depois da sua chegada, você foi ver um homem chamado Anton Orsati. Dom Orsati dirige a família do crime organizado mais poderosa da ilha, uma família que se especializou em matar por encomenda. Ele entregou a você uma informação valiosa sobre os sequestradores dela. Também permitiu que você pegasse emprestado o melhor assassino dele. — Seymour sorriu. — Isso o faz lembrar algo?
— Obviamente, estavam me espionando.
— De uma distância discreta. Afinal, você estava procurando a amante do primeiro-ministro britânico para mim.
— Ela não era só a amante dele, Graham. Era...
— Esse assassino da Córsega é uma pessoa interessante — interrompeu Seymour. — Na verdade, ele não é da Córsega, apesar de conseguir falar com o sotaque de um local. É inglês, ex-membro do Special Air Service que escapou do campo de batalha no Iraque, em janeiro de 1991, depois de um incidente envolvendo fogo amigo. Os militares britânicos acreditam que está morto. Infelizmente, os pais dele também acham. Mas, claro, você já sabia disso.
Seymour colocou a segunda fotografia na mesinha. Como a primeira, mostrava um homem caminhando no aeroporto de Heathrow. Ele era vários centímetros mais alto que Gabriel, com cabelo loiro curto, pele da cor de couro e ombros quadrados e fortes.
— Foi tirada no mesmo dia da primeira foto, alguns minutos depois. Seu amigo entrou no país com um passaporte francês falso, um dos muitos que ele possui. Nesse dia em especial, ele era Adrien Leblanc. Seu nome verdadeiro é...
— Eu já entendi o que você quer, Graham.
Seymour juntou as duas fotos e entregou a Gabriel.
— O que devo fazer com elas?
— Guarde como lembrança da sua amizade.
Gabriel rasgou as fotos no meio e colocou-as perto dos pedaços do memorando do Escritório.
— Há quanto tempo você sabe?
— A inteligência britânica ouve rumores há anos sobre um inglês trabalhando na Europa como assassino profissional. Nunca conseguimos descobrir seu nome. E nunca, em nossos sonhos mais loucos, imaginamos que ele poderia ser um membro pago do Escritório.
— Ele não é um membro pago.
— Como você o descreveria?
— Um velho adversário que agora é um amigo.
— Adversário?
— Um consórcio de banqueiros suíços já o contratou para me matar.
— Considere-se afortunado — falou Seymour. — Christopher Keller raramente falha em cumprir seus contratos. Ele é muito bom no que faz.
— Ele fala muito bem de você também, Graham.
Seymour ficou sentado em silêncio enquanto uma sirene tocava e desaparecia na rua lá embaixo.
— Keller e eu éramos próximos — ele falou finalmente. — Eu lutava contra o IRA do conforto da minha mesa e Keller estava do lado mais duro. Ele fazia tudo que fosse necessário para manter a Grã-Bretanha segura. E, no final, pagou um preço terrível por isso.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Vou deixar que o Keller conte essa parte da história. Não tenho certeza se posso contar melhor que ele.
Uma rajada de vento fez a chuva bater forte contra a janela. As luzes da sala piscaram.
— Não concordei com nada ainda, Graham.
— Mas vai. Ou — acrescentou Seymour — vou arrastar seu amigo de volta à Grã-Bretanha preso e entregá-lo ao Governo de Sua Majestade para ser processado.
— Com que acusações?
— É desertor e assassino profissional. Tenho certeza de que vamos pensar em alguma coisa.
Gabriel apenas sorriu.
— Um homem em sua posição não deveria fazer ameaças vazias.
— Não estou fazendo.
— Christopher Keller sabe muito sobre a vida privada do primeiro-ministro britânico para que o HMG tente processá-lo por deserção ou qualquer outra coisa. Além disso, suspeito que você tenha outros planos para ele.
Seymour não falou nada. Gabriel perguntou:
— O que você tem na sua maleta?
— Um arquivo grosso do histórico de Eamon Quinn.
— O que quer que a gente faça?
— O que deveríamos ter feito há muitos anos. Tirá-lo do mercado o mais rápido possível. E, falando nisso, descubra quem ordenou e financiou a operação para matar a princesa.
— Talvez Quinn tenha voltado à luta.
— A luta por uma Irlanda unida? — Seymour balançou a cabeça. — Essa luta terminou. Se eu tivesse que adivinhar, ele a matou em nome de alguns de seus patrões. E nós dois conhecemos a regra fundamental quando se trata de assassinatos. Não é importante quem puxa o gatilho, mas quem paga a bala.
Outra rajada de vento bateu contra a janela. As luzes diminuíram e depois morreram. Os dois espiões ficaram sentados na escuridão por vários minutos, nenhum dos dois falou nada.
— Quem falou isso? — Gabriel perguntou finalmente.
— Falou o quê?
— Essa coisa da bala.
— Acho que foi o Ambler.
Houve um silêncio.
— Tenho outros planos, Graham.
— Eu sei.
— Minha esposa está grávida. Muito grávida.
— Então você vai ter de trabalhar rápido.
— Acho que o Uzi já aprovou.
— Foi ideia dele.
— Lembre-me de dar uma tarefa horrível ao Uzi assim que eu assumir como chefe.
Um raio iluminou o riso de Seymour. Então, a escuridão voltou.
— Acho que vi umas velas na cozinha quando estava procurando o saca-rolha.
— Gosto da escuridão — falou Gabriel. — Clareia meu pensamento.
— No que você está pensando?
— Estou pensando no que vou dizer para minha esposa.
— Algo mais?
— Sim — falou Gabriel. — Estou pensando como Quinn sabia que a princesa estaria naquele barco.
9
BERLIM — CÓRSEGA
O HOTEL SAVOY ESTAVA EM uma região meio decadente de uma das ruas que estavam mais na moda em Berlim. Um tapete vermelho se esticava de sua entrada; mesas vermelhas ficavam debaixo de guarda-sóis vermelhos na frente da fachada. Na tarde anterior, Keller tinha visto um ator famoso tomando café ali, mas agora, quando saiu do hotel, as mesas estavam desertas. As nuvens estavam baixas e pesadas, havia um vento frio arrancando as últimas folhas das árvores alinhadas na calçada. O breve outono de Berlim estava acabando. Logo seria inverno de novo.
— Táxi, monsieur?
— Não, obrigado.
Keller colocou uma nota de cinco euros na mão esticada do manobrista e saiu caminhando. Ele tinha se registrado no hotel com um nome francês — a gerência tinha a impressão de que era um jornalista freelancer que escrevia sobre cinema — e ficou só uma noite. Ele tinha passado a noite anterior em um hotel modesto chamado Seifert e, antes disso, ficara acordado à noite em uma triste pensão chamada Bella Berlin. Os três estabelecimentos tinham uma coisa em comum: estavam perto do hotel Kempinski, que era o destino de Keller. Ali, ele ia encontrar um homem, um líbio, antigo funcionário de Kadafi que tinha fugido para a França com duas malas cheias de dinheiro e joias depois da revolução. O líbio tinha investido dois milhões de dólares com alguns empresários franceses depois de receber garantias de um lucro substancial. Os empresários franceses já estavam preocupados com sua associação com o líbio. Estavam preocupados também com sua reputação de violência no passado, pois diziam que o líbio costumava gostar de enfiar pregos nos olhos dos oponentes do regime. Os empresários franceses tinham procurado a ajuda de Dom Anton Orsati e ele tinha dado a tarefa a seu assassino mais eficiente. Keller teve de admitir que ficou animado. Ele nunca gostou do agora falecido ditador líbio ou dos capangas que tinham mantido seu regime no poder. Kadafi tinha permitido que todo tipo de terrorista treinasse em seus campos no deserto, incluindo os membros do IRA Provisório. Também tinha fornecido armas e explosivos ao IRA. Na verdade, quase todo Semtex usado nas bombas do IRA tinha vindo diretamente da Líbia.
Keller cruzou a Kantstrasse e desceu a rampa de um estacionamento no subsolo. No segundo nível, em uma parte da garagem sem câmeras de segurança, havia uma BMW preta deixada para ele por um membro da organização Orsati. No porta-malas havia uma pistola Heckler & Koch 9mm com um silenciador; no porta-luvas havia um cartão que abriria a porta de qualquer quarto no hotel Kempinski. O cartão tinha sido adquirido por cinco mil euros de um gambiano que trabalhava na lavanderia do hotel. O gambiano tinha garantido ao homem da organização que o cartão continuaria operacional por outras 48 horas. Depois disso, os códigos passavam por uma mudança de rotina, e a segurança do hotel daria novos cartões a todos os principais funcionários. Keller esperava que o gambiano estivesse falando a verdade. Ou haveria logo uma vaga na lavanderia do Kempinski.
Keller enfiou a arma e o cartão na maleta. Então colocou a mochila no porta-malas da BMW e subiu a rampa de volta para a rua. O Kempinski ficava a cerca de cem metros seguindo pela Fasanenstrasse; um grande hotel com luzes brilhantes estilo Las Vegas na entrada e um café estilo francês de frente para a Kurfürstendamm. Em uma das mesas estava sentado o líbio. Estava acompanhado de um homem de uns sessenta anos e uma mulher que já tinha sido bonita, com cabelo bem escuro e maquiagem estilo Cleópatra. O homem parecia um velho camarada da corte de Kadafi; a mulher parecia muito bem cuidada e bastante entediada. Keller presumiu que pertencia ao amigo, pois o líbio gostava de suas mulheres loiras, profissionais e caras.
Keller entrou no hotel, sabendo que várias câmeras de segurança o observavam. Não importava; ele estava usando uma peruca escura e óculos falsos. Cinco hóspedes do hotel, recém-chegados, julgando pelo jeito deles, estavam esperando um elevador. Keller permitiu que entrassem no primeiro disponível e depois subiu ao quinto andar sozinho, a cabeça baixa de uma forma que a câmera de vigilância não pudesse capturar claramente os traços de seu rosto. Quando as portas se abriram, ele saiu do elevador com o ar de um homem que não estava contente por voltar à solidão de outro quarto de hotel. Um empregado de limpeza o cumprimentou, mas fora isso o corredor estava vazio. O cartão agora estava no bolso de seu casaco. Ele o tirou quando se aproximou do quarto 518 e inseriu na porta. Brilhou uma luz verde, a trava eletrônica abriu. O gambiano iria viver mais um dia.
O quarto tinha sido recentemente arrumado. Mesmo assim, o cheiro da horrível colônia do líbio persistia. Keller foi até a janela e olhou para a rua. O líbio e seus dois acompanhantes ainda estavam na mesa deles no café, apesar de a mulher parecer cansada. Desde que Keller tinha passado por eles, haviam tirado seus pratos e o café tinha sido servido. Dez minutos, ele pensou. Talvez menos.
Ele se afastou da janela e calmamente revisou o quarto. O Kempinski se achava superior, mas era realmente bastante comum: uma cama dupla, uma mesinha, um aparelho de televisão, um guarda-roupas. As paredes eram grossas o suficiente para abafar todo som dos quartos adjacentes, apesar de que não seriam grossas o suficiente para aguentar uma bala normal, mesmo uma bala que tivesse penetrado um corpo humano. Como resultado, a HK de Keller estava usando balas de ponta côncava de 124 grãos que se expandiam na hora do impacto. Qualquer bala que acertasse o alvo ficaria ali. E na improvável hipótese de que Keller errasse, a bala iria se alojar tranquilamente na parede com um barulho fraco.
Ele voltou à janela e viu que o líbio e seus dois acompanhantes estavam de pé. O homem de talvez sessenta anos estava apertando a mão do líbio; a mulher que já tinha sido bonita com cabelo escuro estava olhando com esperanças para as lojas exclusivas alinhadas na Ku-Damm. Keller puxou as cortinas pesadas, se sentou na poltrona azul-marinho, e tirou a HK da maleta. Do corredor veio o barulho do carrinho da mulher da limpeza. Então, tudo ficou em silêncio. Ele olhou para o relógio e marcou o tempo. Cinco minutos, pensou. Talvez menos.
Um sol benevolente brilhava forte sobre a ilha da Córsega quando a balsa noturna de Marselha entrou no porto de Ajaccio. Keller saiu do barco com os outros passageiros e caminhou até o estacionamento onde tinha deixado sua velha van Renault. Havia muita poeira cobrindo as janelas e o capô. Keller pensou que a poeira era um mau sinal. O mais provável é que o sirocco tivesse trazido do norte da África. Instintivamente, ele tocou o pequeno coral vermelho pendurado ao redor de seu pescoço por um fio de couro. Quem é da Córsega acredita que o talismã tem o poder de afastar o occhju, o mau-olhado. Keller acreditava também, apesar da presença de poeira do norte da África no carro aquela manhã depois de ter matado o líbio sugerisse que o talismã não tinha conseguido protegê-lo. Havia uma velha na sua vila, uma signadora, que tinha o poder de retirar o mal do corpo dele. Keller não queria vê-la, pois a velha também tinha o poder de olhar tanto o passado quanto o futuro. Era uma das poucas pessoas na ilha que sabiam a verdade sobre ele. Conhecia sua longa litania de pecados e erros, e até afirmava saber quais serão a hora e as circunstâncias de sua morte. Era uma das coisas que se recusava a contar.
— Não devo fazer isso — ela sussurrava para ele sob a luz da vela. — Além disso, saber como a vida termina só poderia arruinar a história.
Keller sentou atrás do volante do Renault e desceu para a costa ocidental acidentada da ilha, o mar azul turquesa à sua direita, os altos picos do interior à sua esquerda. Para passar o tempo, ele ouvia as notícias no rádio. Não havia nada sobre um líbio morto em um hotel de luxo em Berlim. Keller duvidava que o corpo já tivesse sido encontrado. Ele tinha cometido o ato em silêncio e, ao deixar o quarto, havia pendurado a plaquinha de “Não Perturbe” na maçaneta. Em algum momento, a gerência do Kempinski teria de bater à porta. E, depois de não receber nenhuma resposta, teriam de entrar no quarto e encontrar um valioso hóspede com dois buracos de bala no coração e um terceiro no centro da testa. A gerência imediatamente ligaria para a polícia, claro, e uma busca ligeira iria começar por um homem de cabelo escuro e bigode que tinha sido visto entrando no quarto. Eles conseguiriam rastrear seus movimentos imediatamente depois do assassinato, mas a pista esfriaria na tristeza arborizada do Tiergarten. A polícia nunca conseguiria estabelecer sua identidade. Alguns suspeitariam que fosse líbio como sua vítima, mas poucos dos veteranos mais espertos especulariam que era o mesmo profissional muito caro que há anos matava na Europa. E, então lavariam suas mãos, pois sabiam que assassinatos cometidos por assassinos profissionais raramente eram resolvidos.
Keller seguiu a costa até a cidade de Porto e depois virou para o interior. Era domingo; as estradas estavam calmas e, nas cidades de colinas, tocavam os sinos das igrejas. No centro da ilha, perto do seu ponto mais alto, estava o pequeno vilarejo dos Orsati. Estava ali, era o que diziam, desde a época dos vândalos, quando as pessoas da costa subiram às colinas por segurança. O tempo parecia ter parado naquele lugar. As crianças brincavam nas ruas sempre porque não havia predadores. Nem havia nenhum narcótico ilegal, pois nenhum traficante se arriscaria a sentir a ira dos Orsati por colocar drogas na vila deles. Nunca acontecia nada ali, e às vezes não havia muito trabalho. Mas era limpa, bonita e segura, e os habitantes pareciam contentes em comer bem, beber vinho e passar tempo com seus filhos e seus idosos. Keller sempre sentia falta deles quando ficava muito tempo longe da Córsega. Ele se vestia como eles, falava o dialeto local e, à noite, quando jogava boules com os homens na praça da vila, balançava a cabeça com desgosto sempre que alguém falava dos franceses ou, Deus perdoe, dos italianos. No passado, as pessoas da vila o chamavam de “Inglês”. Agora ele era somente Christopher. Era um deles.
A histórica propriedade do clã Orsati estava pouco além da vila, em um pequeno vale de oliveiras que produzia o melhor azeite da ilha. Dois guardas armados cuidavam da entrada; eles tocaram seus chapéus típicos respeitosamente quando Keller cruzou o portão e começou a longa subida até a casa. Pinheiros-larício cobriam a entrada, mas no jardim murado a luz brilhante do sol iluminava a longa mesa que tinha sido colocada para o tradicional almoço de domingo da família. Por enquanto, a mesa estava vazia. O clã ainda estava na missa, e o Dom, que não pisava mais na igreja, estava no andar de cima, em seu escritório. Ele estava sentado em uma grande mesa de madeira, olhando um livro aberto com capa de couro, quando Keller entrou. Perto de seu cotovelo havia uma garrafa decorativa do azeite de oliva Orsati — azeite de oliva era o negócio legítimo através do qual o Dom lavava os lucros da morte.
— Como estava Berlim? — ele perguntou sem levantar a cabeça.
— Fria — respondeu Keller. — Mas produtiva.
— Alguma complicação?
— Não.
Orsati sorriu. A única coisa que ele detestava mais que complicações eram os franceses. Fechou o livro e olhou para o rosto de Keller. Como sempre, Dom Orsati estava vestido com uma camisa branca bem passada, calças folgadas de algodão claro e sandálias de couro que pareciam ter sido compradas no mercado local, o que era verdade. Seu bigode pesado tinha sido aparado e sua cabeça com cabelos escuros e toques grisalhos brilhava com gel. O Dom sempre cuidava muito de sua aparência aos domingos. Ele não acreditava mais em Deus, mas insistia em manter o descanso sagrado. Evitava palavrões no dia do Senhor, tentava pensar em coisas boas e, mais importante, proibia que seus taddunaghiu, seus matadores, cumprissem os contratos. Mesmo Keller, que tinha sido criado como anglicano e era, por isso, considerado um herege, seguia as regras do Dom. Recentemente, ele tinha sido forçado a passar mais uma noite em Varsóvia porque Dom Orsati não deu permissão para que matasse o alvo, um mafioso russo, no dia de descanso.
— Você vai ficar para almoçar — o Dom estava falando.
— Obrigado, Dom Orsati — disse Keller formalmente —, mas não quero incomodar.
— Você? Incomodar? —O homem fez um gesto com a mão.
— Estou cansado — falou Keller. — Foi uma viagem complicada.
— Você não dormiu na balsa?
— Evidentemente — disse Keller —, você não viajou em uma balsa recentemente.
Era verdade. Anton Orsati raramente se aventurava além das paredes bem guardadas de sua propriedade. O mundo o procurava com seus problemas, e ele os resolvia — por um valor substancial, claro. Pegou um envelope grosso e colocou na frente de Keller.
— O que é isso?
— Considere um bônus de Natal.
— É outubro.
Dom deu de ombros. Keller levantou a aba do envelope e olhou dentro. Estava cheio de maços de notas de cem euros. Abaixou a aba e empurrou o envelope para o centro da mesa.
— Aqui na Córsega — disse Dom, franzindo a testa —, é falta de educação recusar um presente.
— O presente não é necessário.
— Aceite, Christopher. Você merece.
— Você me fez ser rico, Dom Orsati, mais rico do que achei que seria possível.
— Mas?
Keller ficou sentado em silêncio.
— Em boca fechada não entra mosca nem comida — disse Dom, citando um provérbio da Córsega, dos muitos que conhecia.
— O que quer dizer?
— Fale, Christopher. Conte-me o que o incomoda.
Keller estava olhando o dinheiro, conscientemente evitando o olhar do Dom.
— Está chateado com seu trabalho?
— Não é isso.
— Talvez você devesse dar uma parada. Poderia concentrar suas energias no lado legítimo do negócio. Há muito dinheiro para ganhar aí.
— Azeite de oliva não é a resposta, Dom Orsati.
— Então há um problema.
— Não falei isso.
— Não precisa. — Dom olhou para Keller cuidadosamente. — Quando você arrancar o dente, Christopher, vai parar de doer.
— A menos que tenha um péssimo dentista.
— A única coisa pior que um péssimo dentista é uma péssima companhia.
— É melhor estar sozinho — falou Keller filosoficamente — do que ter péssimas companhias.
Dom sorriu.
— Você pode ter nascido inglês, Christopher, mas tem alma de corso.
Keller se levantou. O Dom empurrou o envelope pela mesa.
— Tem certeza de que não quer ficar para almoçar?
— Tenho planos.
— Quaisquer que forem — disse Dom —, terão de esperar.
— Por quê?
— Tem um visitante.
Keller não precisou perguntar o nome do visitante. Havia poucas pessoas no mundo que sabiam que ele ainda estava vivo e só uma que ousaria aparecer sem avisar antes.
— Quando ele chegou?
— Ontem à noite — respondeu Dom.
— O que ele quer?
— Não tinha liberdade para contar. — Dom olhou para Keller analisando-o profundamente. — É minha imaginação — perguntou finalmente — ou seu humor melhorou de repente?
Keller saiu sem responder. Dom Orsati ficou olhando-o se afastar. Então, olhou para a mesa e xingou baixinho. O inglês tinha se esquecido de levar o envelope.
10
CÓRSEGA
CHRISTOPHER KELLER SEMPRE TINHA muito cuidado com seu dinheiro. Pelos próprios cálculos, ele ganhara mais de vinte milhões de dólares trabalhando para Dom Anton Orsati e, através de investimentos prudentes, tinha se tornado muito rico. A maior parte de sua fortuna estava em bancos em Genebra e Zurique, mas havia também contas em Mônaco, Liechtenstein, Bruxelas, Hong Kong e nas Ilhas Caimã. Ele até mantinha uma pequena quantidade de dinheiro em um banco com boa reputação em Londres. Seu gerente de conta britânico acreditava que era um residente recluso da Córsega que, como Dom Orsati, pouco saía da ilha. O governo da França tinha a mesma opinião. Keller pagava impostos de seus ganhos legítimos e de um respeitável salário que recebia da Orsati Olive Oil Company, onde era diretor de vendas para a Europa central. Votava nas eleições francesas, doava a instituições de caridade francesas, torcia por times franceses e, de vez em quando, tinha sido forçado a utilizar os serviços da saúde pública francesa. Nunca tinha sido acusado de nenhum tipo de crime, uma conquista importante para um homem do sul, e seu registro no departamento de trânsito era impecável. No geral, com uma exceção significativa, Christopher Keller era um cidadão-modelo.
Esquiador e montanhista habilidoso, foi o dono silencioso de um chalé nos Alpes franceses por algum tempo. No momento, ele mantinha uma única residência, uma casa de campo de proporções modestas em um local depois do vale dos Orsati. A casa tinha paredes exteriores marrom-amareladas, telhado de telhas vermelhas, uma grande piscina e um amplo terraço que recebia o sol de manhã e, à tarde, ficava protegido pelos pinheiros. Dentro, os quartos largos eram confortavelmente decorados com móveis rústicos em branco, bege e amarelo. Havia muitas estantes cheias de livros sérios — Keller tinha estudado brevemente história militar em Cambridge e era um leitor voraz de política e questões contemporâneas — e nas paredes havia pendurada uma coleção modesta de quadros modernos e impressionistas. O trabalho mais valioso era uma pequena paisagem de Monet, que Keller, através de um intermediário, tinha comprado em um leilão da Christie’s, em Paris. Parado na frente dele agora, uma mão descansando no queixo, a cabeça meio de lado, estava Gabriel. Ele lambeu a ponta do dedo, esfregou na superfície e balançou a cabeça lentamente.
— Algo errado? — perguntou o inglês.
— A superfície está coberta de sujeira. Você realmente deveria me deixar limpá-lo. Só vai demorar uns...
— Gosto dele assim.
Gabriel limpou o dedo em seu jeans e se virou para Keller. O inglês era dez anos mais jovem que Gabriel, dez centímetros mais alto, e 13 quilos mais pesado, especialmente em ombros e braços, onde carregava uma quantidade letal de força e massa bem esculpidas. Seu cabelo curto era loiro desbotado pelo mar; sua pele era muito bronzeada pelo sol. Ele tinha olhos azuis brilhantes, rosto quadrado, e um queixo grosso com um furo no centro. Sua boca parecia fixada permanentemente em um sorriso debochado. Keller era um homem sem lealdade, sem medo e sem moral, exceto quando se tratava de questões de amizade e amor. Tinha vivido segundo as próprias regras e de certa forma tinha saído ganhando.
— Achei que estaria em Roma — ele falou.
— Eu estava — respondeu Gabriel. — Mas Graham Seymour apareceu na cidade. Ele tinha algo que queria me mostrar.
— O que era?
— A fotografia de um homem caminhando pelo aeroporto de Heathrow.
O meio sorriso de Keller desapareceu, seus olhos azuis se entrecerraram.
— Quanto ele sabe?
— Tudo, Christopher.
— Estou em perigo?
— Isso depende.
— Do quê?
— De você concordar em fazer um trabalho para ele.
— O que ele quer?
Gabriel sorriu.
— O que você faz melhor.
Do lado de fora, o sol ainda dominava o terraço de Keller. Eles se sentaram em duas cadeiras de jardim confortáveis, uma pequena mesa de ferro forjado entre eles. Sobre ela, o grosso arquivo de Graham Seymour acerca dos trabalhos de Eamon Quinn. Keller ainda não tinha aberto ou olhado. Estava ouvindo, interessado, Gabriel contar do papel de Quinn no assassinato da princesa.
Quando Gabriel terminou, Keller pegou a fotografia de sua recente passagem pelo aeroporto de Heathrow.
— Você me deu sua palavra — ele falou. — Jurou que nunca ia contar a Graham que estávamos trabalhando juntos.
— Não precisei contar. Ele já sabia.
— Como?
Gabriel explicou.
— Bastardo desonesto— murmurou Keller.
— Ele é britânico — falou Gabriel. — É algo natural.
Keller olhou cuidadosamente para Gabriel por um momento.
— É engraçado — ele falou —, mas você não parece muito chateado com a situação.
— É uma oportunidade interessante para você, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava o meio-dia. Keller colocou a fotografia em cima do arquivo e acendeu um cigarro.
— Você precisa? — perguntou Gabriel, afastando a fumaça com a mão.
— Que escolha eu tenho?
— Você pode parar de fumar e acrescentar vários anos à sua vida.
— Em relação ao Graham — disse Keller, exasperado.
— Acho que pode ficar aqui na Córsega e esperar que ele não decida contar sobre você aos franceses.
— Ou?
— Pode me ajudar a encontrar Eamon Quinn.
— E depois?
— Pode voltar para casa, Christopher.
Keller apontou o vale com a mão e disse:
— Esta é a minha casa.
— Não é real, Christopher. É uma fantasia. É uma invenção.
— Você também é.
Gabriel sorriu, mas não disse nada. O sino da igreja tinha ficado em silêncio; as sombras da tarde estavam se juntando na beira do terraço. Keller esmagou o cigarro e olhou para o arquivo fechado.
— Leitura interessante? — ele perguntou.
— Bastante.
— Reconhece alguém?
— Um homem do MI5 chamado Graham Seymour — falou Gabriel — e um oficial da SAS que é chamado somente por seu codinome.
— Qual é?
— Mercador.
— Sugestivo.
— Também achei.
— O que fala sobre ele?
— Diz que operou em segredo em Belfast Oeste por cerca de um ano no final dos anos oitenta.
— Por que parou?
— Seu disfarce foi descoberto. Aparentemente, houve uma mulher envolvida.
— Menciona o nome dela? — perguntou Keller.
— Não.
— O que aconteceu em seguida?
— Mercador foi sequestrado pelo IRA e levado a uma fazenda remota para ser interrogado e executado. A fazenda era no condado de Armagh. Quinn estava lá.
— Como terminou?
— Mal.
Uma rajada de vento dobrou o pinheiro. Keller olhou para o vale corso como se estivesse escapando de seu controle. Aí, acendeu outro cigarro e contou a Gabriel o resto da história.
11
CÓRSEGA
FOI A HABILIDADE DE Keller com idiomas que o destacou — não idiomas estrangeiros, mas as várias formas em que o Inglês é falado nas ruas de Belfast e nos seis condados da Irlanda do Norte. As sutilezas dos sotaques locais fizeram com que fosse quase impossível para os oficiais da SAS trabalharem sem serem detectados dentro das pequenas e muito conectadas comunidades da província. Como resultado, a maioria dos homens da SAS era forçada a usar os serviços de um Fred — o termo do regimento para um ajudante local — quando seguiam membros do IRA ou realizavam vigilância nas ruas. Mas não Keller. Ele desenvolveu a capacidade de imitar os vários dialetos de Ulster com a velocidade e a confiança de um nativo. Ele podia até mudar de sotaque de repente — um católico de Armagh um minuto, um protestante da Shankill Road de Belfast no seguinte, depois um católico de Ballymurphy. Suas habilidades linguísticas foram notadas por seus superiores. Nem demorou muito para eles perceberem um ambicioso oficial de inteligência que dirigia o MI5 na Irlanda do Norte.
— Presumo— falou Gabriel — que o jovem oficial do MI5 era Graham Seymour.
Keller assentiu. Então, explicou que Seymour, no final dos anos oitenta, estava insatisfeito com o nível das informações que estava recebendo dos informantes do MI5 na Irlanda do Norte. Ele queria inserir o próprio agente nas fileiras do IRA de Belfast Oeste para informar sobre os movimentos e associações de conhecidos comandantes e voluntários do IRA. Não era um trabalho para um oficial comum do MI5. O agente teria de saber como se virar em um mundo onde um passo em falso, um olhar errado, poderia matar um homem. Keller se encontrou com Seymour em uma casa segura em Londres e aceitou a missão. Dois meses depois, ele estava de volta a Belfast fingindo ser Michael Connelly, um católico. Alugou um apartamento de dois quartos na Divis Tower, em Falls Road. Seu vizinho era membro da brigada do IRA de Belfast Oeste. O exército britânico mantinha um posto de observação no telhado e usava os dois últimos andares como escritório e depósito. Quando os conflitos estavam no auge, os soldados entravam e saíam de helicóptero.
— Era uma loucura — disse Keller, balançando a cabeça devagar. — Loucura total.
Enquanto boa parte de Belfast Oeste estava desempregada e recebendo seguro-desemprego, Keller logo encontrou trabalho como entregador de uma lavanderia em Falls Road. O emprego permitia que se movesse livremente pela vizinhança e enclaves de Belfast Oeste sem levantar suspeitas, e dava acesso às casas e roupas de conhecidos membros do IRA. Era uma conquista impressionante, mas não foi por acaso. A lavanderia era propriedade da inteligência britânica, que a operava.
— Era uma das operações mais controladas — disse Keller. — Nem o primeiro-ministro sabia dela. Tínhamos uma pequena frota de vans, equipamento de escuta e um laboratório nos fundos. Testávamos toda roupa que chegava em nossas mãos buscando traços de explosivos. E, se tínhamos um positivo, colocávamos o dono e sua casa sob vigilância.
Gradualmente, Keller começou a fazer amizades com membros da disfuncional comunidade ao redor dele. Seu vizinho do IRA o convidou para jantar, e, uma vez, em um bar do IRA em Falls Road, um recrutador fez um convite não tão sutil, o qual Keller recusou educadamente. Ele ia regularmente à missa na igreja de S. Paul — como parte de seu treinamento, tinha aprendido os rituais e doutrinas do catolicismo — e, em um domingo úmido em Lent, conheceu uma linda jovem chamada Elizabeth Conlin. Seu pai era Ronnie Conlin, um comandante de campo do IRA em Ballymurphy.
— Um personagem sério— disse Gabriel.
— O mais sério.
— Você decidiu investir na relação.
— Não tive muita escolha na questão.
— Estava apaixonado por ela.
Keller assentiu lentamente.
— Como você se encontrava com ela?
— Costumava entrar escondido em seu quarto. Ela pendurava um lenço violeta na janela se fosse seguro. Era uma casa com terraço e paredes finas como papel. Eu conseguia ouvir o pai dela no quarto ao lado. Era...
— Uma loucura — disse Gabriel.
Keller não falou nada.
— Graham sabia?
— Claro.
— Contou a ele?
— Não precisei. Eu estava sob constante vigilância do MI5 e da SAS.
— Presumo que ele mandou você romper com ela.
— Em termos bem diretos.
— O que você fez?
— Concordei — respondeu Keller. — Com uma condição.
— Quis vê-la uma última vez.
Keller ficou em silêncio e, quando finalmente falou, sua voz tinha mudado. Usava as vogais alongadas e os toques duros da classe trabalhadora de Belfast Oeste. Ele não era mais Christopher Keller, era Michael Connelly, o entregador de roupas de Falls Road que tinha se apaixonado pela linda filha de um chefe do IRA de Ballymurphy. Em sua última noite em Ulster, ele deixou a van em Springfield Road e escalou o muro do jardim da casa de Conlin. O lenço violeta estava pendurado no lugar de sempre, mas o quarto de Elizabeth estava escuro. Keller levantou a janela sem fazer barulho, abriu as cortinas e entrou. Instantaneamente, recebeu um golpe na cabeça, como se fosse a ponta de um machado e começou a perder a consciência. A última coisa que se lembra antes de desmaiar foi o rosto de Ronnie Conlin.
— Estava falando comigo — disse Keller. — Estava dizendo que eu ia morrer.
Keller foi amarrado, amordaçado, encapuzado e enfiado no porta-malas de um carro. Foi levado dos bairros pobres de Belfast Oeste a uma fazenda em Armagh. Lá foi para um celeiro e apanhou muito. Então, foi amarrado a uma cadeira para ser interrogado e julgado. Quatro homens da famosa brigada localdo IRA seriam os jurados. Eamon Quinn seria o promotor, juiz e executor. Ele planejava realizar a sentença com uma faca que tinha roubado de um soldado britânico morto. Quinn era o melhor fabricante de bombas do IRA, um mestre na técnica mas, quando se tratava de assassinato pessoal, ele preferia a faca.
— Ele me falou que se eu cooperasse, minha morte seria razoável. Se não, ele iria me cortar em pedaços.
— O que aconteceu?
— Tive sorte — falou Keller. — Fizeram um péssimo trabalho com as cordas e eu os cortei em pedaços. Foi tão rápido que nem souberam o que os acertou.
— Quantos?
— Dois — respondeu Keller. — Então, consegui pegar uma das armas e atirei em outros dois.
— O que aconteceu com Quinn?
— Quinn sabiamente fugiu. Ele viveu para lutar outro dia.
Na manhã seguinte, o exército britânico anunciou que quatro membros da Brigada de South Armagh tinham sido mortos em uma operação na remota casa segura do IRA. A contagem não fazia nenhuma menção a um oficial da SAS disfarçado chamado Christopher Keller. Nem mencionou um serviço de lavanderia em Falls Road secretamente dirigido pela inteligência britânica. Keller foi levado de volta à Inglaterra para tratamento; a lavanderia foi fechada discretamente. Foi uma grande derrota para os esforços britânicos na Irlanda do Norte.
— E Elizabeth? — perguntou Gabriel.
— Encontraram seu corpo dois dias depois. Rasparam seu cabelo. A garganta foi cortada.
— Quem fez isso?
— Ouvi dizer que foi o Quinn — disse Keller. — Aparentemente, ele insistiu em fazer isso.
Depois de sair do hospital, Keller voltou ao quartel-general da SAS em Hereford para descansar e se recuperar. Ele fazia longas e autopunitivas caminhadas em Brecon Beacons e treinava novos recrutas na arte de matar em silêncio, mas era claro a seus superiores que a experiência em Belfast tinha mudado sua cabeça. Então, em agosto de 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuait. Keller voltou a seu antigo esquadrão Sabre e foi deslocado para o Oriente Médio. Na noite de 28 de janeiro de 1991, enquanto procurava os lançadores de mísseis Scud no deserto ocidental do Iraque, sua unidade foi atacada por uma aeronave da coalizão em um trágico caso de fogo amigo. Só Keller sobreviveu. Com ódio, ele abandonou o campo de batalha e, disfarçado de árabe, cruzou a fronteira para a Síria. De lá, caminhou para o ocidente cruzando Turquia, Grécia e Itália, até finalmente terminar na costa da Córsega, onde caiu nos braços de Dom Anton Orsati.
— Já procurou por ele?
— Quinn?
Gabriel assentiu.
— Dom proibiu.
— Mas isso não o impediu, não é?
— Digamos que segui sua carreira de perto. Sabia que tinha ido com o IRA Autêntico depois dos acordos de paz da Sexta-Feira Santa, e sabia que foi ele quem plantou aquela bomba no meio de Omagh.
— E quando fugiu da Irlanda?
— Fiz perguntas educadas sobre seu paradeiro. Perguntas mal-educadas, também.
— Alguma delas deu resultado?
— Certamente.
— Mas você nunca tentou matá-lo?
— Não — falou Keller, balançando a cabeça. — Dom proibiu.
— Mas agora você tem uma chance.
— Com a bênção do Serviço Secreto de Sua Majestade. — Keller deu um breve sorriso. — Bastante irônico, não acha?
— Como assim?
— Quinn me tirou do jogo e agora está me levando de volta. — Keller olhou sério para Gabriel por um momento. — Tem certeza de que quer se envolver nisso?
— Por que não iria querer?
— Porque é pessoal — respondeu Keller. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
— Eu me envolvo em coisas pessoais o tempo todo.
— Confusas, também. — As sombras estavam tomando o terraço. O vento fazia ondas na superfície da piscina de Keller. — E se eu fizer isso? — ele perguntou. — E aí?
— Graham vai dar a você uma nova identidade britânica. Um emprego, também. — Gabriel parou.— Se estiver interessado.
— Um emprego fazendo o quê?
— Use sua imaginação.
Keller franziu a testa.
— O que você faria se fosse eu?
— Aceitaria a proposta.
— E desistir de tudo isso?
— Não é real, Christopher.
Do outro lado do vale, um sino de igreja marcava uma hora.
— O que vou dizer ao Dom? — perguntou Keller.
— Infelizmente não posso ajudá-lo com isso.
— Por quê?
— Porque é pessoal — respondeu Gabriel. — E quando é pessoal, tudo tende a ficar confuso.
Havia uma balsa partindo de Nice às seis, àquela tarde. Gabriel embarcou às cinco e meia, bebeu um café na cafeteria e foi até o deque de observação para esperar por Keller. Às 17h45 ele não tinha chegado. Mais cinco minutos se passaram sem sinal dele. Então, Gabriel viu um Renault maltratado entrando no estacionamento e um momento depois viu Keller subindo a rampa correndo com uma mochila pendurada nos poderosos ombros. Eles ficaram lado a lado na grade olhando as luzes de Ajaccio diminuindo ao longe. O gentil vento noturno tinha cheiro de macchia, a densa vegetação rasteira de quermes, alecrim e lavanda que cobria boa parte da ilha. Keller respirou fundo antes de acender um cigarro. A brisa carregou sua primeira exalação de fumaça sobre o rosto de Gabriel.
— Você precisa?
Keller não falou nada.
— Estava começando a pensar que tinha mudado de ideia.
— E deixar que você vá sozinho atrás do Quinn?
— Não acha que consigo fazer isso?
— Eu falei isso?
Keller fumou em silêncio por um momento.
— O que o Dom achou?
— Ele recitou muitos provérbios corsos sobre a ingratidão dos filhos. E depois concordou em me deixar partir.
As luzes da ilha estavam ficando mais opacas; o vento tinha cheiro apenas de mar. Keller pegou seu casaco, tirou um talismã corso e entregou a Gabriel.
— Um presente da signadora.
— Não acreditamos nessas coisas.
— Eu aceitaria se fosse você. A velha sugeriu que a coisa poderia ficar feia.
— Feia?
Keller não falou nada. Gabriel aceitou o talismã e o colocou no pescoço. Uma a uma, as luzes da ilha desapareceram. Até a última.
12
DUBLIN
TECNICAMENTE, A OPERAÇÃO EM que Gabriel e Christopher embarcaram no dia seguinte era um trabalho conjunto entre o Escritório e o MI6. O papel britânico era tão secreto, no entanto, que só Graham Seymour sabia dele. Portanto, foi o Escritório que fez os arranjos de viagem e alugou o sedan Škoda que estava esperando no estacionamento do aeroporto de Dublin. Gabriel revisou a parte de baixo antes de entrar no veículo. Keller sentou no banco do passageiro e, franzindo a testa, fechou a porta.
— Não dava para ter conseguido algo melhor que um Škoda?
— É um dos carros mais populares da Irlanda, o que quer dizer que não vai se destacar.
— E as armas?
— Abra o porta-luvas.
Keller abriu. Dentro havia uma Beretta 9mm, carregada, com um pente extra e um silenciador.
— Só uma?
— Não estamos entrando em uma guerra, Christopher.
— É o que você acha.
Keller fechou o porta-luvas, Gabriel enfiou a chave na ignição. O motor hesitou, tossiu e finalmente ligou.
— Ainda acha que deveriam ter alugado um Škoda? — perguntou Keller.
Gabriel colocou o carro em movimento.
— Por onde começamos?
— Ballyfermot.
— Bally onde?
Keller apontou para a placa de saída e disse:
— Bally, para aquele lado.
A República da Irlanda já foi uma terra quase sem crimes violentos. Até o final dos anos sessenta, a força policial da Irlanda, a Garda Síochána, só tinha uns sete mil policiais, e em Dublin havia somente sete carros de patrulha. A maioria dos crimes era leve: arrombamento, batedor de carteira, um ou outro roubo mais violento. E, quando havia violência envolvida, era normalmente alimentada por paixão, álcool ou uma combinação dos dois.
Isso mudou com o início dos conflitos na fronteira com a Irlanda do Norte. Desesperados por dinheiro e armas para lutar contra o exército britânico, o IRA Provisório começou a roubar bancos no sul. Os ladrões pequenos dos bairros pobres de Dublin aprenderam com as táticas dos provos, como eram conhecidos os membros do IRA, e começaram a realizar assaltos à mão armada. A Gardaí, com poucos homens e em situação inferior, foi rapidamente superada pelas ameaças do IRA e dos criminosos locais. Em 1970, a Irlanda não era mais tranquila. Era uma terra de ninguém, onde criminosos e revolucionários operavam com impunidade.
Em 1979, dois eventos improváveis longe da costa da Irlanda aceleraram a decadência do país em um caos social. O primeiro foi a revolução iraniana. O segundo foi a invasão soviética do Afeganistão. Os dois resultaram em uma invasão de heroína barata nas ruas das cidades da Europa ocidental. A droga entrou nos bairros pobres do sul de Dublin em 1980. Um ano depois arrasava os guetos do lado norte. Vidas foram destruídas, famílias foram abaladas e as taxas de crimes aumentaram quando viciados desesperados tentavam alimentar seu hábito. Comunidades inteiras se tornaram terras destroçadas distópicas, onde junkies se drogavam abertamente nas ruas e os traficantes eram reis.
O milagre econômico dos anos noventa transformou a Irlanda de um dos países mais pobres da Europa em um dos mais ricos mas, com a prosperidade, veio um apetite ainda maior por drogas, especialmente cocaína e ecstasy. Os velhos chefes criminosos abriram caminho a uma nova geração de líderes que realizaram guerras sangrentas para dominar territórios e porções do mercado. Onde os mafiosos irlandeses antes usavam armas de cano serrado para impor a vontade deles, os novos membros da gangue se armavam com AK-47 e outros armamentos pesados. Corpos cheios de balas começaram a aparecer nas ruas dos bairros pobres. De acordo com uma estimativa da Garda, em 2012, 25 gangues de tráfico violentas faziam seu comércio mortal na Irlanda. Várias tinham estabelecido conexões lucrativas com grupos criminosos organizados do exterior, inclusive remanescentes do IRA Autêntico.
— Achei que eram contra as drogas — disse Gabriel.
— Isso pode ser verdade lá em cima — disse Keller, apontando para o norte —, mas aqui embaixo, na República, a história é outra. No fundo, o IRA Autêntico é outra gangue de traficantes. Às vezes negociam diretamente. Às vezes gerenciam redes de proteção. Principalmente, tiram dinheiro de traficantes.
— O que LiamWalsh faz?
— Um pouco de tudo.
A chuva embaçava os faróis de trânsito da hora do rush à noite. O tráfego estava mais leve do que Gabriel tinha esperado. Ele achou que era a economia. A Irlanda tinha caído mais do que todos. Até os traficantes estavam com problemas.
— Walsh era republicano em suas veias — Keller estava falando. — Seu pai era do IRA, assim como seus tios e irmãos. Ele foi com o IRA Autêntico depois da grande divisão, e quando a guerra efetivamente terminou, ele veio a Dublin ganhar sua fortuna no negócio das drogas.
— Qual é a conexão dele com Quinn?
— Omagh. — Keller apontou para a direita e disse: — Você tem que virar aqui.
Gabriel guiou o carro até Kennelsfort Road. Havia casas de dois andares com terraços dos dois lados da rua. Não era exatamente o milagre irlandês, mas não era uma favela também.
— Aqui é Ballyfermot?
— Palmerstown.
— Para que lado?
Com um movimento de mão, Keller instruiu Gabriel a continuar em frente. Eles saíram em um parque industrial de armazéns cinzentos baixos e de repente estavam em Ballyfermot Road. Após um tempo, chegaram a uma série de pequenas lojas tristonhas: um outlet, uma loja de roupa de cama, uma ótica, uma lanchonete. Do outro lado da rua havia um supermercado Tesco e próximo a ele havia uma casa de apostas. Quatro homens de casacos de couro preto cuidavam da entrada. Liam Walsh era o menor do grupo. Estava fumando um cigarro; estavam todos fumando. Gabriel entrou no estacionamento do Tesco e ocupou uma vaga. Tinha uma clara visão da casa de apostas.
— Talvez você devesse deixar o motor ligado — falou Keller.
— Por quê?
— Poderia não voltar a ligar.
Gabriel desligou o motor e apagou o farol. A chuva batia forte contra o vidro. Depois de uns segundos, Liam Walsh desapareceu em um caleidoscópio borrado de luz. Então, Gabriel ligou o limpador de para-brisa e Walsh reapareceu. Uma comprida Mercedes preta tinha parado em frente à casa de apostas. Era a única Mercedes na rua, provavelmente a única no bairro. Walsh estava conversando com o motorista pela janela aberta.
— Parece um verdadeiro pilar da comunidade — falou Gabriel em voz baixa.
— É como gosta de se mostrar.
— Então por que está parado em frente a uma casa de apostas?
— Quer que as outras gangues saibam que ele está cuidando da área. Um rival tentou matá-lo nesse mesmo lugar no ano passado. Se você olhar de perto, consegue ver os buracos das balas na parede.
A Mercedes foi embora. Liam Walsh voltou a seu abrigo na entrada.
— Quem são esses rapazes de aparência tão boa com ele?
— Os dois à esquerda são os guarda-costas dele. O outro é o seu segundo em comando.
— IRA Autêntico?
— Até os ossos.
— Armados?
— Certamente.
— Então o que você propõe?
— Vamos esperar que ele se mova.
— Aqui?
Keller balançou a cabeça.
— Se nos virem sentados em um carro estacionado, vão achar que somos da Garda ou membros de uma gangue rival. E, se acharem isso, estamos mortos.
— Então talvez não devêssemos nos sentar aqui.
Keller apontou para a lanchonete do outro lado da rua e saiu. Gabriel o seguiu. Eles caminharam lado a lado na beira da rua, as mãos nos bolsos, cabeças abaixadas por causa da chuva, esperando para atravessar.
— Estão olhando para nós — disse Keller.
— Você notou isso também?
— É difícil não notar.
— Walsh conhece seu rosto?
— Conhece agora.
O trânsito parou; eles cruzaram a estrada e foram até a entrada da lanchonete.
— É melhor você não falar — disse Keller. — Esse não é o tipo de bairro que recebe muitos visitantes de terras exóticas.
— Eu falo um inglês perfeito.
— Esse é o problema.
Keller abriu a porta e entrou primeiro. Era uma sala apertada com um piso de linóleo quebrado e paredes descascando. O ar era pesado com gordura, amido e um cheiro de algodão molhado. Havia uma garota bonita atrás do balcão e uma mesa vazia encostada na janela. Gabriel se sentou de costas para a rua enquanto Keller foi até o balcão e fez seu pedido comum sotaque de alguém do sul de Dublin.
— Muito impressionante — murmurou Gabriel quando Keller se sentou. — Por um minuto pensei que você fosse começar a cantar When Irish Eyes Are Smiling.
— Para aquela garota linda, sou tão irlandês quanto ela.
— É — falou Gabriel, duvidando. — E eu sou o Oscar Wilde.
— Não acha que posso fingir ser irlandês?
— Talvez um que passou umas férias muito longas sob o sol.
— Essa é a minha história.
— Onde você estava?
— Maiorca — respondeu Keller. — Os irlandeses adoram Maiorca, especialmente os mafiosos irlandeses.
Gabriel olhou ao redor do interior do café.
— Eu imagino por quê.
A garota foi até à mesa e depositou um prato de batatas e dois copos de isopor com chá e leite. Quando ela estava se afastando, a porta se abriu e dois homens muito pálidos de vinte e poucos anos entraram. Uma mulher com um casaco úmido e sapatos velhos entrou um momento depois. Os dois homens se sentaram a uma mesa perto de Keller e Gabriel e começaram a falar em um dialeto que Gabriel achou quase impenetrável. A mulher se sentou no fundo da lanchonete. Ela só pediu chá e estava lendo um livro bastante usado.
— O que está acontecendo do lado de fora? — perguntou Gabriel.
— Quatro homens parados na frente de uma casa de apostas. Um homem parece que já está cansado da chuva.
— Onde ele mora?
— Não muito longe — respondeu Keller. — Gosta de morar entre o povo.
Gabriel bebeu um pouco do chá e fez uma careta. Keller empurrou o prato de batatas.
— Coma um pouco.
— Não.
— Por que não?
— Quero viver o suficiente para ver meus filhos nascerem.
— Boa ideia.
Keller sorriu, depois acrescentou:
— Homens da sua idade realmente deveriam se preocupar com o que comem.
— Olha quem fala.
— Quantos anos você tem, exatamente?
— Não consigo me lembrar.
— Problemas de perda de memória?
Gabriel bebeu um pouco do chá. Keller mordiscou as batatas.
— Não são tão boas quanto as fritas do sul da França — falou.
— Pegou o recibo?
— Para que eu precisaria de recibo?
— Ouvi que os contadores do MI6 são muito exigentes.
— Não vamos continuar com isso do MI6 ainda. Não tomei nenhuma decisão.
— Às vezes nossas melhores decisões acontecem sozinhas.
— Você parece o Dom. — Keller comeu outra batata. — É verdade isso dos contadores do MI6?
— Só estava puxando conversa.
— São duros?
— Os piores.
— Mas não com você.
— Não muito.
— Então por que não conseguiram algo melhor que um Škoda para você?
— O Škoda está ótimo.
— Espero que ele caiba no porta-malas.
— Podemos bater a porta na cabeça dele algumas vezes se for preciso.
— E a casa segura?
— Tenho certeza de que é adorável, Christopher.
Keller não parecia convencido. Pegou outra batata, pensou melhor e jogou-a no prato.
— O que está acontecendo atrás de mim? — ele perguntou.
— Dois caras estão falando um idioma desconhecido. Uma mulher está lendo.
— O que está lendo?
— Acho que é John Banville.
Keller assentiu, pensativo, os olhos na Ballyfermot Road.
— O que você está vendo? — perguntou Gabriel.
— Um homem parado em frente a uma casa de apostas. Três homens entrando em um carro.
— Que tipo de carro?
— Mercedes preta.
— Melhor que um Škoda.
— Muito melhor.
— Então, o que vamos fazer?
— Deixamos as batatas e levamos o chá.
— Quando?
Keller se levantou.
13
BALLYFERMOT, DUBLIN
ELES JOGARAM OS COPOS de isopor em uma lata de lixo no estacionamento do Tesco e subiram no Škoda. Dessa vez, Keller dirigiu; era sua área. Ele entrou na Ballyfermot Road e cruzou o trânsito até que houvesse apenas dois carros separando-os da Mercedes. Dirigia calmamente, uma mão se equilibrando no alto do volante, a outra descansando no câmbio automático. Os olhos estavam fixos à frente. Gabriel estava controlando o espelho lateral e estava olhando o trânsito atrás deles.
— Então? — perguntou Keller.
— Você é muito bom, Christopher. Vai ser um ótimo agente do MI6.
— Eu estava perguntando se estávamos sendo seguidos.
— Não estamos.
Keller tirou a mão do câmbio e a usou para tirar um cigarro do bolso do casaco. Gabriel bateu no aviso preto e amarelo no visor e disse:
— É proibido fumar neste carro.
Keller acendeu o cigarro. Gabriel baixou o vidro uns centímetros para ventilar a fumaça.
— Estão parando — ele disse.
— Eu vi.
A Mercedes entrou em um estacionamento na frente de uma banca de jornal. Por alguns segundos ninguém saiu. Então Liam Walsh desceu da porta de trás do lado do passageiro e entrou na loja. Keller dirigiu mais uns cinquenta metros e estacionou em frente a uma pizzaria. Apagou as luzes, mas deixou o motor ligado.
— Acho que ele precisava pegar umas coisas a caminho de casa.
— Como o quê?
— Um Herald— sugeriu Keller.
— Ninguém mais lê jornais, Christopher. Não ouviu falar?
Keller olhou para a pizzaria.
— Talvez você devesse entrar e comprar uma pizza.
— Como eu peço sem falar o idioma?
— Vai pensar em algo.
— Qual sabor de pizza você quer?
— Vá — respondeu Keller.
Gabriel desceu do carro e entrou no lugar. Havia três pessoas na fila na frente dele. Ele ficou ali esperando em meio ao cheiro de queijo quente e fermento. Então, ouviu uma breve buzinada e, virando-se, viu a Mercedes preta entrando rápido na Ballyfermot Road. Gabriel saiu e entrou no banco do passageiro. Keller deu a volta, entrou na rua e acelerou lentamente.
— Ele comprou algo? — perguntou Gabriel.
— Uns jornais e um maço de Winston.
— Como ele estava quando saiu?
— Como se realmente não precisasse de jornal ou cigarro.
— Imagino que a Garda o vigia regularmente?
— Espero que sim.
— O que significa que está acostumado a ser seguido de vez em quando por homens em carros comuns.
— Eu pensaria isso.
— Está virando — falou Gabriel.
— Eu vi.
O carro entrou em uma rua escura de pequenas casas com terraço. Nenhum trânsito, nenhuma loja, nenhum lugar onde dois caras de fora poderiam ter algo a fazer. Keller parou no meio-fio e apagou os faróis. Cem metros à frente na rua, a Mercedes entrou em uma casa. As luzes do carro se apagaram. Quatro portas se abriram, quatro homens desceram.
— Casa de Walsh? — perguntou Gabriel.
Keller assentiu.
— Casado?
— Não é mais.
— Namorada?
— Pode ter.
— E um cachorro?
— Tem algum problema com cachorros?
Gabriel não respondeu. Em vez disso, ficou olhando os quatro homens se aproximarem da casa e desaparecerem pela porta da frente.
— O que fazemos agora? — ele perguntou.
— Acho que poderíamos passar os próximos dias esperando uma oportunidade melhor.
— Ou?
— Pegamos ele agora.
— Há quatro deles e dois nossos.
— Um — respondeu Keller. — Você não vai.
— Por que não?
— Porque o futuro chefe do Escritório não pode se envolver em algo assim. Além disso — acrescentou Keller, batendo na protuberância debaixo da jaqueta —, só temos uma arma.
— Quatro contra um — disse Gabriel depois de um momento. — Não é uma boa aposta.
— Na verdade, com meu histórico, eu gosto das minhas chances.
— Como você pretende fazer?
— Da mesma forma que costumávamos fazer na Irlanda do Norte — respondeu Keller. — Jogo de gente grande, regras de gente grande.
Keller desceu sem falar nada e fechou a porta sem fazer barulho. Gabriel passou uma perna sobre o console do centro e deslizou atrás do volante. Ele ligou o para-brisas e olhou Keller caminhando pela rua, as mãos no bolso do casaco, os ombros inclinados pelo vento. Verificou seu BlackBerry. Eram 20h27 em Dublin, 22h27 em Jerusalém. Pensou em sua linda esposa sentada sozinha no apartamento deles na rua Narkiss, e em seus dois filhos descansando confortavelmente no útero dela. E aqui estava ele em uma rua deserta no sul de Dublin, sentinela de outra vigília, esperando um amigo cobrar uma velha dívida. A chuva batia contra o vidro, a rua escura foi se enchendo de água. Gabriel ligou o para-brisa uma segunda vez e viu Keller passar por uma esfera de luz amarela. E, quando ligou pela terceira vez, Keller tinha desaparecido.
A casa estava localizada no número 48 da Rossmore Road. Seu exterior era cinzento, com uma janela de marcos brancos no térreo e outras duas no andar de cima. A entrada estreita tinha espaço suficiente para um carro. Ao lado da entrada havia um portão com um caminho e um pedaço de grama bordeada por uma sebe baixa. Era respeitável, exceto pelo homem que vivia ali.
Como todas as casas no final da rua, o número 48 tinha um quintal no fundo, que dava para os campos esportivos de uma escola católica para garotos. A entrada da escola virava a esquina em Le Fanu Road. O portão principal estava aberto; parecia que estava ocorrendo uma reunião na sala principal. Keller passou pelo portão sem ser notado e cruzou uma quadra marcada para diversos tipos de jogos. De repente, estava de volta à terrível escola em Surrey para onde seus pais o enviaram aos dez anos. Esperavam muito dele — uma boa família, um excelente estudante, um líder natural. Os garotos mais velhos nunca tocavam nele porque tinham medo. O diretor não usava castigos físicos contra ele porque secretamente o diretor também tinha medo.
Na beira da quadra havia uma fileira de árvores. Keller passou por baixo dos galhos secos e cruzou as quadras escuras. Junto ao lado norte havia um muro de aproximadamente dois metros de altura coberto de videiras. Além dele estavam os jardins de fundo das casas da Rossmore Road. Keller foi até o canto mais distante do campo e contou 57 passos precisamente. Então, silenciosamente, escalou o muro e pulou para o outro lado. Quando seus sapatos caíram sobre a terra úmida, tirou a Beretta com silenciador e apontou para a porta do fundo da casa. Havia luzes lá dentro; sombras se moviam contra as cortinas fechadas. Keller segurava a arma, vendo, ouvindo. Jogo de gente grande, ele pensou. Regras de gente grande.
Dez minutos depois das nove, o BlackBerry de Gabriel vibrou. Ele o levou ao ouvido, escutou, e depois desligou. A chuva tinha dado lugar a uma névoa; Rossmore Road estava vazia de trânsito e pedestres. Dirigiu até a casa de número 48, estacionou na rua e desligou o motor. Novamente seu BlackBerry vibrou, mas dessa vez ele não atendeu. Em vez disso, tirou um par de luvas de borracha coloridas, desceu e abriu o porta-malas modesto. Dentro havia uma maleta deixada pelo mensageiro da Estação de Dublin. Gabriel a tirou e carregou até o jardim. A porta da frente abriu com seu toque; ele entrou e a fechou. Keller estava no hall de entrada, a Beretta em sua mão. O ar tinha cheiro de cordite e, levemente, de sangue. Era um cheiro muito familiar a Gabriel. Ele passou por Keller sem falar nada e entrou na sala de estar. Havia uma nuvem de fumaça no ar. Três homens, cada um com um buraco de bala no centro da testa, um quarto com um nariz quebrado e um queixo que parecia ter sido deslocado com um martelo. Gabriel se abaixou e viu se tinha pulso. Depois de ver que estava vivo, abriu a mala e começou a trabalhar.
A mala continha três rolos de fita adesiva grossa, uma dúzia de algemas flexíveis descartáveis, uma bolsa de nylon capaz de envolver um homem de 1,80m, um capuz preto, um agasalho azul e branco, duas mudas de roupa, um kit de primeiros socorros, fones de ouvido, sedativo, seringas, álcool e uma cópia do Corão. O Escritório se referia ao conteúdo da mala como pacote móvel do detido. Entre os agentes de campo veteranos, no entanto, era conhecido como um kit de viagem do terrorista.
Depois de determinar que Walsh não corria risco de morrer, Gabriel o mumificou com fita adesiva. Ele não se importou com as algemas de plástico; em questão de arte e restrição física, era um tradicionalista por natureza. Enquanto estava aplicando as últimas faixas de fita na boca e nos olhos de Walsh, o irlandês começou a recuperar a consciência. Gabriel aplicou uma dose do sedativo. Então, com a ajuda de Keller, colocou Walsh na sacola de lona e fechou o zíper.
A casa não tinha garagem, o que significava que não tinham escolha a não ser tirar Walsh pela porta da frente, à vista dos vizinhos. Gabriel encontrou a chave do Mercedes no corpo de um dos mortos. Moveu o carro para a rua e colocou o Škoda na entrada. Keller carregou Walsh para fora sozinho e o depositou no porta-malas aberto. Então subiu no banco do passageiro e deixou que Gabriel dirigisse. Foi o melhor. Na experiência de Gabriel, era pouco inteligente permitir que um homem que tinha acabado de matar três pessoas operasse um veículo motorizado.
— Você apagou as luzes?
Keller assentiu.
— E as portas?
— Estão trancadas.
Keller tirou o silenciador e o pente da Beretta e colocou tudo no porta-luvas. Gabriel saiu para a rua e começou o caminho de volta para Ballyfermot Road.
— Quantas balas você usou? — ele perguntou.
— Três — respondeu Keller.
— Quanto tempo antes que a Garda encontre os corpos?
— Não é com a Garda que deveríamos nos preocupar.
Keller jogou o cigarro na escuridão da rua. Gabriel viu faíscas explodindo pelo espelho.
— Como se sente? — ele perguntou.
— Como se nunca tivesse ido embora.
— Esse é o problema com a vingança, Christopher. Nunca faz a gente se sentir melhor.
— É verdade — disse Keller, acendendo outro cigarro. — E eu só estou começando.
14
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
A CASA ESTAVA NO MEIO da Doonen Road, no alto de uma colina com vista para as águas escuras do Salt Lake. Tinha três quartos, uma cozinha grande com utensílios modernos, uma sala de jantar formal, uma pequena biblioteca e um escritório, e um porão com paredes de pedra. O dono, um advogado de Dublin bem-sucedido, quis mil euros por uma semana. A Organização Interna tinha feito a proposta de mil e quinhentos por duas, e o advogado, que raramente recebia ofertas no inverno, aceitou. O dinheiro apareceu em sua conta bancária na manhã seguinte. Veio de algo chamado Taurus Global Entertainment, uma empresa de produção televisiva com sede na cidade suíça de Montreux. Falaram ao advogado que os dois homens que iam ficar em sua casa eram executivos da Taurus que estavam indo à Irlanda para trabalhar em um projeto que era de natureza delicada. Isso, pelo menos, era verdade.
A casa estava distante da Doonen Road por pelo menos uns cem metros. Havia um portão de alumínio frágil que devia ser aberto e fechado à mão e um caminho de pedras que subia pela colina atravessando a vegetação. No ponto mais alto da terra havia três árvores muito antigas derrubadas pelo vento que soprava do Atlântico norte e que se estreitava pela baía de Clifden. O vento era frio e sem remorso. Balançava as janelas da casa, agarrava as telhas e rondava os quartos sempre que uma porta se abria. O pequeno terraço era inabitável, uma terra de ninguém. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Doonen Road não era uma estrada de verdade, mas uma faixa estreita de asfalto, suficiente para um carro, com uma faixa de grama verde no centro. As pessoas de férias viajavam para lá ocasionalmente, mas ela servia basicamente como a porta dos fundos da vila de Clifden. Era uma cidade jovem pelos padrões irlandeses, fundada em 1814 por um dono de terras e xerife chamado John d’Arcy, que queria criar uma ilha de ordem dentro da violenta e sem lei Connemara. D’Arcy construiu um castelo para si e para os moradores da vila, uma linda cidade com ruas pavimentadas, praças e um par de igrejas com torres que podiam ser vistas de longe. O castelo agora estava em ruínas, mas a vila, que já tinha quase desaparecido por causa da Grande Fome, estava entre as mais vibrantes do oeste da Irlanda.
Um dos homens que estava na casa alugada, o menor dos dois, caminhava até a vila todos os dias, normalmente no final da manhã, vestindo um casaco verde-escuro, carregando uma mochila no ombro e usando um chapéu mole puxado sobre a testa. Ele comprava umas poucas coisas no supermercado e uma ou duas garrafas na Ferguson Fine Wines, italianos normalmente, às vezes franceses. E então, tendo comprado suas provisões, ele passeava pelas vitrines da Main Street com o ar de alguém preocupado com questões mais importantes. Em uma ocasião, ele entrou na Lavelle Art Gallery para dar uma olhada rápida no que tinham. O proprietário ia se lembrar depois que ele parecia conhecer muito sobre quadros e isso chamou sua atenção. Era difícil saber de onde era seu sotaque. Talvez alemão, talvez outra coisa. Não importava; para o povo de Connemara, todo mundo tinha sotaque.
No quarto dia, sua caminhada pela Main Street era mais superficial do que o normal. Ele entrou em apenas um lugar, na banca de jornal, e comprou quatro maços de cigarro norte-americano e uma cópia do The Independent. A primeira página estava cheia de notícias de Dublin, sobre três membros do IRA Autêntico que tinham sido encontrados mortos em uma casa em Ballyfermot. Outro homem estava desaparecido e supostamente tinha sido sequestrado. A Garda estava procurando por ele. Também os membros do IRA Autêntico.
— Gangue de traficantes — murmurou o homem atrás do balcão.
— Terrível — concordou o visitante com o sotaque que ninguém conseguia localizar.
Ele enfiou o jornal na mochila e, com alguma relutância, o cigarro. Aí caminhou de novo para a casa do advogado de Dublin, que, na realidade era odiado pelos residentes de Clifden. O outro homem, que tinha a pele curtida como couro, estava ouvindo atentamente as notícias do meio-dia na RTÉ.
— Estamos perto— foi tudo que ele disse.
— Quando?
— Talvez essa noite.
O menor dos dois homens foi até o terraço enquanto o outro fumava. Uma nuvem escura estava sobre Clifden e o vento parecia estar cheio de lascas. Cinco minutos foi tudo que ele aguentou. Então entrou, para a fumaça e a tensão da espera. Não sentiu vergonha. Nem as gaivotas ficavam muito tempo ali.
Em toda sua carreira, Gabriel tinha tido o desprazer de conhecer vários terroristas: terroristas palestinos, egípcios, sauditas; terroristas motivados pela fé, motivados por uma perda; que tinham nascido nas piores favelas do mundo árabe; terroristas que tinham sido criados no conforto material do ocidente. Geralmente, ele imaginava o que esses homens poderiam ter conseguido se tivessem escolhido outro caminho. Muitos eram bastante inteligentes, e em seus olhos impiedosos, via curas de doenças nunca encontradas, softwares nunca criados, músicas nunca compostas e poemas nunca escritos. Liam Walsh, no entanto, não causou nenhuma impressão. Walsh era um assassino sem remorso ou boa educação, que não tinha ambição a não ser a destruição de vidas e propriedades. Em seu caso, uma carreira no terrorismo, até pelos reduzidos padrões dos republicanos irlandeses conservadores, era o melhor que ele poderia ter conseguido.
Ele não tinha medo, no entanto, e possuía uma obstinação natural que o tornava difícil de quebrar. Nas primeiras 48 horas foi deixado em total isolamento no frio do porão, olhos vendados, amordaçado, com fones de ouvido, imobilizado por fita adesiva. Não ofereceram comida, apenas água, que ele recusou. Keller o levou ao banheiro, mas suas necessidades eram mínimas por causa de sua dieta restritiva. Quando necessário, ele falava com Walsh com o sotaque de um protestante da classe trabalhadora de Belfast oriental. O irlandês não recebeu nenhuma oferta para sair de sua situação e não pediu nada. Tendo visto três de seus companheiros mortos num piscar de olhos, parecia resignado ao seu destino. Como a SAS, os terroristas e traficantes irlandeses jogavam com as regras de gente grande.
Na manhã do terceiro dia, louco de sede, ele aceitou um pouco de água à temperatura ambiente. Ao meio-dia bebeu chá com leite e açúcar, e à noite recebeu mais chá e uma única torrada. Foi então que Keller falou com ele pela primeira vez.
— Você está atolado em problemas, Liam — disse em seu sotaque de Belfast oriental. — E a única forma de sair é me contar o que quero saber.
— Quem é você? — perguntou Walsh com dor no queixo quebrado.
— Isso depende inteiramente de você — respondeu Keller. — Se falar comigo, serei seu melhor amigo no mundo. Se não, vai terminar como seus três amigos.
— O que quer saber?
— Omagh — foi tudo que Keller disse.
Na manhã do quarto dia, Keller tirou os fones do ouvido de Walsh e a mordaça de sua boca, falando sobre a situação em que se encontrava o irlandês agora. Keller afirmou que era membro de um pequeno grupo vigilante de protestantes procurando justiça pelas vítimas do terrorismo republicano. Sugeriu que tinha ligações com o Ulster Volunteer Force, o grupo paramilitar legalista que tinha matado pelo menos quinhentas pessoas, principalmente civis católicos romanos, durante o pior dos problemas na Irlanda do Norte. O UVF aceitou um cessar-fogo em 1994, mas seus murais, com imagens de homens mascarados e armados, ainda estavam nos muros dos bairros protestantes e nas cidades em Ulster. Muitos dos murais tinham o mesmo slogan: “Preparados para a paz, prontos para a guerra.” O mesmo poderia ser dito de Keller.
— Estou procurando quem montou a bomba — ele explicou. — Você sabe de que bomba estou falando, Liam. A bomba que matou 29 pessoas inocentes em Omagh. Você estava lá aquele dia. Estava no carro com ele.
— Não sei do que você está falando.
— Você estava lá, Liam — repetiu Keller. — E esteve em contato com ele depois que o movimento deu em merda. Ele veio aqui para Dublin. Você cuidou dele até que ficou complicado demais.
— Não é verdade. Nada disso é verdade.
— Ele voltou a circular, Liam. Conte-me onde posso encontrá-lo.
Walsh não falou nada por um tempo.
— E se eu contar? — ele perguntou finalmente.
— Vai passar algum tempo preso, um longo tempo, mas vai viver.
— Mentira — cuspiu Walsh.
— Não estamos interessados em você, Liam — respondeu Keller calmamente. — Só nele. Diga onde podemos encontrá-lo e vamos deixar você viver. Tente dar uma de esperto e vou matar você. E não vai ser uma bela bala na cabeça. Vai doer, Liam. Vai doer muito.
Naquela tarde, uma tempestade caiu em toda Connemara. Gabriel se sentou ao lado do fogo lendo um livro de Fitzgerald enquanto Keller dirigia pela região procurando atividades incomuns da Garda. Liam Walsh permaneceu isolado no porão, amarrado, amordaçado, com os olhos e os ouvidos cobertos. Ele não recebeu bebida ou comida. Naquela noite, estava tão fraco de fome e desidratação que Keller quase teve de carregá-lo ao banheiro.
— Quanto tempo? — perguntou Gabriel no jantar.
— Estamos perto— disse Keller.
— Foi o que você falou antes.
Keller ficou em silêncio.
— Tem algo que possamos fazer para acelerar as coisas? Gostaria de sair daqui antes que a Garda venha bater à porta.
— Ou o IRA Autêntico — acrescentou Keller.
— Então?
— Ele está imune à dor nesse ponto.
— E água?
— Água é sempre bom.
— Ele sabe?
— Ele sabe.
— Você precisa de ajuda?
— Não — falou Keller, se levantando. — É pessoal.
Quando Keller saiu, Gabriel foi até o terraço e ficou sob a chuva. Só demorou cinco minutos. Mesmo um homem duro como Liam Walsh não podia aguentar a água por muito tempo.
15
THAMES HOUSE, LONDRES
A CADA NOITE DE SEXTA-FEIRA, normalmente às seis horas, mas às vezes um pouco mais tarde se Londres ou o mundo estivesse em crise, Graham Seymour tomava uma bebida com Amanda Wallace, diretora-geral do MI5. Era, sem dúvida, sua reunião menos agradável da semana. Wallace era a antiga chefe de Seymour. Eles entraram no MI5 no mesmo ano e tinham avançado em suas carreiras de forma paralela; Seymour no departamento de contraterrorismo, Wallace no de contraespionagem. No final, foi Amanda quem venceu a corrida para a sala do DG. Mas agora, bastante inesperadamente e no fim de sua carreira, Seymour tinha recebido o melhor prêmio de todos. Amanda o odiava por isso, pois ele agora era o espião mais poderoso de Londres. Em silêncio, ela trabalhava para miná-lo sempre que podia.
Como Seymour, Amanda Wallace tinha espionagem em seu DNA. Sua mãe trabalhara muito na sala de arquivos do registro do MI5 durante a guerra e, ao se formar em Cambridge, Amanda nunca tinha considerado outra carreira a não ser na inteligência. A linhagem comum deles deveria tê-los tornado aliados. Em vez disso, Amanda tinha imediatamente colocado Seymour no papel de rival. Ele era o canalha bonitão para quem o sucesso tinha chegado muito facilmente e ela era a garota estranha, até tímida, que iria derrubá-lo. Eles se conheciam havia trinta anos e juntos tinham chegado aos dois postos mais importantes da inteligência britânica e, mesmo assim, a dinâmica básica do relacionamento deles nunca tinha mudado.
Na sexta-feira anterior, Amanda tinha ido a Vauxhall Cross, o que significava que sob as regras do relacionamento deles, era a vez de Seymour viajar. Ele não via isso como uma imposição; sempre gostava de voltar a Thames House. Seu Jaguar oficial entrou no estacionamento do subsolo às 17h55 e, dois minutos depois, o elevador de Amanda o deixou no andar mais alto. O corredor principal estava muito silencioso. Seymour supôs que a equipe sênior estava misturada com as tropas em um dos dois bares privativos do prédio. Como sempre, ele parou para dar uma olhada dentro de seu velho escritório. Miles Kent, seu sucessor como vice-diretor, estava olhando para o computador. Parecia que não dormia há uma semana.
— Como ela está? — perguntou Seymour, cauteloso.
— Brava e agitada. Mas é melhor você correr — acrescentou Kent. — Não deve deixar a rainha esperando.
Seymour continuou pelo corredor até a sala da DG. Um membro da equipe toda masculina de Amanda o cumprimentou na antessala e imediatamente abriu a porta do escritório dela. Estava parada contemplando uma janela que dava para o Parlamento. Virando-se, ela consultou o relógio. Amanda valorizava a pontualidade acima de todos os outros atributos.
— Graham — ela falou, tranquila, como se estivesse lendo o nome dele em um dos densos documentos de briefing que sua equipe sempre preparava antes de uma reunião importante. Então deu um sorriso eficiente. Parecia que tinha aprendido a fazer a expressão praticando em frente ao espelho. — Que bom que veio.
Uma bandeja com bebidas tinha sido deixada na longa e brilhante mesa de reuniões. Ela preparou um gim-tônica para Seymour e, para si mesma, um martini seco com azeitonas e cebolas em conserva. Ela se orgulhava da habilidade para preparar sua bebida, uma habilidade que, em sua opinião, era obrigatória para um espião. Era uma de suas poucas qualidades amáveis.
— Saúde — disse Seymour, levantando o copo um centímetro, mas novamente Amanda só sorriu. A BBC estava sintonizada e silenciada em uma grande televisão de tela plana. Um oficial sênior da Garda Síochána estava parado em frente a uma pequena casa em Ballyfermot onde três homens, todos da gangue de traficantes do IRA Autêntico, tinham sido encontrados mortos.
— Bastante horrível — disse Amanda.
— Uma guerra por território, aparentemente — murmurou Seymour sobre o copo.
— Nossos amigos na Garda têm dúvidas sobre isso.
— Do que eles sabem?
— Nada, na verdade, e é por isso que estão preocupados. Os telefones normalmente tocam com muitos dedos-duros depois de um grande assassinato entre gangues, mas não dessa vez. E também — ela acrescentou — a forma como eles foram mortos. Normalmente, esses mafiosos destroem toda a sala com armas automáticas. Mas quem fez isso foi muito preciso. Três tiros, três corpos. A Garda está convencida de que estão lidando com profissionais.
— Têm alguma ideia de onde está Liam Walsh?
— Estão trabalhando com a suposição de que ele está em algum lugar da República, mas não têm ideia de onde. — Ela olhou para Seymour e levantou uma sobrancelha. — Ele não está amarrado em uma cadeira em alguma casa segura do MI6, está, Graham?
— Infelizmente, não.
Seymour olhou para a televisão. A BBC tinha passado para a próxima notícia. O primeiro-ministro Jonathan Lancaster estavam em Washington para uma reunião com o presidente norte-americano. Não tinha ido tão bem quanto ele esperava. A Grã-Bretanha não estava muito em voga em Washington no momento, pelo menos não na Casa Branca.
— Seu amigo — disse Amanda friamente.
— O presidente norte-americano?
— Jonathan.
— Seu também — respondeu Seymour.
— Minha relação com o primeiro-ministro é cordial — disse Amanda deliberadamente —, mas não chega perto da sua. Você e Jonathan são muito ligados.
Estava claro que Amanda queria falar mais sobre a conexão especial de Seymour com o primeiro-ministro. Em vez disso, serviu mais uma bebida para ele enquanto contava uma fofoca sobre a esposa de certo embaixador de um emirado árabe rico em petróleo. Seymour também contou sobre um relatório que tinha recebido de um homem com sotaque britânico que estava comprando mísseis antitanque portáteis no bazar de armas na Líbia. Depois disso, com o gelo sendo rompido, eles continuaram conversando do jeito que só dois espiões experientes poderiam. Compartilharam, revelaram, se aconselharam e em duas ocasiões chegaram a rir. Na verdade, por alguns minutos parecia que a rivalidade entre eles não existia. Eles conversaram sobre a situação no Iraque e na Síria, sobre a China, sobre a economia global e seu impacto na segurança e também sobre o presidente norte-americano, a quem culparam por muitos dos problemas do mundo. Em algum momento, conversaram sobre os russos. Naqueles dias, eles sempre conversavam.
— Os cyberguerreiros deles — disse Amanda — estão atacando nossas instituições financeiras com tudo que têm em suas pequenas caixinhas-surpresa. Também estão atrás de nossos sistemas governamentais e das redes de computadores das maiores empresas de defesa.
— Estão atrás de algo específico?
— Na verdade — ela respondeu —, eles não parecem estar procurando alguma coisa. Só estão tentando causar os maiores danos possíveis. Há uma imprudência como nunca tínhamos visto antes.
— Alguma mudança na postura deles aqui em Londres?
— D4 notou um aumento importante na atividade da Estação Londres. Não temos certeza do que isso significa, mas está claro que estão envolvidos em algo grande.
— Maior do que plantar uma russa ilegal na cama do primeiro-ministro?
Amanda levantou a sobrancelha e girou uma azeitona na borda do copo. O rosto da princesa apareceu na televisão. Sua família tinha anunciado a criação de um fundo para apoiar as causas de que ela gostava. Jonathan Lancaster tinha tido a permissão para fazer a primeira doação.
— Ouviu algo novo? — perguntou Amanda.
— Sobre a princesa?
Ela assentiu.
— Nada. Você?
Ela colocou sua bebida na mesa e olhou Seymour por um momento, em silêncio. Finalmente, perguntou:
— Por que não me contou que foi Eamon Quinn?
Amanda bateu com as unhas no braço da cadeira enquanto esperava uma resposta, o que nunca era um bom sinal. Seymour decidiu que não tinha escolha a não ser contar a verdade, ou pelo menos uma versão dela.
— Não contei — ele disse finalmente — porque não queria envolvê-la.
— Porque não confia em mim?
— Porque não quero que você seja contaminada de nenhuma forma.
— Por que eu seria contaminada? Afinal, Graham, você era o chefe do contraterrorismo na época da bomba de Omagh, não eu.
— E é por isso que você se tornou DG do Serviço de Segurança.
Ele fez uma pausa, depois acrescentou:
— E não eu.
Um silêncio pesado caiu entre eles. Seymour queria ir embora, mas não podia. A questão tinha de ter alguma resolução.
— Quinn estava agindo em nome do IRA Autêntico — perguntou Amanda finalmente — ou de alguém mais?
— Devemos ter uma resposta para isso em algumas horas.
— Assim que Liam Walsh contar?
Seymour não deu nenhuma resposta.
— É uma operação do MI6 autorizada?
— Por fora.
— Sua especialidade.— Disse Amanda, cáustica. — Acho que está trabalhando com os israelenses. Afinal, eles queriam tirar Quinn de circulação há muito tempo.
— E deveríamos ter aceitado a oferta.
— Quanto Jonathan sabe?
— Nada.
Ela xingou baixinho, algo que raramente fazia.
— Vou dar a você muita liberdade de ação nisso — ela falou, finalmente. — Não por você, entenda, mas pelo bem do Serviço de Segurança. Mas espero um aviso antecipado se sua operação entrar em solo britânico. E se algo explodir, vou garantir que seja o seu pescoço na guilhotina, não o meu. — Ela sorriu. — Para que tudo fique claro.
— Eu não teria esperado outra coisa.
— Muito bem, então. — Ela olhou para o relógio. — Infelizmente preciso ir, Graham. Próxima semana no seu escritório?
— Estarei esperando. — Seymour se levantou e esticou a mão. — Sempre um prazer, Amanda.
16
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
ELES O LEVARAM PARA cima e, com os olhos ainda vendados pela fita adesiva, permitiram que tomasse um banho pela primeira vez. Então colocaram o casaco azul e branco e deram um pouco de comida e um chá com leite para beber. Ajudou um pouco sua aparência. Com o rosto inchado, a pele branca e o aspecto geral muito magro, ele parecia um cadáver que se levantou do caixão.
Quando a refeição foi terminada, Keller repetiu seu conselho. O irlandês seria tratado bem desde que respondesse corretamente as perguntas de Keller e em uma voz normal. Se ele mentisse, gritasse ou fizesse alguma tentativa estúpida de fugir, voltaria ao porão e as condições de seu confinamento seriam muito menos agradáveis do que antes. Gabriel não falou, mas Walsh, com os sentidos auditivos ampliados pela escuridão e pelo medo, estava claramente consciente de sua presença. Gabriel preferia dessa forma. Ele não queria deixar Walsh com a impressão equivocada de que estava sob o controle de um único homem, mesmo se esse homem fosse um dos mais mortais do mundo.
Keller não tinha treinamento formal nas técnicas de interrogatório, mas como todos os bons interrogadores, estabeleceu em Walsh o hábito de responder perguntas corretamente e sem hesitar ou se evadir. Eram perguntas simples no começo, perguntas com respostas que eram facilmente verificáveis. Data de nascimento. Local de nascimento. Nomes dos pais e irmãos. As escolas que tinha estudado. Seu recrutamento pelo Exército Republicano Irlandês. Walsh declarou que tinha nascido em Ballybay, condado de Monaghan, em 16 de outubro de 1972. O lugar de seu nascimento era significativo, pois era a três quilômetros da Irlanda do Norte, na tensa região da fronteira. Seu nascimento era significativo, também; era o mesmo de Michael Collins, o líder revolucionário irlandês. Ele frequentou escolas católicas até os 18 anos, quando entrou no IRA. Seu recrutador não fez nenhuma tentativa de glamourizar a vida que Walsh tinha escolhido. Ele teria um salário ridículo e viveria sempre perto do perigo. O mais provável é que passasse vários anos na prisão. As chances eram grandes de que ele morreria violentamente.
— E o nome do recrutador? — perguntou Keller em seu sotaque de Ulster.
— Não tenho a liberdade de dizer.
— Agora você tem.
— Era Seamus McNeil — disse Walsh depois de um momento de hesitação. — Ele era...
— Membro da Brigada South Armagh — Keller cortou. — Foi morto em uma emboscada por soldados britânicos e enterrado com honras pelo IRA, que descanse em paz.
— Na verdade — disse Walsh —, ele morreu durante um tiroteio com a SAS.
— Só caubóis e gangsters fazem tiroteio — respondeu Keller. — Mas você estava a ponto de me contar sobre seu treinamento.
Foi o que Walsh fez. Ele foi mandado a um remoto campo na República para treinamento de armas leves e lições na manufatura e entrega de bombas. Disseram para parar de beber e evitar socializar com pessoas que não eram membros do IRA. Finalmente, seis meses depois de seu recrutamento, foi designado a uma unidade de serviço ativo de elite do IRA. Sua militância era junto com um mestre na confecção de bombas e planejador operacional chamado Eamon Quinn. Quinn era vários anos mais velho que Walsh e já era uma lenda. Nos anos oitenta, fora enviado a um campo no deserto da Líbia para treinamento. Mas, no final, disse Walsh, Quinn mais ensinou que aprendeu com os líbios. Na verdade, Eamon foi quem deu aos líbios o design para a bomba que derrubou o voo 103 da Pan Am em Lockerbie, na Escócia.
— Mentira — respondeu Keller.
— Se não quiser acreditar... — respondeu Walsh.
— Quem mais estava no campo com ele?
— Eram da OLP, principalmente, e alguns caras de uma das organizações que se separaram.
— Qual?
— Acredito que era a Frente Popular para a Libertação da Palestina.
— Você conhece os grupos terroristas da Palestina...
— Temos muito em comum com os palestinos.
— Por quê?
— Os dois estão ocupados por potências coloniais racistas.
Keller olhou para Gabriel, que estava olhando, impassível, para as mãos. Walsh, ainda vendado, parecia sentir a tensão na sala. Do lado de fora, o vento atacava as portas e janelas da casa, como se estivesse procurando um ponto de entrada.
— Onde estou? — perguntou Walsh.
— Inferno — respondeu Keller.
— O que tenho de fazer para sair?
— Continue falando.
— O que quer saber?
— Os detalhes da sua primeira operação.
— Foi em 1993.
— Que mês?
— Abril.
— Ulster ou Inglaterra?
— Inglaterra.
— Que cidade?
— A única cidade que importa.
— Londres?
— É.
— Bishopsgate?
Walsh assentiu. Bishopsgate...
O caminhão, um basculante Ford Iveco, roubado de Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, em março. Eles o levaram a um armazém alugado e o pintaram de azul. Então, Quinn colocou a bomba, um aparato de combustível/nitrato de amônia de uma tonelada que ele montou em South Armagh e levou escondido até a Inglaterra. Na manhã de 24 de abril, Walsh dirigiu o caminhão até Londres e estacionou em frente ao 99 da Bishospgate, uma torre de escritórios ocupada exclusivamente pelo HSBC. A explosão destruiu mais de quinhentas toneladas de vidro, derrubou uma igreja e matou um fotojornalista. O governo britânico respondeu cercando o distrito financeiro de Londres em um cordão de segurança chamado de “anel de aço”. Sem medo, o IRA voltou a Londres, em fevereiro de 1996, com outro caminhão-bomba criado e montado por Eamon Quinn. Dessa vez, o alvo era Canary Wharf, em Docklands. A explosão foi tão forte que destruiu janelas a oito quilômetros de distância. Os primeiros-ministros da Grã-Bretanha e da Irlanda rapidamente anunciaram a retomada das negociações de paz. Dezoito meses depois, em julho de 1997, o IRA aceitou o cessar-fogo.
— Foi um desastre do caralho — disse Walsh.
— E quando o IRA se dividiu mais tarde, naquele outono — disse Keller —, você foi com McKevitt e Bernadette Sands?
— Não. — respondeu Walsh. — Eu fui com Eamon Quinn.
Desde o princípio, Walsh continuou, o IRA Autêntico estava cheio de informantes do MI5 e da Crime e Segurança, uma divisão secreta da Garda Síochána que operava fora dos escritórios oficiais, no bairro de Phoenix Park, em Dublin. Mesmo assim, o grupo conseguiu realizar uma série de ataques de bomba, incluindo um devastador, em Banbridge em primeiro de agosto de 1998. A bomba pesava 225 quilos e estava escondida dentro de um Vauxhall Cavalier vermelho. Os avisos telefônicos codificados eram imprecisos — sem localização, sem tempo de detonação. Como resultado, 33 pessoas ficaram seriamente feridas, incluindo dois oficiais do Royal Ulster Constabulary. Pedaços do Vauxhall foram encontrados a mais de quinhentos metros de distância. Foi, disse Walsh, uma prévia das próximas atrações.
— Omagh — falou Keller, em voz baixa.
Walsh não falou nada.
— Você foi parte da equipe operacional?
Walsh assentiu.
— Que carro? — perguntou Keller. — Bomba, escolta ou fuga.
— Bomba.
— Motorista ou passageiro?
— Deveria ser o motorista, mas houve uma mudança no último minuto.
— Quem dirigiu?
Walsh hesitou, depois falou:
— Quinn.
— Por que a mudança?
— Ele falou que estava mais nervoso do que o costume antes de uma operação. Disse que dirigir ia ajudar a acalmar.
— Mas essa não era a verdadeira razão, era, Liam? Quinn queria ele mesmo resolver os problemas. Quinn queria colocar um prego no caixão do processo de paz.
— Uma bala na cabeça era como ele descrevia.
— Ele deveria deixar a bomba no tribunal?
— Esse era o plano.
— Ele procurou um lugar para estacionar?
— Não — disse Walsh, balançando a cabeça. — Foi direto para a Lower Market Street e estacionou em frente à S.D. Kells.
— Por que você não fez nada?
— Tentei convencê-lo, mas ele não me ouviu.
— Deveria ter tentado mais, Liam.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
— Onde estava o carro de fuga?
— No estacionamento do supermercado.
— E quando você entrou?
— A chamada foi para o outro lado da fronteira.
— Os tijolos estão na parede.
Walsh assentiu.
— Por que você não contou a ninguém que a bomba estava no lugar errado?
— Se eu tivesse aberto minha boca, Quinn teria me matado. Além disso — acrescentou Walsh —, já era muito tarde.
— E quando a bomba explodiu?
— A cidade virou uma merda.
A morte e a devastação causaram revolta nos dois lados da fronteira e no mundo todo. O IRA Autêntico divulgou um pedido de desculpas e anunciou um cessar-fogo, mas era tarde demais; o movimento tinha sofrido danos irreparáveis. Walsh se estabeleceu em Dublin para cuidar dos interesses do IRA Autêntico no crescente comércio de drogas. Quinn se escondeu.
— Onde?
— Espanha.
— O que ele fez?
— Ele viveu na praia até que o dinheiro acabou.
— E depois?
— Ele ligou para um velho amigo e disse que queria voltar ao jogo.
— Quem era o amigo?
Walsh hesitou, depois falou:
— Muamar Kadafi.
17
CLIFDEN, CONDADO DE GALWAY
NÃO FOI REALMENTE KADAFI, Walsh acrescentou rapidamente. Foi alguém de confiança da inteligência líbia que Quinn tinha conhecido quando estava no campo de treinamento de terrorismo no deserto. Quinn pediu ajuda e o homem da inteligência líbia, depois de consultar o dirigente, concordou em permitir que Quinn fosse para o país. Ele vivia em uma casa protegida em um bairro chique de Trípoli, e fazia alguns trabalhos para os serviços de segurança da Líbia. Também era um visitante frequente do bunker subterrâneo de Kadafi, onde ia entreter o líder com histórias da luta contra os britânicos. Com o tempo, Kadafi dividiu Quinn com alguns de seus aliados regionais menos sofisticados. Ele desenvolveu contatos com cada vilão do continente: ditadores, senhores da guerra, mercenários, traficantes de diamantes, militantes islâmicos de todos os tipos. Também fez amizade com um negociante de armas que estava enviando armamentos e munição para toda a guerra civil e insurgência na África subsaariana. O traficante de armas concordou em mandar um pequeno container de AK-47 e explosivos plásticos para o IRA Autêntico. Walsh entregou a encomenda em Dublin.
— Lembra-se do nome do homem da inteligência líbia? — perguntou Keller.
— Ele se chamava Abu Muhammad.
Keller olhou para Gabriel, que assentiu lentamente.
— E o traficante de armas russo? — perguntou Keller.
— Era Ivan Kharkov, o que foi morto em Saint-Tropez alguns anos atrás.
— Tem certeza, Liam? Tem certeza de que era Ivan?
— Quem mais poderia ser? Ivan controlava o comércio de armas na África e ele matava qualquer um que tentasse fazer negócios lá.
— E a casa em Trípoli? Sabe onde era?
— Era em um bairro que chamavam de Al-Andalus.
— A rua?
— Via Canova. Número 27 — acrescentou Walsh. — Mas não perca seu tempo. Quinn deixou a Líbia há vários anos.
— O que aconteceu?
— Kadafi decidiu limpar sua barra. Desistiu dos programas de armas e disse aos norte-americanos e europeus que queria normalizar as relações. Tony Blair apertou a mão dele em uma tenda nos arredores de Trípoli. A BP ganhou o direito de explorar o solo líbio. Lembra?
— Eu lembro, Liam.
Aparentemente, falou Walsh, o MI6 sabia que Quinn estava vivendo secretamente em Trípoli. O chefe do MI6 exigiu que Kadafi expulsasse Quinn e ele concordou. Pediu a alguns de seus amigos na África, mas ninguém o aceitou. Então ligou para um de seus melhores amigos no mundo e a mudança foi organizada. Uma semana depois, Kadafi deu a Quinn uma cópia autografada de seu Livro verde e o colocou em um avião.
— E o amigo que concordou em receber Quinn?
— Três palpites — disse Walsh. — Os dois primeiros não contam.
O amigo era Hugo Chávez, presidente da Venezuela, aliada da Rússia, de Cuba e dos mulás de Teerã, um problema para os Estados Unidos. Chávez se via como líder do movimento revolucionário do mundo, e operava um campo de treinamento não tão secreto para terroristas e rebeldes esquerdistas na Ilha Margarita. Quinn logo se tornou uma atração. Trabalhava com todo mundo, do Sendero Luminoso ao Hamas e Hezbollah, compartilhando os truques mortais que tinha descoberto durante sua longa carreira de conflitos com os britânicos. Chávez, como Kadafi antes dele, tratou-o bem. Deu a ele uma casa perto do mar e um passaporte diplomático para viajar pelo mundo. Até deu a ele um novo rosto.
— Quem fez o trabalho?
— O médico de Kadafi.
— O brasileiro?
Walsh assentiu.
— Ele foi a Caracas e realizou a cirurgia em um hospital ali. Fez uma total reconstrução em Quinn. As velhas fotos são inúteis agora. Eu quase não consegui reconhecê-lo.
— Você o viu quando estava na Venezuela?
— Duas vezes.
— Foi até o campo?
— Nunca.
— Por que não?
— Não tinha autorização. Eu o vi no continente.
— Continue falando, Liam.
Um ano depois que Quinn chegou à Venezuela, um alto oficial do VEVAK, o serviço de inteligência iraniano, fez uma visita à ilha. Não estava ali para ver seus aliados do Hezbollah; estava para ver Quinn. O homem do VEVAK ficou na ilha por uma semana. E, quando voltou a Teerã, Quinn foi com ele.
— Por quê?
— Os iranianos queriam que Quinn construísse uma arma.
— Que tipo de arma?
— Uma arma que o Hezbollah poderia usar contra os tanques israelenses e veículos blindados no sul do Líbano.
Keller olhou para Gabriel, que parecia estar contemplando uma rachadura no teto. Walsh, sem saber a verdadeira identidade de sua pequena audiência, ainda estava falando.
— Os iranianos colocaram Quinn em uma fábrica de armas em um subúrbio de Teerã chamado Lavizan. Ele construiu uma versão de uma arma antitanque na qual estava trabalhando há anos. Criava uma bola de fogo que viajava a trezentos metros por segundo e envolvia o veículo avançando em chamas. O Hezbollah usou contra os israelenses no verão de 2006. Os tanques israelenses queimavam totalmente. Era como o Holocausto.
Keller novamente olhou de lado para Gabriel, que agora estava olhando diretamente para Liam Walsh.
— E quando ele terminou de criar a arma antitanque? — perguntou Keller.
— Ele foi ao Líbano para trabalhar diretamente com o Hezbollah.
— Que tipo de trabalho?
— Bombas em estradas, principalmente.
— E depois?
— Os iranianos o mandaram ao Iêmen para trabalhar com a Al-Qaeda, na península Arábica.
— Não sabia que havia ligações entre os iranianos e a Al-Qaeda.
— Quem contou isso?
— Onde ele está agora?
— Não tenho ideia.
— Você está mentindo, Liam.
— Não estou. Juro que não sei onde ele está ou para quem está trabalhando.
— Quando foi a última vez que você o viu?
— Há seis meses.
— Onde?
— Espanha.
— Espanha é um país grande, Liam.
— Foi no sul, em Sotogrande.
— Um playground irlandês.
— É como Dublin com sol.
— Onde se encontrou com ele?
— Em um pequeno hotel perto da marina. Muito tranquilo.
— O que ele queria?
— Queria me entregar um pacote.
— Que tipo de pacote?
— Dinheiro.
— Para quem era o dinheiro?
— A filha dele.
— Nunca soube que era casado.
— A maioria das pessoas não sabe.
— Onde está a filha?
— Em Belfast com a mãe.
— Continue falando, Liam.
Os serviços combinados de inteligência britânica tinham juntado uma montanha de material sobre a vida e os tempos de Eamon Quinn, mas em nenhum lugar desses volumosos arquivos havia qualquer menção a uma esposa ou uma filha. Não era acidente, disse Walsh. Quinn, o planejador operacional, tinha trabalhado muito para manter sua família em segredo. Walsh afirmava ter participado da cerimônia na qual os dois se casaram e depois ajudou a gerenciar as questões financeiras da família durante os anos em que Quinn estava vivendo no exterior como uma superestrela do terrorismo internacional. O pacote que Quinn deu a Walsh no hotel espanhol de Sotogrande continha cem mil libras em notas usadas. Foi o maior pagamento que Quinn já tinha confiado a seu velho amigo.
— Por que tanto dinheiro? — perguntou Keller.
— Ele disse que seria o último pagamento por um tempo.
— Falou o motivo?
— Não.
— E você não perguntou?
— Eu sei qual é o meu lugar!
— E você entregou o pagamento total?
— Cada libra.
— Não cobrou uma taxa pelo serviço? Afinal, Quinn nunca ficaria sabendo.
— Você obviamente não conhece Eamon Quinn.
Keller perguntou se Quinn já tinha vindo a Belfast para ver sua família.
— Nunca.
— E elas nunca viajaram para fora do país para vê-lo?
— Ele tinha medo de que os britânicos seguissem as duas. Além disso — acrescentou Walsh —, elas não o teriam reconhecido. Quinn tinha um novo rosto. Quinn era outra pessoa.
Isso os levou de volta ao assunto da aparência cirurgicamente alterada de Quinn. Gabriel e Keller tinham posse das imagens que os franceses haviam capturado em São Bartolomeu — umas poucas imagens do vídeo do aeroporto, umas poucas fotos capturadas de câmeras de segurança de lojas —, mas em nenhuma o rosto de Quinn estava claramente visível. Parecia um esfregão com cabelo escuro e barba, um homem para olhar uma vez e rapidamente esquecer. Liam Walsh tinha o poder de completar o retrato de Quinn, pois havia se sentado em frente a ele seis meses antes, em um quarto de hotel espanhol.
Gabriel tinha realizado esboços em circunstâncias desafiadoras, mas nunca com uma testemunha que estava vendada. Na verdade, ele tinha quase certeza de que não era possível. Keller explicou como o processo funcionaria. Havia outro homem presente, ele falou, um homem que era tão bom com esboços e lápis quanto ele era com os punhos e uma arma. Esse homem não era nem irlandês nem de Ulster. Walsh deveria descrever a aparência de Quinn para ele. Poderia olhar o esboço do homem, mas sob nenhuma circunstância poderia olhar para o rosto dele.
— E se eu olhar sem querer?
— Não olhe.
Keller retirou a fita adesiva dos olhos de Walsh. O irlandês piscou várias vezes. Então olhou diretamente para a figura sentada do lado oposto da mesa com papel e uma caixa de lápis coloridos.
— Você acabou de violar as regras — disse Gabriel, calmo.
— Quer saber como ele se parece ou não?
Gabriel pegou um lápis.
— Vamos começar com os olhos.
— São verdes — respondeu Walsh. — Como os seus.
Trabalharam sem parar pelas próximas duas horas. Walsh descreveu, Gabriel desenhou, Walsh corrigiu, Gabriel revisou. Finalmente, à meia-noite, o retrato estava completo. O cirurgião plástico brasileiro tinha feito um bom trabalho. Tinha dado a Quinn um rosto sem nenhuma característica memorável. Mesmo assim, era um rosto que Gabriel reconheceria se passasse por ele na rua.
Se Walsh estava curioso sobre a identidade do homem de olhos verdes atrás do papel, não mostrou. Nem resistiu quando Keller cobriu seus olhos com uma venda de fita adesiva ou quando Gabriel injetou sedativo suficiente para mantê-lo quieto por umas horas. Eles o colocaram inconsciente na sacola de lona e limparam cada item e superfície que algum deles tinha tocado na casa. Então, o enfiaram no porta-malas do Škoda e sentaram nos bancos da frente. Keller dirigiu. Era sua área.
As estradas estavam vazias, a chuva era esporádica, uma queda torrencial em um minuto, uma névoa com vento no seguinte. Keller fumava um cigarro atrás do outro e ouvia as notícias no rádio. Gabriel olhava pela janela para as colinas escuras e a vegetação balançando com o vento. Em seus pensamentos, no entanto, só estava Eamon Quinn. Desde que fugiu da Irlanda, Quinn tinha trabalhado com alguns dos homens mais perigosos do mundo. Era possível que estivesse agindo por consciência ou por crença política, mas Gabriel duvidava. Claramente, ele pensou, Quinn deixou tudo isso para trás. Ele tinha seguido o mesmo caminho que Carlos e Abu Nidal antes dele. Era um terrorista de aluguel, matando às ordens de seus poderosos patronos. Mas quem pagara Quinn? Quem o havia contratado para matar uma princesa? Gabriel tinha uma longa lista de potenciais suspeitos. Por enquanto, porém, encontrar Quinn teria prioridade. Liam Walsh tinha dado muitos lugares para procurar, nenhum mais promissor que uma casa em Belfast ocidental. Uma parte de Gabriel queria procurar em outro lugar, pois ele via esposas e filhos como fora do limite. Quinn, no entanto, não tinha deixado outra opção.
No lado oriental de Killary Harbor, Keller entrou em um caminho de terra e seguiu até um bosque denso. Parou em uma pequena clareira, apagou as luzes, desligou o motor e abriu o porta-malas. Gabriel ia abrir a porta, mas Keller o impediu.
— Fique aqui — foi tudo que disse antes de abrir sua porta e descer na chuva.
Nesse momento, Walsh tinha recuperado a consciência. Gabriel ouviu quando Keller explicava o que ia acontecer. Como Walsh tinha cooperado, ele seria liberado sem problemas. Sob nenhuma circunstância deveria discutir seu interrogatório com seus sócios. Nem deveria fazer qualquer tentativa de passar uma mensagem de aviso a Quinn. Se fizesse isso, disse Keller, ele era um homem morto.
— Entendido, Liam?
Gabriel ouviu Walsh murmurando algo afirmativo. Então, sentiu a parte de trás do Škoda levantar um pouco quando Keller ajudava o irlandês a se levantar. O porta-malas fechou; Walsh caminhou vendado até o bosque, Keller o guiava por um ombro. Por um momento havia somente o vento e a chuva. Então, deu para ver duas explosões de luz no fundo do bosque.
Keller logo reapareceu. Ele se sentou atrás do volante, ligou o carro e voltou para a estrada. Gabriel olhava pela janela quando notícias de um mundo complicado eram dadas pelo rádio. Dessa vez, ele não perguntou como Keller se sentia. Era pessoal. Ele fechou os olhos e dormiu. Quando acordou era de dia e estavam cruzando a fronteira com a Irlanda do Norte.
18
OMAGH, IRLANDA DO NORTE
A PRIMEIRA CIDADE DO OUTRO lado da fronteira era Aughnacloy. Keller parou para encher o tanque em uma linda igreja e depois seguiu a A5 para o norte até Omagh, assim como Quinn e Liam Walsh tinham feito na tarde de 15 de agosto de 1998. Eram poucos minutos depois das nove quando eles chegaram aos subúrbios ao sul da cidade; a chuva tinha parado e um sol forte brilhava entre as nuvens. Eles deixaram o carro perto do tribunal e caminharam até um café na Lower Market Street. Keller pediu um café da manhã irlandês tradicional, mas Gabriel só pediu chá e pão. Ele viu seu reflexo na janela e ficou estarrecido por sua aparência. Keller, ele decidiu, parecia pior. Seus olhos estavam vermelhos e o rosto estava precisando muito de um barbeador. Em nenhum lugar de sua expressão, no entanto, havia qualquer sugestão de que tinha recentemente matado um homem em um bosque no condado de Mayo.
— Por que estamos aqui? — perguntou Gabriel enquanto olhava os primeiros pedestres da manhã, principalmente comerciantes, andando pelas calçadas.
— É um bom lugar.
— Já esteve aqui antes?
— Em várias ocasiões, para dizer a verdade.
— O que o trouxe a essa cidade?
— Eu costumava encontrar uma fonte aqui.
— IRA?
— Mais ou menos.
— Onde está a fonte agora?
— Cemitério de Greenhill.
— O que aconteceu?
Keller colocou a mão em forma de arma na testa.
— IRA? — perguntou Gabriel.
Keller deu de ombros.
— Mais ou menos.
A comida chegou. Keller devorou como se não tivesse comido durante vários dias, mas Gabriel pegou, sem apetite, seu pão. Do lado de fora, as nuvens estavam brincando com a luz. Era manhã, e logo em seguida, noite. Gabriel imaginou a rua cheia de vidro quebrado e partes de corpos humanos. Olhou para Keller e novamente perguntou por que eles tinham ido a Omagh.
— Caso você tenha se arrependido.
— Do quê?
Keller olhou para o que sobrava do seu café e falou:
— Liam Walsh.
Gabriel não falou nada. Do outro lado da rua, uma mulher com queimaduras em um braço e no rosto estava tentando abrir a porta de uma loja de roupas. Gabriel supôs que era uma das feridas. Foram mais de duzentos aquele dia: homens, mulheres, adolescentes, crianças. Os políticos e a imprensa sempre pareciam se concentrar nos mortos depois de uma bomba, mas os vivos eram logo esquecidos — aqueles com a pele queimada, os que tinham lembranças tão terríveis que nem toda a terapia ou medicação do mundo poderiam colocar suas mentes em paz. Essas eram as conquistas de um homem como Eamon Quinn, um homem que poderia fazer uma bola de fogo viajar a trezentos metros por segundo.
— Então? — perguntou Keller.
— Não — falou Gabriel. — Não estou arrependido.
Um Vauxhall vermelho parou no meio-fio em frente ao café e dois homens desceram. Gabriel sentiu o sangue subir até o rosto enquanto via os homens caminharem pela rua. Então, olhou para o carro como se estivesse esperando que o relógio no porta-luvas chegasse a zero.
— O que você teria feito? — ele perguntou de repente.
— Sobre o quê?
— Se soubesse onde estava a bomba naquele dia.
— Eu teria tentado avisá-los.
— E se a bomba estivesse a ponto de explodir? Teria arriscado sua vida?
A garçonete colocou a conta na mesa antes que Keller pudesse responder. Gabriel pagou a conta em dinheiro, enfiou o recibo no bolso e seguiu Keller até a rua. O tribunal estava à direita. Keller virou à esquerda e deixou Gabriel passar por lojas e vitrines coloridas, até uma torre de vidro azul-esverdeado na calçada, como uma lápide. Era o memorial para as vítimas da bomba de Omagh, colocado no ponto em que o carro tinha explodido. Gabriel e Keller ficaram ali por um momento, nenhum deles falava, enquanto os pedestres passavam. A maioria evitava os olhos deles. Do outro lado da rua, uma mulher com cabelo claro e óculos escuros levantou um smartphone, como se fosse tirar uma fotografia. Keller rapidamente se virou de costas. Assim como Gabriel.
— O que você teria feito, Christopher?
— Sobre a bomba?
Gabriel assentiu.
— Eu teria feito tudo que poderia para afastar as pessoas.
— Mesmo se você morresse?
— Mesmo se eu morresse.
— Como pode ter tanta certeza?
— Porque eu não poderia viver com essa culpa.
Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então, falou baixinho:
— Você vai ser um excelente agente do MI6, Christopher.
— Agentes do MI6 não matam terroristas e deixam seus corpos no meio do campo.
— Não — falou Gabriel. — Só os bons.
Olhou sobre o ombro. A mulher com o smartphone tinha ido embora.
Vinte e cinco anos tinham se passado desde que Christopher Keller tinha pisado em Belfast, e o centro da cidade tinha mudado muito em sua ausência. Na verdade, se não fosse por alguns pontos de referência como o Opera House e o hotel Europa, ele quase não a reconheceria. Não havia soldados britânicos patrulhando as ruas, nenhum posto de vigilância do exército no alto dos edifícios e nenhum medo no rosto dos pedestres caminhando pela Great Victoria. A geografia da cidade continuava dividida em linhas sectárias e ainda havia murais paramilitares em alguns dos bairros mais barra-pesada. Mas, na maior parte, as provas da longa e sangrenta guerra tinham sido apagadas. Belfast se promovia como uma meca do turismo. E por alguma razão, pensou Keller, os turistas realmente vinham.
Uma das principais atrações da cidade era uma cena musical celta muito vibrante que tinha reaparecido com o fim da guerra. A maioria dos bares e pubs que tinham música ao vivo estava localizada nas ruas ao redor da catedral de St. Anne. O Tommy O’Boyle’s ficava na Union, no térreo de uma velha fábrica vitoriana de tijolos vermelhos. Ainda não era meio-dia e a porta estava trancada. Keller apertou o botão do intercomunicador e rapidamente virou de costas para a câmera de segurança. Com o silêncio como resposta, ele apertou o botão uma segunda vez.
— Estamos fechados — disse uma voz.
— Eu sei ler — respondeu Keller em seu sotaque de Belfast.
— O que você quer?
— Falar com Billy Conway.
Alguns segundos de silêncio.
— Ele está ocupado.
— Tenho certeza de que terá tempo para mim.
— Qual é o seu nome?
— Michael Connelly.
— Não significa nada para mim.
— Diga a ele que eu trabalhava na lavanderia Sparkle Clean, na Road, no passado.
— O lugar fechou há anos.
— Estamos pensando em voltar a abrir.
Houve outro silêncio. Aí, a voz falou:
— Seja bonzinho e me deixa dar uma olhada na sua cara.
Keller hesitou antes de olhar para as lentes da câmera de segurança. Dez segundos depois a porta se abriu.
— Entre — disse a voz.
— Eu prefiro aqui fora.
— Como você quiser.
Havia uma pilha de jornais caída na calçada escura carregada por um vento frio que vinha do rio Lagan. Keller levantou a gola do casaco. Pensou no terraço ensolarado de sua casa na Córsega. Parecia algo de outro mundo para ele agora, um lugar que tinha visitado uma vez em sua infância. Ele não podia mais lembrar o aroma das colinas ou uma imagem clara do rosto do Dom. Era Christopher Keller de novo. Estava de volta ao jogo.
Ouviu um barulho e, virando-se, viu a porta do Tommy O’Boyle’s abrindo lentamente. Parado na abertura estreita havia um homem pequeno e magro com quase sessenta anos, uma barba grisalha no rosto e um pouco mais de cabelo na cabeça. Olhava como se tivesse visto um fantasma. De certa forma, era verdade.
— Oi, Billy — disse Keller, amável. — É bom vê-lo de novo.
— Achei que estivesse morto.
— Estou morto. — Keller colocou uma mão no ombro do homem. — Vamos dar uma volta, Billy. Precisamos conversar.
19
GREAT VICTORIA STREET, BELFAST
ELES TINHAM IDO A um lugar onde ninguém iria reconhecê-los. Billy Conway sugeriu uma loja de donuts na Great Victoria; nenhum homem do IRA, ele falou, iria entrar ali. Ele pediu dois cafés grandes e se sentou em uma mesa vazia na parte de trás, perto da saída de incêndio. Era a doença de Belfast. Não se sente muito perto das janelas de vidro caso uma bomba exploda na rua. Sempre tenha uma rota de fuga se o tipo errado de pessoa entrar pela porta da frente. Keller se sentou de costas para o salão. Conway olhou para os outros enquanto dava um gole.
— Você deveria ter ligado antes — ele falou. — Quase tive um ataque do coração.
— Teria concordado em me ver?
— Não — falou Billy Conway. — Acho que não.
Keller sorriu.
— Você sempre foi honesto, Billy.
— Honesto demais. Ajudei você a colocar muitos homens no Labirinto. — Conway parou, depois acrescentou — Embaixo da terra, também.
— Isso foi há muito tempo.
— Não tanto — Conway olhou pelo interior da loja. — Eles me deram uma surra depois que você foi embora. Disseram que você entregou a eles meu nome naquela fazenda lá em Armagh.
— Não falei nada.
— Eu sei — disse Conway. — Não estaria vivo se você tivesse me entregado, estaria?
— Nenhuma chance, Billy.
Os olhos de Conway estavam se movendo de novo. Ele tinha ajudado a salvar incontáveis vidas e evitado milhões em danos nas propriedades. E sua recompensa, pensou Keller, era passar o resto da vida esperando por uma bala do IRA. A organização era como um elefante. Nunca esquecia. E certamente nunca perdoaria um informante.
— Como andam os negócios? — perguntou Keller.
— Tudo bem. Você?
Keller moveu os ombros, evasivo.
— Em que negócios você está metido hoje em dia, Michael Connelly?
— Não é importante.
— Presumo que não era seu nome verdadeiro.
Keller fez uma careta para dizer que não era.
— Como aprendeu a falar assim?
— Assim como?
— Como um de nós — disse Conway.
— Acho que é um dom.
— Você tem outros dons também — disse Conway. — Eram quatro contra um na fazenda e mesmo assim não foi uma luta justa.
— Na verdade — disse Keller —, eram cinco contra um.
— Quem era o quinto?
— Quinn.
Um silêncio caiu entre eles.
— Você é corajoso de voltar após todos esses anos — disse Conway depois de um momento. — Se descobrirem que você está na cidade, é um homem morto. Com ou sem acordo de paz.
A porta da loja se abriu e vários turistas — dinamarqueses ou suecos, Keller não conseguiu decidir — entraram. Conway franziu a testa e bebeu seu café.
— O guia turístico os traz para os bairros e mostra onde aconteceram as piores atrocidades. E depois leva ao Tommy O’Boyle’s para ouvir música.
— É bom para os negócios.
— Acho que sim — ele olhou para Keller. — É por isso que você voltou? Para fazer um passeio pela área dos conflitos?
Keller olhou a fila de turistas na rua. Então, olhou para Conway e perguntou:
— Quem foi que interrogou você depois que saí de Belfast?
— Foi o Quinn.
— Onde ele fez isso?
— Não tenho certeza. Realmente não me lembro muito, exceto da faca. Ele me disse que ia arrancar meus olhos se eu não admitisse que era um espião dos britânicos.
— O que contou a ele?
— Obviamente, eu neguei. E posso ter implorado pela minha vida também. Ele pareceu gostar disso. Sempre foi um maldito cruel.
Keller assentiu lentamente, como se Conway tivesse falado palavras de grande inspiração.
— Ouviu falar do Liam Walsh? — Conway perguntou.
— É difícil não ter ouvido.
— Quem você acha que está por trás disso?
— A Garda diz que foram drogas.
— A Garda — falou Conway — é uma merda completa.
— O que você sabe?
— Sei que alguém entrou na casa do Walsh em Dublin e matou três caras bem duros sem suar.
Conway parou, depois perguntou:
— Parece familiar?
Keller não falou nada.
— Por que você voltou aqui?
— Quinn.
— Não vai encontrá-lo em Belfast.
— Sabia que ele tem esposa e filha aqui?
— Ouvi rumores sobre isso, mas nunca descobri um nome.
— Maggie Donahue.
Conway levantou os olhos, pensativo, para o teto.
— Faz sentido.
— Conhece?
— Todo mundo conhece a Maggie.
— Trabalho?
— Do outro lado da rua, no hotel Europa. Na verdade — Conway acrescentou olhando o relógio —, ela deve estar lá agora.
— E a menina?
— Estuda na Our Lady of Mercy. Deve ter 16 agora.
— Sabe onde elas moram?
— No começo da Crumlin Road, em Ardoyne.
— Preciso do endereço, Billy.
— Sem problema.
20
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
BILLY CONWAY DEMOROU MENOS de trinta minutos para descobrir que Maggie Donahue vivia no número oito em Stratford Gardens com sua única filha, que se chamava Catherine, o mesmo nome da mãe de Quinn. Os vizinhos não sabiam a fonte do nome da menina, apesar de que a maioria suspeitava de que o marido ausente de Maggie, estivesse morto ou vivo, era algum homem do IRA, possivelmente um dissidente que tinha rejeitado o acordo da Sexta-Feira Santa. Esses sentimentos eram profundos em Ardoyne. Durante a pior parte dos conflitos, o Royal Ulster Constabulary via o bairro como uma área proibida, muito perigosa para patrulhar ou mesmo entrar. Mais de uma década depois dos acordos de paz, ainda era cenário de lutas entre católicos e protestantes.
Para complementar os pagamentos de dinheiro que ela recebia de seu marido, Maggie trabalhava como garçonete no bar do hotel Europa, o mais bombardeado do mundo. Naquela tarde ela teve o azar de atender as necessidades particulares de um hóspede chamado Herr Johannes Klemp. Seu registro no hotel tinha um endereço de Munique, mas seu trabalho — aparentemente tinha algo a ver com design de interior — exigia que ele passasse um bom tempo longe de casa. Como muitos viajantes frequentes, ele era um pouco difícil de agradar. Seu almoço, parecia, estava uma catástrofe. A salada estava muito crua, o sanduíche estava muito frio, o leite do café estava horrível. Pior ainda, ele tinha gostado da pobre criatura cujo emprego era deixá-lo feliz. Ela não gostou das tentativas dele. Poucas mulheres gostavam.
— Longo dia? — ele perguntou quando ela enchia sua xícara de café.
— Só começando.
Ela sorriu cansada. Tinha o cabelo muito escuro, a pele branca e grandes olhos azuis em cima de bochechas amplas. Tinha sido muito bonita, mas seu rosto tinha sofrido muito. Ele achava que Belfast a deixara mais velha. Ou talvez, pensou, tinha sido Quinn que havia arruinado sua beleza.
— Você é daqui? — ele perguntou.
— Todo mundo é daqui.
— Leste ou oeste?
— Você faz muitas perguntas.
— Estou apenas curioso.
— Com o quê?
— Belfast — ele respondeu.
— É por isso que veio aqui? Porque está curioso?
— Trabalho, infelizmente. Mas tenho o resto do dia para mim mesmo, então pensei em ver um pouco da cidade.
— Por que não contrata um guia turístico? Eles conhecem muito.
— Prefiro cortar os pulsos.
— Sei como se sente. — Sua ironia pareceu acertá-lo como uma pedra jogada de um trem bala. — Tem algo mais que eu poderia fazer por você?
— Pode tirar o resto do dia livre e me mostrar a cidade.
— Não posso — foi tudo que ela disse.
— Que horas você deixa o trabalho?
— Oito.
— Vou passar para beber algo e conto como foi meu dia.
Ela sorriu triste e disse:
— Vou estar aqui.
Ele pagou a conta em dinheiro e foi para a Great Victoria, onde Keller esperava atrás do volante do Škoda. No banco de trás, envolto em celofane, havia um buquê de flores. O pequeno envelope estava endereçado a maggie donahue.
— A que horas ela deixa o trabalho? — perguntou Keller.
— Ela falou oito horas, mas poderia estar tentando me evitar.
— Falei para você ser bonzinho.
— Não está no meu DNA ser bonzinho com a esposa de um terrorista.
— É possível que ela não saiba.
— Onde seu marido consegue cem mil libras em notas usadas?
Keller não tinha resposta.
— E a garota? — perguntou Gabriel.
— Está na escola até as três.
— E depois?
— Um jogo de hóquei contra Belfast Model School.
— Protestante?
— A maioria.
— Deve ser interessante.
Keller ficou em silêncio.
— Então, o que vamos fazer?
— Entregamos umas flores em Stratford Gardens.
— E depois?
— Damos uma olhada dentro.
Mas, primeiro, eles decidiram dar uma passeada pelo passado violento de Keller. Estava a velha Divis Tower, onde ele tinha morado entre os integrantes do IRA como Michael Connelly, e a lavanderia abandonada de Falls Road, onde o mesmo Michael Connelly tinha testado roupas dos membros do IRA em busca de provas de explosivos. Mais embaixo, na Road, havia o portão de ferro do cemitério de Milltown, onde Elizabeth Conlin, a mulher que Keller tinha amado em segredo, estava enterrada em uma tumba que Eamon Quinn tinha cavado para ela.
— Você nunca foi? — perguntou Gabriel.
— É muito perigoso — disse Keller, balançando a cabeça. — O IRA vigia os túmulos.
De Milltown eles passaram pelos conjuntos habitacionais em Ballymurphy até Springfield Road. Pelo lado norte havia uma barricada separando um enclave protestante de um distrito católico vizinho. A primeira das chamadas linhas de paz apareceu em Belfast, em 1969, como uma solução temporária para o sectarismo sangrento da cidade. Agora era uma característica permanente de sua geografia — na verdade, o número, a extensão e a escala tinham crescido desde a assinatura dos acordos da Sexta-Feira Santa. Na Springfield Road a barricada era uma cerca verde transparente de uns dez metros de altura. Mas em Cupar Way, uma parte especialmente tensa de Ardoyne, era uma estrutura parecida com o Muro de Berlim, com arame farpado no alto. Os moradores dos dois lados tinham pintado murais. Era possível comparar com o muro de separação entre Israel e a Cisjordânia.
— Isso parece paz para você? — perguntou Keller.
— Não — respondeu Gabriel. — Parece minha casa.
Finalmente, à uma e meia, Keller entrou em Stratford Gardens. O número oito, como seus vizinhos, era uma casa de dois andares de tijolos vermelhos com uma porta branca e uma única janela em cada andar. A grama crescia no jardim; havia um cesto de lixo verde derrubado pelo vento. Keller parou no meio-fio e desligou o carro.
— A gente se pergunta — disse Gabriel — por que Quinn decidiu viver em uma casa luxuosa na Venezuela em vez de morar aqui?
— Deu uma olhada na porta?
— Uma única fechadura, sem ferrolho.
— Quanto tempo demora para abrir?
— Trinta segundos — falou Gabriel. — Menos que isso se deixar essas estúpidas flores.
— Você precisa levar as flores.
— Prefiro levar a arma.
— Vou ficar com a arma.
— O que acontece se encontro um par de amigos do Quinn lá dentro?
— Finja ser um católico de Belfast ocidental.
— Não acho que vão acreditar em mim.
— É melhor — falou Keller. — Ou você é um homem morto.
— Algum outro conselho útil?
— Cinco minutos e nem um a mais.
Gabriel abriu a porta e desceu do carro. Keller xingou baixinho. As flores ainda estavam no banco de trás.
21
ARDOYNE, BELFAST OCIDENTAL
HAVIA UMA PEQUENA BANDEIRA tricolor irlandesa pendurada imóvel no batente da porta. Como o sonho de uma Irlanda unida, estava apagada e esfarrapada. Gabriel tentou a fechadura e, como era esperado, estava trancada. Então pegou uma fina ferramenta de metal do bolso e, usando a técnica aprendida na juventude, trabalhou cuidadosamente no mecanismo. Alguns segundos foram suficientes para a trava se entregar. Quando ele tentou a fechadura pela segunda vez, ela permitiu a passagem. Ele deu um passo e fechou a porta silenciosamente. Não tocou nenhum alarme, nenhum cachorro latiu.
A correspondência estava espalhada pelo chão. Ele juntou os vários envelopes, folhetos, revistas e propaganda, dando uma olhada rápida neles. Todos estavam em nome de Maggie Donahue, exceto uma revista de moda para adolescentes, que estava em nome de sua filha. Parecia não haver nenhuma correspondência particular de nenhum tipo, só o lixo comercial comum que entope os serviços de correios no mundo todo. Gabriel enfiou no bolso uma conta de cartão de crédito e devolveu o resto ao chão. Depois, entrou na sala de estar.
Era uma sala pequena, uns poucos metros quadrados, com espaço suficiente para o sofá, a televisão e um par de poltronas combinando. Na mesa de café havia uma pilha de revistas velhas e jornais de Belfast, junto com mais correspondência, aberta e fechada. Um dos itens era uma newsletter e um apelo financeiro para contribuir com o Movimento de Soberania dos 32 Condados, o braço político do IRA Autêntico. Gabriel ficou pensando se quem enviou sabia que estava mandando para a esposa secreta do melhor construtor de bombas e explosivos do grupo.
Ele devolveu a carta a seu envelope e à mesa. As paredes da sala estavam vazias exceto por uma violenta paisagem da costa irlandesa de qualidade inferior pendurada sobre o sofá. Em uma das mesinhas havia uma fotografia emoldurada de uma mãe e uma criança na primeira comunhão, na igreja Holy Cross. Gabriel não conseguiu encontrar nenhum traço de Quinn no rosto da criança. Nisso, pelo menos, ela era afortunada.
Olhou para o relógio. Noventa segundos tinham se passado desde que ele tinha entrado na casa. Abriu as cortinas finas e viu um carro cruzando lentamente a rua. Havia dois homens dentro. Eles pareceram notar cuidadosamente Keller enquanto passavam pelo Škoda estacionado. Então o carro continuou por Stratford Gardens e desapareceu na esquina. Gabriel olhou para o Škoda. As luzes ainda estavam apagadas. Em seguida olhou o BlackBerry. Nenhum aviso, nenhuma ligação perdida.
Ele soltou a cortina e entrou na cozinha. Uma xícara de café com batom estava na pia; pratos molhados de água com sabão. Ele abriu a geladeira. Estava razoavelmente cheia, nada verde, nenhuma fruta, nenhuma cerveja, só meia garrafa de um vinho branco italiano barato.
Soltou a porta da geladeira e começou a abrir e fechar as gavetas. Em uma encontrou um envelope cor de creme e dentro do envelope havia uma nota escrita por Quinn.
Deposite em pequenas quantidades, assim parece dinheiro de gorjeta... Mande um beijo para C...
Gabriel enfiou o bilhete no bolso do casaco perto da conta de cartão de crédito e olhou o relógio. Dois minutos e meio. Saiu da cozinha e subiu.
O carro voltou às 13h37. Novamente cruzou lentamente na frente do número oito, mas dessa vez parou ao lado do Škoda. No começo, Keller fingiu não perceber. Então, indiferente, ele abaixou o vidro.
— O que você está fazendo aqui? — perguntou o motorista com um forte sotaque de Belfast ocidental.
— Esperando uma amiga — respondeu Keller no mesmo sotaque.
— Qual é o nome da sua amiga?
— Maggie Donahue.
— E o seu? — perguntou o passageiro no carro.
— Gerry Campbell.
— De onde você é, Gerry Campbell?
— Dublin.
— E antes disso?
— Derry.
— Quando você partiu?
— Não é problema seu.
Keller não estava mais sorrindo. Nem os dois homens no outro carro. O vidro subiu; o carro continuou pela rua tranquila e desapareceu na esquina uma segunda vez. Keller pensou quanto demoraria para eles descobrirem que Maggie Donahue, a esposa secreta de Eamon Quinn, estava no momento trabalhando no hotel Europa. Dois minutos, pensou. Talvez menos. Ele tirou o celular e ligou.
— Os nativos estão começando a ficar impacientes.
— Tente dar as flores a eles.
A linha ficou muda. Keller ligou o motor e segurou a Beretta. Ficou olhando pelo espelho retrovisor e esperou que o carro voltasse.
No alto das escadas havia duas portas. Gabriel entrou no quarto à direita. Era o maior dos dois, apesar de que estava longe de ser uma suíte master. Havia roupas espalhadas pelo chão e em cima da cama desfeita. As cortinas estavam bem fechadas; não havia nenhuma luz a não ser os dígitos vermelhos do alarme, que estava dez minutos adiantado. Gabriel abriu a gaveta do criado-mudo e iluminou o conteúdo com sua lanterna. Canetas sem tinta, pilhas usadas, um envelope contendo centenas de libras em notas velhas, outra carta de Quinn. Parece que ele queria ver sua filha. Não havia menção de onde ele estava vivendo ou onde o encontro poderia acontecer. Mesmo assim, sugeria que Liam Walsh não tinha sido verdadeiro quando afirmava que Quinn não tinha tido nenhum contato pessoal com sua família desde que havia fugido da Irlanda após o ataque de Omagh.
Gabriel acrescentou a carta a sua pequena coleção de provas e abriu a porta do armário. Procurou entre a roupa e encontrou vários itens claramente pertencentes a um homem. Era possível que Maggie Donahue tivesse tido um amante durante a longa ausência de seu marido. Era possível, também, que a roupa pertencesse a Quinn. Ele tirou um dos itens, uma calça de lã e mediu o tamanho com a própria perna. Quinn, ele lembrava, media 1,78m, não era um homem alto, mas era maior que Gabriel. Ele procurou algo nos bolsos. Em um, encontrou três moedas, euros e uma pequena passagem azul e amarela. Estava rasgada, só sobrava a metade. Gabriel conseguia ver quatro números, 5846, nada mais. Na parte de trás havia uns poucos centímetros de uma tarja magnética.
Gabriel enfiou a passagem no bolso, devolveu a calça em seu cabide original e entrou no banheiro. No armário de remédios encontrou lâmina de barbear, loção pós-barba e desodorante masculino. Depois cruzou o corredor e entrou no segundo quarto. Em limpeza, a filha de Quinn era exatamente o oposto de sua mãe. A cama estava arrumada; as roupas, penduradas no armário. Gabriel procurou nas gavetas da penteadeira. Não havia drogas nem cigarro, nenhuma prova de uma vida secreta escondida da mãe. Nem havia traço de Eamon Quinn.
Gabriel olhou a hora. Tinham se passado cinco minutos. Ele foi até a janela e viu o carro com dois homens passando lentamente na rua. Quando terminou, o BlackBerry vibrou. Ele o levou até a orelha e ouviu a voz de Christopher Keller.
— Acabou o tempo.
— Mais dois minutos.
— Não temos dois minutos.
Keller desligou sem falar mais nada. Gabriel olhou no quarto. Estava acostumado a procurar nas propriedades de profissionais, não adolescentes. Profissionais eram bons em esconder coisas, adolescentes, não. Eles presumiam que todos os adultos eram tontos, e o excesso de confiança era normalmente o que levava a erros.
Gabriel voltou ao armário e procurou dentro dos sapatos. Em seguida, folheou as revistas de moda, mas não encontrou nada a não ser ofertas de assinaturas e amostras de perfumes. Finalmente, repassou a pequena coleção de livros dela. Incluía uma história dos conflitos escrita por um autor simpático ao IRA e à causa do nacionalismo irlandês. E foi ali, entre duas páginas, que encontrou o que estava procurando.
Era uma fotografia de uma adolescente e um homem usando um chapéu com abas e óculos escuros. Estavam parados em uma rua com prédios antigos, talvez europeus, talvez sul-americanos. A garota era Catherine Donahue e o homem ao seu lado era o pai, Eamon Quinn.
Stratford Gardens estava quieta quando Gabriel saiu da casa número oito. Ele passou pelo portão de metal, caminhou até o Škoda e entrou no carro. Keller abriu caminho pelas ruas principais do Ardoyne católico e voltou a Crumlin Road. Então fez um rápido giro à direita na Cambrai e só aí soltou o acelerador. Havia bandeiras inglesas penduradas nos postes. Eles tinham cruzado uma das fronteiras invisíveis de Belfast. Estavam de volta à segurança do lado protestante.
— Encontrou algo? — perguntou Keller finalmente.
— Acho que sim.
— O quê?
Gabriel sorriu e disse:
— Quinn.
22
WARRING STREET, BELFAST
– PODERIA SER QUALQUER UM — disse Keller.
— Poderia — respondeu Gabriel. — Mas não é. É o Quinn.
Estavam no quarto de Keller, no Premiere Inn, na Warring. Era na esquina do Europa e muito menos luxuoso. Ele fez o check-in como Adrien LeBlanc e falou em inglês com um sotaque francês para os funcionários. Gabriel, durante sua breve passagem pelo lobby, não tinha dito nada.
— Onde você acha que eles estão? — perguntou Keller, ainda estudando a fotografia.
— Boa pergunta.
— Não há sinais no edifício ou carros na rua. É quase como se...
— Ele escolhesse o lugar com grande cuidado.
— Talvez seja Caracas.
— Ou talvez seja Santiago ou Buenos Aires.
— Já foi?
— Aonde?
— Buenos Aires — falou Keller.
— Várias vezes, na verdade.
— Negócios ou prazer?
— Não viajo por prazer.
Keller sorriu e olhou para a foto de novo.
— Parece um pouco com o centro velho de Bogotá para mim.
— Vou ter de acreditar em você nessa.
— Ou talvez seja Madri.
— Talvez.
— Deixe-me ver esse canhoto da passagem.
Gabriel entregou. Keller olhou cuidadosamente a parte da frente. Virou e passou os dedos pela parte da tarja magnética.
— Há alguns anos — ele falou finalmente —, Dom aceitou um contrato de um cavalheiro que tinha roubado muito dinheiro de pessoas que não gostam de ter seu dinheiro roubado. O cavalheiro estava escondido em uma cidade como a dessa foto. Era uma cidade velha que tinha perdido a beleza, uma cidade de colinas e bondes.
— Qual era o nome do cavalheiro?
— Prefiro não falar.
— Onde estava escondido?
— Vou chegar lá.
Keller estava estudando a parte da frente da passagem de novo.
— Como esse cavalheiro não tinha carro, era, por necessidade, um dedicado usuário de transporte público. Eu o segui por uma semana antes de atacar, o que significou que me tornei um dedicado usuário de transporte público, também.
— Você reconhece a passagem, Christopher?
— Pode ser.
Keller pegou o BlackBerry de Gabriel, abriu o Google e digitou vários caracteres na caixa de buscas. Quando os resultados apareceram, ele clicou em um e sorriu.
— Encontrou? — perguntou Gabriel.
Keller virou o BlackBerry para que Gabriel pudesse ver a tela. Nela, havia uma versão completa da passagem que tinha encontrado na casa de Maggie Donahue.
— De onde é? — perguntou Gabriel.
— Uma cidade de colinas e bondes.
— Acho que não está se referindo a San Francisco?
— Não — falou Keller. — É Lisboa.
— Isso não prova que a foto foi tirada lá — disse Gabriel depois de um momento.
— Concordo — respondeu Keller. — Mas se pudermos provar que Catherine Donahue esteve lá...
Gabriel não falou nada.
— Você não viu o passaporte dela quando esteve na casa, viu?
— Não tive a sorte.
— Então suponho que teremos de pensar em outra forma de dar uma olhada nele.
Gabriel pegou o BlackBerry e enviou uma breve mensagem a Graham Seymour em Londres, pedindo informações sobre todas as viagens ao exterior de Catherine Donahue, de Stratford Gardens, número oito, Belfast, Irlanda do Norte. Uma hora depois, quando a escuridão caía sobre a cidade, eles recebiam a resposta.
O ministério britânico tinha emitido o passaporte em dez de novembro de 2013. Uma semana depois, ela embarcou em um voo da British Airways, em Belfast, e desceu no Heathrow de Londres onde, noventa minutos depois, passou para um segundo voo da British Airways, com destino a Lisboa. De acordo com autoridades de imigração portuguesa, ela ficou no país por apenas três dias. Foi sua única viagem ao exterior.
— Nada disso prova que Quinn estava vivendo ali na época — afirmou Keller.
— Por que levá-la a Lisboa entre tantos lugares? Por que não Mônaco, Cannes ou St. Moritz?
— Talvez Quinn estivesse sem dinheiro.
— Ou talvez ele mantenha um apartamento ali, em um velho edifício charmoso no tipo de vizinhança onde ninguém notaria um estrangeiro indo e vindo.
— Conhece alguns lugares assim?
— Passei toda a minha vida em lugares assim.
Keller ficou em silêncio por um momento.
— E agora? — perguntou finalmente.
— Acho que poderíamos levar a foto e meu desenho do rosto dele, e começar a bater nas portas.
— Ou?
— Contratamos os serviços de alguém que é especialista em encontrar aqueles que preferem não ser encontrados.
— Algum candidato?
— Só um.
Gabriel pegou o BlackBerry e ligou para Eli Lavon.
23
BELFAST — LISBOA
ELES DECIDIRAM TOMAR O caminho mais longo até Lisboa. Melhor não chegar à cidade tão rapidamente, disse Gabriel. Melhor tomar cuidado com os arranjos de viagem e a trilha que deixariam. Pela primeira vez, Quinn era real para eles. Não era mais só um rumor. Era um homem em uma rua, com uma filha ao lado. Tinha carne em seus ossos, sangue em suas veias. Ele poderia ser encontrado. E então poderia ser tirado de seu sofrimento.
Então eles deixaram Belfast assim como entraram, em silêncio e sob falsos argumentos. Monsieur LeBlanc falou ao funcionário do Premiere que tinha uma pequena crise pessoal para resolver; Herr Klemp contou algo parecido no hotel Europa. Passando pelo lobby, viu Maggie Donahue, a esposa secreta do assassino, servindo um copo de uísque muito grande a um homem de negócios já bêbado. Ela evitou o olhar de Herr Klemp e ele evitou o dela.
Dirigiram até Dublin, abandonaram o carro no aeroporto e fizeram o check-in em dois quartos no Radisson. Pela manhã, tomaram café como estranhos no restaurante do hotel e depois embarcaram em voos separados para Paris: Gabriel, na Aer Lingus; Keller, na Air France. O voo de Gabriel chegou primeiro. Ele retirou um Citroën limpo do estacionamento e estava esperando no desembarque quando Keller saiu do terminal.
Passaram aquela noite em Biarritz, onde Gabriel já tinha matado alguém por vingança, e, na noite seguinte, na cidade espanhola de Vitoria, onde Keller, em nome de Dom Anton Orsati, já tinha matado um membro do grupo separatista basco ETA. Gabriel podia ver que as ligações de Keller com sua antiga vida estavam começando a entrar em choque; que Keller, a cada dia que passava, estava ficando mais confortável com a perspectiva de trabalhar para Graham Seymour no MI6. Quinn tinha iniciado a cadeia de eventos que havia levado à ruptura de laços de Keller com a Inglaterra. E agora, 25 anos depois, Quinn estava levando Keller de volta para casa.
De Vitoria, eles foram para Madri, e de Madri dirigiram até Badajoz, perto da fronteira portuguesa. Keller estava ansioso para ir a Lisboa, mas, por insistência de Gabriel, eles foram mais para o oeste e pegaram os últimos fracos raios de sol da temporada em Estoril. Ficaram em hotéis separados na praia e levaram vidas separadas de homens sem esposas, sem filhos, sem cuidados ou responsabilidade. Gabriel passava várias horas do dia garantindo que não estavam sendo vigiados. Sentiu a tentação de enviar uma mensagem a Chiara, em Jerusalém, mas não se atreveu. Nem fez contato com Eli Lavon. Lavon era um dos mais experientes rastreadores de homens do mundo. Quando jovem, tinha caçado os membros do Setembro Negro, que realizaram o massacre da Olimpíada de Munique de 1972. Então, depois de deixar o Escritório, tinha começado a trabalhar de forma privada, rastreando bens roubados no Holocausto e algum ocasional criminoso de guerra nazista. Se houvesse algum traço de Quinn em Lisboa — uma residência, um apelido, outra esposa ou filho — Lavon encontraria.
Mas quando se passaram mais dois dias sem nenhuma notícia, até Gabriel começou a ter dúvidas, não da capacidade de Lavon, mas em sua fé de que Quinn tinha algum tipo de ligação com Lisboa. Talvez Catherine Donahue tivesse viajado à cidade com amigos ou como parte de uma viagem escolar. Talvez as calças que Gabriel tinha encontrado no armário de Maggie Donahue pertencessem a outro homem, assim como a passagem rasgada do sistema de bondes de Lisboa. Eles teriam de procurar em outro lugar, ele pensou — no Irã, no Líbano, no Iêmen ou na Venezuela, ou em algum dos incontáveis outros lugares onde Quinn tinha exercido seu mortal negócio. Quinn era um homem do submundo. Ele poderia estar em qualquer lugar.
Mas na terceira manhã de sua estada, Gabriel recebeu uma breve, mas promissora mensagem de Eli Lavon sugerindo que o homem em questão era um visitante frequente da cidade de interesse. Ao meio-dia, Lavon tinha certeza disso, e, no fim da tarde, havia descoberto um endereço. Gabriel ligou para o hotel de Keller e contou que estavam prontos para agir. Eles deixaram Estoril assim como tinham entrado, em silêncio e sob falsos argumentos, dirigindo-se a Lisboa.
— Ele se chama Alvarez.
— Como em português ou espanhol?
— Isso depende do humor dele.
Eli Lavon sorriu. Estavam sentados em uma mesa no Café Brasileira, no bairro do Chiado, em Lisboa. Eram nove e meia e o café estava lotado. Ninguém parecia notar muito os dois homens de meia-idade em frente a xícaras de café em um canto. Eles conversavam em alemão baixinho, uma das muitas línguas que tinham em comum. Gabriel falava no sotaque de Berlim de sua mãe, mas o alemão de Lavon era definitivamente vienense. Usava um suéter de cardigã por baixo da jaqueta de tweed enrugada e um lenço no pescoço. O cabelo era ralo e despenteado; os traços do rosto eram comuns e facilmente esquecíveis. Era um dos seus maiores bens. Eli Lavon parecia ser uma das muitas pessoas pouco interessantes do mundo. Na verdade, era um predador natural que podia seguir um agente de inteligência altamente treinado ou um terrorista duro em qualquer rua do mundo sem atrair nenhum interesse.
— Primeiro nome? — perguntou Gabriel.
— Às vezes José. Outras vezes, ele é Jorge.
— Nacionalidade?
— Às vezes venezuelano, às vezes equatoriano. — Lavon sorriu. — Está começando a ver um padrão?
— Mas ele nunca tenta se passar por português.
— Não domina o idioma para isso. Até seu espanhol é duro. Aparentemente, ele tem bastante sotaque.
Alguém no bar deve ter dito algo divertido, porque uma explosão de risadas reverberou pelo chão de azulejos quadriculado e morreu no alto do teto, onde os candelabros emitiam um fraco brilho dourado. Gabriel olhou por cima do ombro de Lavon e imaginou que Quinn estava sentado na mesa ao lado. Mas não era Quinn; era Christopher Keller. Estava segurando uma xícara de café na mão direita. A mão direita significava que estava tudo bem, a esquerda significava problemas. Gabriel olhou para Lavon de novo e perguntou sobre a localização do apartamento de Quinn. Lavon inclinou a cabeça na direção do Bairro Alto.
— Como é o prédio?
Lavon fez um gesto com a mão para indicar que estava entre aceitável e condenável.
— Porteiro?
— No Bairro Alto?
— Que andar?
— Segundo.
— Podemos entrar?
— Estou surpreso por perguntar isso. A questão é — continuou Lavon — nós queremos entrar?
— Queremos?
Lavon balançou a cabeça.
— Quando temos a sorte de encontrar a segunda casa de um homem como Eamon Quinn, não nos arriscamos a jogar tudo fora correndo até a porta da frente. Adquirimos um posto de observação fixo e esperamos pacientemente o alvo aparecer.
— A menos que existam outros fatores a considerar.
— Como quais?
— A possibilidade de que outra bomba exploda.
— Ou que nossa esposa esteja a ponto de dar à luz a gêmeos?
Gabriel franziu a testa, mas não disse nada.
— Caso você esteja se perguntando — disse Lavon —, ela está bem.
— Está brava?
— Está de sete meses e meio, e seu marido está sentado em um café em Lisboa. Como você acha que ela se sente?
— Como está a segurança dela?
— A rua Narkiss é, possivelmente, a rua mais segura de toda Jerusalém. Uzi mantém uma equipe de segurança na porta o tempo todo.
Lavon hesitou, depois acrescentou:
— Mas todos os guarda-costas do mundo não substituem um marido.
Gabriel não falou nada.
— Posso fazer uma sugestão?
— Se você tiver.
— Volte a Jerusalém por uns dias. Seu amigo e eu podemos vigiar o apartamento. Se Quinn aparecer, você será o primeiro a saber.
— Se eu for a Jerusalém — respondeu Gabriel — não vou querer partir.
— Foi por isso que eu sugeri. — Lavon pigarreou gentilmente. Era um sinal de mais intimidade. — Sua esposa gostaria que você soubesse que daqui a um mês, talvez menos, você será pai de novo. Ela gostaria que você estivesse presente na ocasião. Ou, do contrário, sua vida não vai valer nada.
— Ela falou algo mais?
— Ela pode ter mencionado algo sobre Eamon Quinn.
— O que ela disse?
— Aparentemente, Uzi contou a ela sobre a operação. Sua esposa não aceita bem homens que explodem mulheres e crianças inocentes. Ela gostaria que você encontrasse Quinn antes de voltar para casa. E depois — acrescentou Lavon —, ela gostaria que você o matasse.
Gabriel olhou para Keller e disse:
— Isso não será necessário.
— Entendo — falou Lavon. — Sorte sua.
Gabriel sorriu e tomou um gole de café. Lavon enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um dispositivo USB. Colocou na mesa e empurrou na direção de Gabriel.
— Como pedido, o arquivo completo do Escritório sobre Tariq al-Hourani, nascido na Palestina durante a grande catástrofe árabe, morto a tiros nas escadas de um prédio de apartamentos de Manhattan pouco antes da queda das Torres Gêmeas.
Lavon esperou antes de falar:
— Acredito que você estava lá na época. Por algum motivo, não fui convidado.
Gabriel olhou para o dispositivo em silêncio. Havia partes do arquivo que ele não iria ler de novo — pois foi Tariq al-Hourani que, em uma noite de um janeiro com muita neve, em 1991, tinha plantado uma bomba embaixo do carro de Gabriel, em Viena. A explosão tinha matado seu filho, Dani, e mutilado Leah, sua primeira esposa. Ela vivia em um hospital psiquiátrico no alto do monte Herzl, dentro de uma prisão da memória e um corpo destruído pelo fogo. Durante uma recente visita, Gabriel tinha contado que ele logo seria pai de novo.
— Eu achava — disse Lavon, com a voz baixa — que você conhecia esse arquivo de cor.
— Conheço — disse Gabriel. — Mas gostaria de refrescar minha memória sobre uma parte especial da carreira dele.
— Qual?
— A época que passou na Líbia.
— Tem algum pressentimento?
— Talvez.
— Algo mais que você quer me contar?
— Fico feliz que esteja aqui, Eli.
Lavon mexeu lentamente o café.
— Pelo menos um dos dois está.
Eles saíram pela famosa porta verde do Brasileira em uma praça onde Fernando Pessoa estava sentado em bronze por toda a eternidade, sua punição por ser o poeta mais famoso de Portugal. O vento frio do Tejo rodopiava em um anfiteatro de graciosos edifícios amarelos; um bonde chacoalhava passando pelo largo do Chiado. Gabriel imaginou Quinn sentado em uma cadeira perto da janela, o Quinn do rosto alterado cirurgicamente e de coração sem misericórdia. Quinn, a prostituta da morte. Lavon estava subindo a colina, lentamente, como um flâneur. Gabriel ia ao lado dele e juntos caminharam por um labirinto de ruas escuras. Lavon nunca parou para pensar em seu rumo ou consultar um mapa. Estava falando em alemão sobre uma descoberta que tinha feito recentemente em uma escavação sob a Cidade Velha de Jerusalém. Quando não estava trabalhando para o Escritório, ele era professor-adjunto de arqueologia bíblica na Universidade Hebraica. Na verdade, por causa de uma descoberta monumental que tinha feito debaixo do monte do Templo, Eli Lavon era visto como a resposta de Israel a Indiana Jones.
Ele parou de repente e perguntou:
— Reconhece isso?
— Reconheço o quê?
— Esse lugar. — Com o silêncio como resposta, Lavon se virou. — Que tal agora?
Gabriel se virou também. Não havia nenhuma luz acesa na rua. A escuridão tinha deixado os edifícios sem formato, sem características ou detalhes.
— É onde eles estavam parados. — Lavon deu uns poucos passos subindo a rua com paralelepípedos. — E a pessoa que tirou a fotografia estava parada aqui.
— Pergunto-me quem poderia ser.
— Poderia ter sido alguém que passava na rua.
— Quinn não parece o tipo de pessoa que deixaria um completo estranho tirar uma foto dele.
Lavon voltou a caminhar sem dar outra palavra e subiu mais o bairro. Fez várias outras curvas, à esquerda e à direita, até Gabriel ter perdido todo o sentido de direção. Seu único ponto de orientação era o Tejo, que aparecia esporadicamente através dos espaços entre os prédios, sua superfície brilhando como as escamas de um peixe. Finalmente, Lavon parou e apontou com a cabeça para a entrada de um edifício. Era um pouco mais alto que a maioria dos edifícios no Bairro Alto, quatro andares em vez de três, e todo grafitado no térreo. Uma persiana no segundo andar estava aberta obliquamente; havia uma videira florescendo pendurada na sacada enferrujada. Gabriel caminhou até a entrada e inspecionou o interfone. Não havia nome no 2B. Ele colocou seu dedão no botão e a campainha soou forte, como através de uma janela aberta ou paredes de papel. Então colocou a mão suavemente sobre a maçaneta.
— Sabe quanto tempo demoraria para abrir isso?
— Uns 15 segundos — respondeu Lavon. — Mas quem espera alcança boas coisas.
Gabriel olhou para o declive da rua. No canto, havia um pequeno restaurante onde Keller estava estudando, indiferente, o menu em uma mesa na rua. Bem em frente ao prédio havia um par de casinhas, e uns passos depois havia um prédio de quatro andares com uma fachada cor de canário. Preso na entrada, meio enrolado como se estivesse há muito tempo sob o sol, havia um cartaz explicando em português e inglês que havia um apartamento no prédio disponível para aluguel.
Gabriel arrancou o cartaz e enfiou no bolso. Então, com Lavon a seu lado, passou por Keller sem dar uma palavra ou olhar e desceu a colina até o rio. Na manhã, enquanto tomava café no Brasileira, ele ligou para o número impresso no cartaz. E, ao meio-dia, depois de pagar seis meses de aluguel e um depósito de segurança antecipado, o apartamento era dele.
24
BAIRRO ALTO, LISBOA
GABRIEL SE MUDOU PARA o apartamento logo cedo com o ar de um homem cuja esposa não podia mais tolerar sua companhia. Ele não tinha posses a não ser uma mala bem viajada e manteve a cara fechada que mostrava que não estava ali para socializar. Eli Lavon chegou uma hora mais tarde trazendo duas sacolas de compras — para fazer, era o que parecia, uma refeição de consolo. Keller chegou por último. Entrou no prédio com o silêncio de um ladrão e se estabeleceu na frente de uma janela como se estivesse entrando no esconderijo do País dos Bandidos de Armagh. E assim começou a longa vigília.
O apartamento tinha móveis, mas poucos. A pequena reunião de cadeiras que não combinavam na sala de estar parecia ter sido adquirida em um mercado de móveis usados; os dois quartos eram como celas de monges ascéticos. A falta de camas não atrapalhava, pois um homem sempre estava vigiando na janela. Invariavelmente, era Keller. Ele tinha esperado muito tempo para que Quinn saísse de seu porão e queria a honra de ser o primeiro a colocar os olhos sobre ele. Gabriel pendurou o desenho do rosto de Quinn na parede como um retrato familiar, e Keller o consultava sempre que se aproximava um homem de idade e altura parecida — quarenta e poucos, talvez 1,77 — passando na rua estreita. Cedo, na terceira manhã, ele se convenceu de que viu Quinn indo da direção do café fechado. Era o rosto de Quinn, ele disse a Lavon em um sussurro animado. Mais importante, ele falou, era a forma como Quinn caminhava. Mas não era Quinn; era um homem português que, eles descobriram mais tarde, trabalhava em uma loja a poucas ruas dali. Lavon, um especialista em vigilância física, explicou que era um dos perigos de uma longa vigília. Às vezes, o vigilante vê o que quer ver. E, às vezes, o alvo está parado na frente dele e o vigilante está muito cego pela fadiga ou pela ambição para perceber.
O dono do apartamento acreditava que Gabriel era o único ocupante do lugar, então só ele aparecia em público. Era um homem com o coração machucado, um homem com muito tempo livre. Caminhava pelas ladeiras do Bairro Alto, andava de bonde aparentemente sem destino, visitou o Museu do Chiado, passava as tardes no Brasileira. E em um parque verde nas margens do Tejo, encontrou um mensageiro do Escritório que entregou uma mala cheia de ferramentas de um posto de campo: uma câmera com tripé com uma teleobjetiva com visão noturna, um microfone parabólico, rádios seguros, um transmissor miniatura e um laptop com um link de satélite seguro com o Boulevard Rei Saul. Além disso, havia um bilhete do chefe de Operações gentilmente dando uma bronca por Gabriel ter adquirido uma propriedade segura por meios próprios em vez de usar o departamento de Organização Interna. Havia também uma carta manuscrita de Chiara. Gabriel leu duas vezes antes de queimar na pia do banheiro. Depois disso, seu humor estava tão negro quanto as cinzas que ele jogou ritualmente no cano.
— Minha oferta ainda está de pé — disse Lavon.
— Qual?
— Eu fico aqui com o Keller. Você vai para casa ficar com sua esposa.
A resposta de Gabriel foi a mesma de antes, e Lavon nunca voltou a falar no assunto — mesmo tarde da noite, quando as mesas do canto do restaurante estavam vazias e a chuva batizava a rua silenciosa. Eles diminuíram as luzes do apartamento, assim suas sombras não seriam visíveis de fora, e, no escuro, os anos desapareceriam de seus rostos. Eles poderiam ter sido os mesmos garotos de vinte e poucos anos que o Escritório tinha despachado no outono de 1972 para caçar os realizadores do massacre da Olimpíada de Munique. A operação foi chamada de Ira de Deus. No léxico com base no hebreu da equipe, Lavon tinha sido um ayin, um rastreador. Gabriel era um aleph, um assassino. Durante três anos eles perseguiram suas presas por toda a Europa, matando na escuridão e em plena luz do dia, vivendo com medo de que a, qualquer momento, pudessem ser presos e acusados de assassinato. Tinham passado noites infinitas em quartos apertados vigiando entradas e homens, habitando secretamente a vida dos outros. Estresse e visões de sangue tiraram deles a capacidade de dormir. Um rádio transistor era a única ligação com o mundo real. Contava sobre guerras perdidas e vencidas, sobre um presidente norte-americano que renunciou e, às vezes, nas quentes noites de verão, tocava música para eles — a mesma música que garotos normais de vinte anos estavam ouvindo, garotos que não tinham sido chamados por seu país a servirem como executores, anjos de vingança dos 11 judeus assassinados.
A falta de sono logo era epidêmica no pequeno apartamento no Bairro Alto. Eles tinham planejado fazer turnos rotativos de duas horas no posto ao lado da janela, mas com o passar dos dias, e a insônia mútua dominando, os três agentes veteranos estabeleceram um tipo de vigilância permanente conjunta. Todos que passavam pela janela deles eram fotografados, independentemente de idade, gênero ou nacionalidade. Aqueles que entraram no prédio-alvo recebiam um exame adicional, assim como os moradores. Gradualmente, seus segredos foram descobertos no posto de observação. Essa era a natureza de qualquer observação de longo prazo. Com bastante frequência, os pecados venais dos inocentes eram expostos.
O apartamento tinha uma televisão com uma antena satélite que perdia o sinal sempre que chovia ou mesmo quando o vento mais leve soprava nas ruas. Servia como a ligação deles com o mundo que, a cada dia, parecia ir ficando cada vez mais descontrolado. Era o mundo que Gabriel iria herdar no momento em que fizesse seu juramento como o próximo chefe do Escritório. E seria o mundo de Keller também, se ele quisesse. Keller era a última restauração de Gabriel. Seu verniz sujo tinha sido removido, sua tela tinha sido realinhada e retocada. Ele não era mais o assassino inglês. Logo seria o espião inglês.
Como todos os bons vigilantes, Keller foi abençoado com uma paciência natural. Mas, com sete dias de observação, sua paciência já tinha acabado. Lavon sugeriu uma caminhada pelo rio ou uma viagem até a costa, qualquer coisa para quebrar a monotonia da vigilância, mas Keller se recusou a deixar o apartamento ou abandonar seu posto na janela. Ele fotografava os rostos que passavam na rua — velhos conhecidos, recém-chegados, transeuntes — e esperava por um homem com quarenta e poucos anos, aproximadamente 1,77m de altura, que parasse na entrada do prédio do outro lado da estreita rua. Para Lavon, parecia que Keller estava vigiando a Lower Market Street, em Omagh, esperando que um Vauxhall Cavalier vermelho andando devagar de marcha à ré parasse para estacionar no meio-fio; esperando que dois homens, Quinn e Walsh, descessem. Walsh tinha sido punido por seus pecados. Quinn seria o próximo.
Mas quando se passou outro dia sem sinal dele, Keller sugeriu que fizessem a busca em outro lugar. A América do Sul, ele falou, era o local mais lógico. Eles podiam ir até Caracas e começar a chutar umas portas até encontrarem a do Quinn. Gabriel parecia estar pensando seriamente na questão. Na realidade, ele estava olhando a mulher de uns trinta anos sentada sozinha no restaurante no final da rua. Ela havia colocado a bolsa na cadeira ao lado. Era uma bolsa grande, grande o suficiente para acomodar artigos de higiene, até uma muda de roupa. O zíper estava aberto, e a bolsa estava virada de uma forma que deixava os conteúdos facilmente acessíveis. Uma agente feminina do Escritório teria deixado a bolsa do mesmo jeito, pensou Gabriel, especialmente se houvesse uma arma ali.
— Está me ouvindo? — perguntou Keller.
— Cada palavra — mentiu Gabriel.
A última luz do crepúsculo estava se apagando; a mulher de uns trinta anos ainda estava usando óculos escuros. Gabriel virou a lente para o rosto dela, deu um zoom e tirou uma fotografia. Ele examinou cuidadosamente pelo visor da câmera. Era um rosto bonito, pensou, um rosto que valia uma pintura. As bochechas eram amplas, o queixo era pequeno e delicado, a pele era impecável e branca. Os óculos escuros escondiam seus olhos, mas Gabriel achava que eram azuis. O cabelo era na altura dos ombros e muito escuros. Ele duvidava que a cor fosse natural.
No momento em que Gabriel tirou a fotografia, a mulher estava olhando o menu. Agora estava olhando para a rua. Não era a melhor visão. A maioria dos frequentadores do restaurante olhava para o lado oposto, que tinha uma vista melhor da cidade. Apareceu um garçom. Tarde demais, Gabriel pegou o microfone parabólico e virou para a mesa. Ele ouviu o garçom dizer “Thank you”, em inglês, seguido por uma explosão de música. Era o toque do celular dela. A mulher desligou a chamada com um botão, colocou de novo o telefone na bolsa e tirou um guia de Lisboa. Gabriel novamente olhou pelo visor da câmera e deu um zoom, não no rosto da mulher, mas no guia que ela tinha nas mãos. Era um Frommer’s, em inglês. Ela o abaixou uns segundos e retomou o estudo da rua.
— O que você está olhando? — perguntou Keller.
— Não tenho certeza.
Keller se aproximou da janela e seguiu o olhar de Gabriel.
— Bonita — ele falou.
— Talvez.
— Recém-chegada ou habitué?
— Turista, aparentemente.
— Por que uma jovem turista bonita comeria sozinha?
— Boa pergunta.
O garçom reapareceu com uma taça de vinho branco, que colocou na mesa, ao lado do guia de Lisboa. Ele abriu o bloco de anotações, mas ela disse algo que o fez ir embora sem escrever nada. Ele voltou um momento depois com a conta. Colocou na mesa e foi embora. Não trocaram nenhuma palavra.
— O que acabou de acontecer? — perguntou Keller.
— Parece que a jovem turista bonita mudou de ideia.
— Por que será?
— Talvez tenha algo a ver com a ligação que não atendeu.
A mão da mulher agora estava mexendo na bolsa aberta. Quando reapareceu, havia uma nota em euros. Ela colocou em cima da conta, prendeu com a taça de vinho e se levantou.
— Acho que ela não gostou — disse Gabriel.
— Talvez tenha ficado com dor de cabeça.
A mulher pegou a bolsa, colocou-a no ombro e deu uma olhada final para a rua. Então se virou para a direção oposta, dobrou a esquina e desapareceu.
— Que pena — disse Keller.
— Vamos ver — disse Gabriel.
Ele estava olhando o garçom pegar o dinheiro. Mas, em seus pensamentos, estava calculando quanto tempo levaria para vê-la de novo. Dois minutos, calculou; era quanto tempo demoraria para voltar ao destino por uma rua paralela. Ele marcou o tempo no relógio e quando se passaram noventa segundos, olhou de novo pelo visor e começou a contar lentamente. Quando chegou a vinte, ele a viu surgir meio iluminada, a bolsa sobre o ombro, os óculos de sol sobre os olhos. Parou na entrada do prédio-alvo, enfiou uma chave na fechadura e abriu a porta. Quando entrou no hall, outro morador, um homem de vinte e poucos anos, estava saindo. Ele olhou por cima do ombro para ela; se era por admiração ou curiosidade, Gabriel não sabia dizer. Ele tirou uma foto do morador, depois olhou para as janelas escuras do segundo andar. Dez segundos depois, havia luz por trás das persianas.













