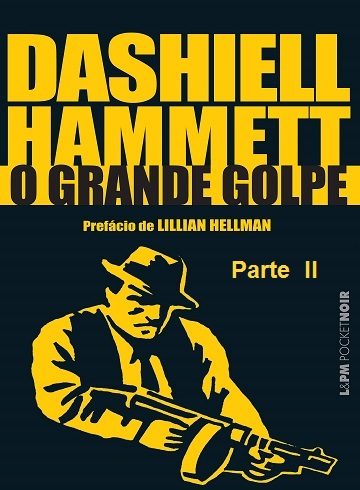Biblio VT




Durante anos, brincamos sobre o dia em que eu escreveria sobre ele. Nos primeiros anos, eu dizia:
– Conte mais sobre a menina de São Francisco. Aquela bobinha que morava do outro lado do corredor e era bobinha.
Então ele ria e dizia:
– Ela morava do outro lado do corredor e era bobinha.
– Conte mais do que isso. O quanto você gostava dela e...?
Ele bocejava.
– Termine a sua bebida e vá dormir.
Só que, dias depois, talvez até na mesma noite, se eu estivesse com o espírito curioso, e na maior parte das vezes eu estava, eu dizia:
– Está bem, seja teimoso em relação às meninas. Então conte sobre a sua avó e sobre como você foi um bebê gordo.
– Eu fui um bebê muito gordo. A minha avó ia ao cinema todas as tardes. Ela gostava muito de um astro chamado Wallace Reid, e eu já lhe contei tudo isso antes.
Eu dizia que queria saber tudo direitinho para depois da morte dele, quando eu escreveria a sua biografia, e ele dizia que eu não devia me preocupar em escrever a biografia dele, porque acabaria sendo a história de Lillian Hellman com uma ou outra referência a um amigo chamado Hammett.
A morte dele chegou há quase cinco anos, em 10 de janeiro de 1961. Jamais escreverei aquela biografia, porque não posso escrever sobre o meu amigo mais próximo e mais amado. E talvez também porque todas aquelas perguntas feitas nos 31 anos de idas e vindas, e às vezes as respostas, tenham se confundido, e a vida tenha mudado para nós dois, e as perguntas e respostas se tornando uma coisa só, fluindo juntas desde quando eu era jovem até chegar à meia-idade. Portanto, isto não será uma tentativa de biografia de Samuel Dashiell Hammett, nascido no Condado de St. Mary, em Maryland, em 27 de maio de 1894. Também não será uma análise crítica dos contos deste livro. Houve uma época em que eu achava todos eles muito bons. Mas nem todos eles são bons, embora a maioria seja, acho eu, muito bons. Devo dizer imediatamente que, ao publicar todos eles, fiz o que Hammett não quis fazer: ele recusou ofertas de republicar os contos, embora eu nunca tenha sabido o motivo nem perguntado por quê. Mas sabia, pelo que ele havia dito a respeito de “Tulip”, o romance inacabado incluído neste livro, que pretendia começar uma nova vida literária e talvez não quisesse que seus velhos trabalhos atrapalhassem. Mas às vezes acho que ele estava simplesmente doente demais para se importar com isso, cansado demais para ouvir planos ou ler contratos. O fato de respirar, só respirar, ocupava todos os seus dias e noites.
Na Primeira Guerra Mundial, no campo de batalha, a gripe o levou à tuberculose, e Hammett teve de passar anos em hospitais militares. Saiu da Segunda Guerra Mundial com enfisema, mas como foi que ele chegou a entrar na Segunda Guerra Mundial, aos 48 anos de idade, é algo que ainda me desconcerta. Ele me ligou no dia em que o exército o aceitou para dizer que era o dia mais feliz de sua vida, e, antes que eu pudesse dizer que não era o dia mais feliz da minha vida e perguntar sobre as velhas cicatrizes de seu pulmão, ele riu e desligou. Sua morte foi causada por um câncer de pulmão descoberto apenas dois meses antes de ele morrer. Como não era possível operar – duvido que ele tivesse concordado em fazer a cirurgia mesmo que fosse – resolvi não lhe contar sobre o câncer. O médico disse que quando começasse a dor, seria no braço direito e no lado direito do peito, mas disse também que ela podia nem começar. O médico estava errado: bastaram algumas horas para que a dor começasse. Hammett havia autodiagnosticado reumatismo no braço direito e sempre dizia que por causa dele havia desistido das caçadas. No dia em que fiquei sabendo do câncer, ele disse que o seu ombro da arma estava doendo de novo e pediu que eu lhe fizesse uma massagem. Lembro de me sentar atrás dele e massageá-lo torcendo para que ele sempre pensasse que era reumatismo e lembrasse das caçadas de outono. Mas a dor nunca mais voltou ou, se voltou, ele nunca mais disse nada. Ou talvez a morte estivesse tão próxima que a dor no ombro se fundiu com outras dores.
Ele não queria morrer, e gosto de pensar que ele não sabia que estava morrendo. Mas até hoje afasto de mim mesma o possível significado de uma noite, muito tarde, pouco antes de sua morte. Entrei no quarto dele e, pela única vez em todos os anos em que convivemos, havia lágrimas em seus olhos, e o livro estava fechado. Sentei-me ao seu lado e esperei um bom tempo antes de conseguir dizer:
– Você quer conversar?
Ele respondeu quase com raiva:
– Não. A minha única chance é não falar.
E ele nunca falou. Sua paciência, sua coragem e a sua dignidade naqueles meses de sofrimento foram muito grandes. Foi como se tudo o que faz a vida de um homem tivesse se reunido para passar no teste: sofrer era uma questão particular, que não devia ser invadida. Era raro até mesmo que ele pedisse alguma coisa de que precisava, de modo que quase tudo o que fazíamos – a minha secretária e a minha cozinheira, que eram muito dedicadas a ele, como a maioria das mulheres sempre foi – era lhe levarmos as refeições em que ele mal tocava, os livros que agora mal conseguia ler, o café da tarde e o Martini no qual eu insistia antes do jantar que não era comido. Numa noite daquele último ano, uma noite ruim, eu disse:
– Tome mais um Martini. Você vai se sentir melhor.
– Não – disse ele. – Não quero.
– Está bem, mas aposto que você nunca pensou que eu o encorajaria a tomar mais uma bebida.
Ele riu pela primeira vez naquele dia.
– Não. E eu nunca pensei que não aceitaria.
Porque na noite em que nos conhecemos ele estava se recuperando de uma bebedeira de cinco dias e continuaria bebendo muito nos dezoito anos seguintes. Então um dia, alertado por um médico, ele disse que nunca mais beberia e manteve a promessa, exceto pelo Martini diário do último ano, que foi idéia minha.
Nós nos conhecemos quando eu tinha 24 anos de idade e ele 36, num restaurante em Hollywood. A bebedeira de cinco dias tinha deixado o rosto magnífico todo amassado e a silhueta alta e magra cansada e decaída. Conversamos sobre T. S. Eliot, embora eu não lembre mais o que dissemos, e então nos sentamos em seu carro e ficamos conversando um com o outro e um sobre o outro até o sol nascer. Voltaríamos a nos encontrar novamente algumas semanas depois e, depois disso, estivemos juntos e separados várias vezes pelo resto da vida dele e trinta anos da minha.
Trinta anos é muito tempo, acho, e ainda assim, quando começo a escrever sobre eles, as lembranças saltam desordenadamente, sem formar um padrão, e eu sei que apenas algumas delas são confiáveis. Sei daquele primeiro encontro e do seguinte, e há muitas outras imagens e outros sons, mas eles estão fora de ordem e de ordem cronológica, e parece que eu não quero botá-los no lugar. (Eu podia ter feito uma pesquisa, como fiz com outras pessoas, mas não queria fazer uma pesquisa sobre Hammett nem ser uma contadora da minha própria vida.) Não quero modéstia para nenhum de nós, mas me pergunto agora se pode significar alguma coisa para alguém além de mim o fato de que a minha segunda lembrança mais clara é de um dia em que estávamos morando numa pequena ilha na costa de Connecticut. Foi seis anos depois de nos conhecermos, seis anos felizes e infelizes durante os quais eu havia escrito, com a ajuda de Hammett, a minha primeira peça. Eu estava voltando para a ilha num pequeno veleiro de um mastro, cheio de mantimentos, e Hammett havia ido até o cais para me pegar. Ele estava doente naquele verão – a primeira das doenças – e estava ainda mais magro do que o normal. Os cabelos brancos, as calças brancas e a camisa branca formavam uma superfície reta e achatada contra o sol do entardecer. Pensei que aquela talvez fosse a coisa mais bonita que eu já tinha visto, aquela linha de um homem, o nariz como uma faca, e a vela escapou da minha mão, ficando solta ao vento. Hammett ficou rindo enquanto eu tentava recuperá-la. Não sei por quê, mas gritei, furiosa:
– Então você é um santo-pecador de Dostoiévski. É sim.
A risada parou, e quando eu finalmente cheguei ao cais, nós não conversamos enquanto carregamos os pacotes nem durante o jantar. Mais tarde naquela noite ele perguntou:
– Por que você disse aquilo? O que aquilo quer dizer?
Respondi que não sabia por que tinha dito aquilo e nem sabia o que queria dizer.
Anos depois, quando a vida dele havia mudado, eu soube o que quis dizer naquele dia: eu havia visto o pecador – o que quer que seja um pecador – e senti a mudança antes que ela viesse. Quando lhe falei isso, Hammett disse que não sabia do que eu estava falando, que era religioso demais para ele. Mas ele sabia do que eu estava falando, e ficou satisfeito.
Mas os anos gordos, livres e selvagens já haviam terminado quando tivemos essa conversa. Quando conheci Dash, ele havia escrito quatro de seus cinco romances e era o escritor mais quente em Hollywood e Nova York. Não é extraordinário ser o mais quente em nenhuma das duas cidades – o novato mais quente muda a cada estação –, mas, no caso dele, era um interesse extra para os colecionadores de gente o fato de que o ex-detetive, que tinha cicatrizes nas pernas e uma reentrância na cabeça por brigar com bandidos, era um homem de boas maneiras, bem-educado, com visual elegante, descendente dos primeiros colonizadores, excêntrico, espirituoso e gastava tanto dinheiro com as mulheres que elas teriam gostado dele mesmo sem nenhuma dessas qualidades. Mas, com o passar dos anos, de 1930 a 1948, ele escreveu apenas um romance e alguns contos. Em 1945, a bebida não tinha mais o caráter alegre, as bebedeiras estavam mais prolongadas, e os humores, mais sombrios. Eu estive presente, com idas e vindas, na maior parte desses anos, mas, em 1948, eu não queria mais ver a bebedeira. Estava sem me encontrar ou falar com Hammett havia dois meses quando sua dedicada faxineira me ligou para dizer que era melhor eu ir até o seu apartamento. Eu disse que não iria, mas fui. Nós duas vestimos um homem que mal conseguia erguer um braço ou uma perna e o levamos até a minha casa. Naquela noite, assisti ao delirium tremens, embora não soubesse do que se tratava até o médico me explicar no dia seguinte, no hospital. O médico era um velho amigo. Ele disse:
– Vou dizer ao Hammett que se ele continuar bebendo, vai morrer em poucos meses. Tenho o dever de dizer isso, mas não vai adiantar nada.
Poucos minutos depois, ele saiu do quarto dele e disse:
– Falei com ele. Disse que tudo bem, que ficará sem beber para sempre, mas ele não vai conseguir.
Só que conseguiu. Cinco ou seis anos depois, contei a Hammett que o médico havia dito que ele não conseguiria ficar sem beber. Dash ficou intrigado:
– Mas eu prometi naquele dia.
– Você sempre cumpriu as suas promessas? – perguntei.
– Na maioria das vezes – respondeu ele. – Talvez porque raramente tenha feito promessas.
Ele havia elaborado seu código de honra no começo da vida e seguiu fiel às suas regras, preservando-as ferozmente. Em 1951, foi para a cadeia porque ele e outros dois consignatários do fundo de finanças do Congresso dos Direitos Civis se recusaram a revelar os nomes dos contribuintes do fundo. A verdade era que Hammett nunca havia pisado no escritório do comitê e não sabia o nome de um único contribuinte. Na noite anterior ao dia em que ele deveria se apresentar à Justiça, perguntei:
– Por que você não diz que não sabe os nomes?
– Não – respondeu ele. – Eu não posso dizer isso.
– Por quê?
– Não sei por quê.
Depois de um silêncio nervoso, ele disse:
– Acho que tem alguma coisa a ver com manter a minha palavra, mas não quero falar sobre isso. Nada demais vai acontecer, embora eu ache que fiquemos presos por um tempo, mas você não precisa se preocupar, porque... – então, de repente, eu não consegui mais compreender o que ele dizia, porque o tom de sua voz tinha ficado mais baixo, e as palavras começaram a sair num ataque nervoso incomum. Quando disse que não conseguia ouvi-lo, ele aumentou o tom de voz e baixou a cabeça.
– Eu detesto este tipo de conversa maldita, mas talvez seja melhor lhe dizer que se fosse mais do que algum tempo na prisão, se fosse a minha vida, eu a daria pelo que acredito ser a democracia, e não permito que policiais ou juízes me digam o que eu acho que é a democracia.
Então ele foi para casa dormir e, no dia seguinte, foi para a cadeia.
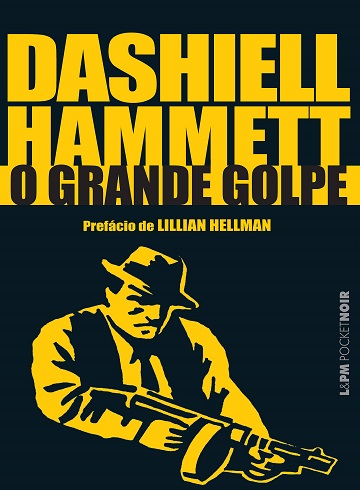
14 de julho de 1965
Era um lindo dia de verão. Quatorze anos antes, em outro dia lindo de verão, o advogado que Hammett disse que não precisava nem queria, mas com quem acabou concordando em conversar porque poderia fazer com que eu me sentisse melhor, voltou da cadeia de West Street com um recado de Hammett que o advogado havia escrito na parte de trás de um envelope usado.
– Mande a Lily embora. Diga que eu não preciso nem quero provas de que ela me ama.
Então fui para a Europa e escrevi cartas quase todos os dias, sem saber que só uma em cada dez cartas chegava até ele e sem jamais receber uma única carta dele, que não tinha permissão de escrever a ninguém que não fosse parente. (A essa altura, Hammett havia sido transferido para uma penitenciária federal em West Virginia.) Recebi apenas um recado naquele verão: o de que o seu trabalho na prisão era limpar banheiros, e que ele fazia isso muito melhor do que eu jamais havia conseguido fazer.
Voltei a Nova York para me encontrar com Hammett na noite em que ele saiu da cadeia. A prisão tinha feito dele um homem magro mais magro, um homem doente mais doente. Aquele vulto inválido tentou caminhar com altivez, mas segurava-se firme no corrimão da rampa do avião e, antes de me ver, tropeçou e parou para descansar. Acho que foi a primeira vez em que me dei conta de que ele estaria sempre doente. Como me senti muito mal para cumprimentá-lo, corri de volta para o aeroporto e nos perdemos um do outro durante alguns minutos. Mas depois de uma semana, depois de ele dormir e conseguir comer pequenas porções de comida, teve início uma farsa irritante que duraria o resto de sua vida: a de que a cadeia não era nada má. Verdade que a comida era horrível e às vezes até mesmo estava estragada, mas sempre dava para tomar leite. Os contrabandistas e os ladrões de carro eram uns imbecis, mas suas conversas não eram mais idiotas do que as de um coquetel nova-iorquino. Ninguém gostava de limpar os banheiros, mas, com o tempo, começava-se a ter um certo orgulho do trabalho e a desenvolver algum interesse nos diferentes materiais de limpeza. Os homossexuais da cadeia tinham um péssimo gênio, mas não eram piores do que os encontrados em qualquer bar. E assim por diante. O jeito de Hammett se jactar – e de fazer humor também – era sempre zombar dos problemas ou do sofrimento. Um dia, nos encontramos com Howard Fast na rua, e ele nos contou sobre a sentença de prisão que teria de cumprir. Quando nos afastamos, Hammett disse:
– Será mais fácil se você primeiro tirar a coroa de espinhos, Howard.
Eu deveria ter percebido que Hammett falaria do tempo que passou na cadeia como a maioria de nós fala da época de faculdade.
Não tenho a intenção de evitar falar das crenças políticas de Hammett, mas a verdade é que não sei se ele foi membro do Partido Comunista nem nunca lhe perguntei isso. Se isso parece uma estranha evasiva entre duas pessoas, não quisemos que fosse. Foi provavelmente um subproduto da época na qual vivíamos e um certo acordo tácito em relação à privacidade. Agora, em retrospecto, acho que tínhamos algumas regras estranhas em relação à privacidade, diferentes das regras dos outros. Por exemplo, nunca perguntávamos um ao outro sobre dinheiro, sobre quanto custava alguma coisa ou quanto algum trabalho havia rendido, embora ambos tenhamos dado ao outro, com o passar dos anos, tudo de que precisamos. Para mim não tem muita importância o fato de eu não saber se Hammett era membro do Partido Comunista: é quase certo que era marxista. Mas era um marxista muito crítico, freqüentemente desdenhoso da União Soviética do mesmo modo caipira com que muitos americanos desdenham de estrangeiros. Costumava ser irônico e absolutamente mordaz a respeito do Partido Comunista Americano, mas, no fim, era leal a ele. Uma vez, numa discussão comigo, ele disse que era claro que muitas coisas do comunismo lhe preocupavam e sempre o haviam preocupado e que, quando encontrasse algo melhor, pretendia mudar de opinião. Então ele disse:
– Por favor, não vamos nunca mais discutir sobre isso de novo, porque estamos nos magoando.
Então nunca mais discutimos sobre isso, e suponho que até isso tenha nos magoado um pouco ou deixado um fosso grande demais para ser transposto, mas foi melhor do que as discussões que vínhamos tendo – e que haviam começado nos anos 40, quando ele compreendeu que eu não podia segui-lo. Acho que isso deve tê-lo magoado, mas ele nunca disse nada. Também me magoava, mas eu sabia que, ao contrário de muitos radicais, as suas crenças e aonde ele havia chegado estavam relacionados a leituras e a reflexões. Dedicou tempo a descobrir o que pensava e tinha a mente aberta e era de natureza tolerante.
Hammett era de uma geração de escritores talentosos. Os que conheci tinham uma visão romântica do fato de serem escritores, era bom ser escritor, talvez a melhor coisa do mundo, e fazia-se sacrifícios por isso. Acho que eles queriam tanto dinheiro e elogios quanto os escritores de hoje, mas não acho que a necessidade doentia era tão grande, nem o veneno, tão forte. Claro que todos queriam dinheiro, mas não se competia com comerciantes ou banqueiros. E quem esbanjava talento não o atirava gratuitamente para o Sistema. Quando conheci Dash, ele estava se desperdiçando em festas de Hollywood e bares de Nova York: o desperdício provavelmente não era menos danoso, mas um pouco mais perdoável, porque os que estavam lá para apanhar o que era atirado podiam ter saído de O dia do gafanhoto. Mas ele sabia o que estava lhe acontecendo e, depois de 1948, não voltaria a acontecer. Seria bom poder dizer que com a mudança de vida a sua produtividade aumentou, mas não foi o que ocorreu. Talvez o vigor e a força tivessem se dissipado. Mas, por melhor que seja, a produtividade não é a única prova de uma vida séria, então, mais do que nunca, ele se dedicou a ler. Ele lia tudo e qualquer coisa. Não gostava muito de escritores, não gostava nem desgostava da maioria das pessoas, mas não invejava bons escritores e sentia ternura em relação a todos eles, provavelmente porque lembrava de suas próprias dificuldades iniciais.
Não sei quando Hammett decidiu começar a escrever, mas sei que começou a escrever depois que deixou os hospitais militares, na década de 20, estabelecendo-se com a mulher e a filha – haveria ainda outra filha – em São Francisco. (Voltou a trabalhar para a Agência Pinkerton por um tempo, embora eu não tenha certeza se foi nessa época ou depois.) Uma vez, quando lhe perguntei por que ele nunca quis ir à Europa, por que nunca quis conhecer outros países, ele respondeu que tinha querido ir para a Austrália, talvez para ficar, mas no dia em que decidiu deixar a Pinkerton para sempre, decidiu desistir da idéia da Austrália para sempre. Um navio australiano que havia deixado Sydney rumo a São Francisco transportando duzentos mil dólares em ouro avisou sua seguradora de São Francisco que o ouro havia desaparecido. A companhia de seguros era cliente da Pinkerton, de modo que Hammett e outro detetive esperaram o navio aportar, revistaram todos os marinheiros e oficiais, fizeram uma busca, mas não conseguiram encontrar o ouro. Como sabiam que o ouro tinha de estar dentro do navio, a agência resolveu que quando o navio zarpasse de volta para a Austrália, Hammett deveria estar a bordo. Muito feliz, a caminho de um país que sempre havia sonhado conhecer, ele fez as malas. Poucas horas antes do embarque, o chefe da agência sugeriu que fosse feita uma última e desesperada busca. Hammett escalou uma chaminé que havia examinado várias vezes antes, olhou para baixo e gritou:
– Tiraram do lugar. O ouro está aqui.
Ele contava que assim que as palavras saíram da sua boca, pensou consigo mesmo: “Você não tem bom senso suficiente para ser detetive. Por que não deixou para descobrir o ouro depois de um dia no mar?” Pegou o ouro, que levou até o escritório da Pinkerton, e pediu demissão naquela tarde.
Após o pedido de demissão, teve uma série de empregos, mas não lembro quais ele disse que eram. Em pouco mais de um ano, a tuberculose voltou e começaram as hemorragias. Como estava decidido a não voltar para os hospitais militares e acreditava ter um tempo limitado de vida, resolveu dedicá-lo a alguma coisa que quisesse fazer. Saiu da casa da mulher e das filhas, passou a se alimentar apenas de sopa e começou a escrever. Um dia, as hemorragias pararam para nunca mais voltarem, e em algum ponto desse período ele começou a ganhar algum dinheiro escrevendo para revistas baratas, sátiras e até mesmo poemas vendidos à Smart Set de Mencken. Não sei muito sobre esse período da vida de Hammett, mas sempre me pareceu muito bom, livre e boêmio, típico dos anos 20: a menina da Pine Street, a outra da Grant Street e a excelente comida de São Francisco em restaurantes baratos, vinho tinto italiano e fama no ramo das revistas de segunda, eram então, e talvez ainda hoje, um mundo todo dele.
18 de julho de 1965
Estas minhas lembranças de Hammett estão sendo escritas no verão. Talvez por isso a maioria das coisas de que me lembro a respeito dele tenha a ver com o verão, embora, como todo mundo que mora no interior, nós ficássemos mais próximos durante o inverno. O inverno era a época em que eu trabalhava, e trabalhava melhor com Hammett por perto. Lá estava ele, está, quando fecho os olhos e vejo outra casa, lendo The Autumn Garden. Eu o observava, nervosa, evidentemente. Ele sempre foi muito crítico, e eu costumava gostar e querer isso, mas, naquele momento, estava sentindo algo novo, e estava preocupada. Terminou de ler a peça, atravessou a sala, pôs o manuscrito no meu colo, voltou para a sua poltrona e começou a falar. Não foram as críticas de sempre: ele foi duro, raivoso e rabugento. Falava como se eu o tivesse traído. Fiquei tão chocada, tão magoada, que não conseguiria lembrar da cena se não fosse pelo fato de eu manter um diário para cada peça. Naquele dia, ele disse:
– Você começou como uma escritora séria. Era disso que eu gostava, era para isso que eu trabalhava. Não sei o que aconteceu, mas rasgue isso e jogue fora. É pior do que ruim... é meio bom.
Ele ficou sentado olhando para mim, e eu saí correndo da casa, fui para Nova York e só voltei depois de uma semana. Quando voltei, havia rasgado a peça, posto os pedaços numa maleta e deixado a maleta do lado de fora da porta dele. Só voltamos a falar sobre a peça sete meses mais tarde, depois que eu a reescrevi. Dessa vez, não fiquei nervosa enquanto ele a lia. Estava cansada demais para me importar e caí no sono no sofá. Acordei porque Hammett estava sentado ao meu lado, acariciando o meu cabelo, sorrindo para mim e assentindo com a cabeça. Depois de ele fazer isso por muito tempo, perguntei:
– Qual é o problema com você?
E ele respondeu:
– Coisas boas. Porque fazia muito tempo que alguém não escrevia uma peça tão boa. Talvez mais tempo. Hoje é um bom dia. Um bom dia.
Fiquei tão chocada com o tipo de elogio que nunca havia recebido que saí para dar uma caminhada. Ele disse:
– Não. Volte para dentro. Tem uma fala no último ato que ficou ruim. Reescreva.
Eu disse que não ia reescrever. Ele disse que tudo bem, que ele reescreveria. E reescreveu. Trabalhou a noite inteira.
Durante os ensaios de The Autumn Garden, Dash aparecia quase todos os dias, ainda mais preocupado do que eu de que alguma coisa estivesse acontecendo com a peça, de que a vida estivesse saindo dela, o que pode acontecer e realmente acontece no palco. Um processo que não pode ser interrompido depois de ter se iniciado.
Ontem, li três cartas que ele escreveu a um amigo sobre suas esperanças em relação à peça, aos ensaios e à estréia. Sua preocupação por mim e pela peça era muito grande, mas, com o tempo, aprendi que ele era bom com todos os escritores que procuravam a sua ajuda e que talvez essa generosidade tivesse menos a ver com o escritor do que com a escrita e as dores de escrever. Claro que eu sabia da generosidade havia muito tempo, mas generosidade e prodigalidade podem se misturar, e eu levei muito tempo para diferenciá-las.
Alguns anos depois que eu conheci Dash, o grosso do dinheiro de Hollywood não existia mais, tinha sido dado a outros, gasto comigo, que não queria, e com outros, que queriam. Acho que Hammett foi a única pessoa que eu conheci na vida que não se importava com dinheiro, não reclamava e não se arrependia depois que ele acabava. Talvez o dinheiro seja irreal para a maioria de nós, mais fácil de se desfazer do que aquilo que queremos. (Mas eu não sabia disso na época, talvez confundisse com prodigalidade ou exibicionismo.) Um dia, anos mais tarde, Hammett comprou um caro conjunto de arco e flecha numa época em que isso significava abrir mão de outras coisas. Tinha acabado de chegar, e ele estava experimentando, brincando com o objeto e gostando muito quando chegaram uns amigos com o filho de dez anos. Dash e o menino passaram a tarde com o arco e flecha, e a criança estava com uma cara horrível quando teve que deixá-lo para trás. Hammett abriu a porta traseira do carro, pôs o arco e flecha no banco e voltou correndo para casa, ignorando todos os gritos de “Não, não”. Depois que eles foram embora, perguntei:
– Você precisava fazer aquilo? Você queria tanto aquele arco e flecha.
– O garoto queria mais – disse Hammett. – As coisas pertencem a quem as quer mais.
E assim certamente era com dinheiro, e assim vieram os problemas. De repente, havia dias sem jantar, aluguel vencido, e assim por diante; mas ali estavam os anos difíceis, não piores do que os que muitas outras pessoas haviam vivido, mas o contraste de nenhum jantar na segunda e um banquete regado a vinho na terça me provocava uma irritação que ele nunca conseguiu compreender.
Quando estávamos muito sem dinheiro, nos primeiros anos em Nova York, Hammett recebeu um modesto adiantamento da Knopf e começou a escrever The Thin Man.2 Ele se mudou para o que chamava, brincando, de Suíte Diplomática, num hotel administrado por nosso amigo Nathanael West. Era um hotel novo, mas Pep West e a depressão haviam conseguido arruiná-lo imediatamente. Certamente a suíte de Hammett nunca havia visto um diplomata, porque nem mesmo o menor dos orientais poderia ter se movimentado bem naquele espaço. Mas o aluguel era barato, dava para pendurar o pagamento da comida horrenda e parte do meu tempo livre eu podia passar com Pep, especulando a vida dos outros hóspedes estranhos. Conheci Dash quando ele estava escrevendo contos, mas nunca tinha estado por perto enquanto ele escrevia algo mais longo. A vida mudou: as bebedeiras pararam, e as festas terminaram. O período de se trancafiar havia chegado, e nada podia perturbá-lo até o livro estar terminado. Nunca tinha visto ninguém trabalhar daquela forma: o cuidado com cada palavra, o orgulho da limpeza da página datilografada, a recusa durante dez ou quinze dias de sair até mesmo para uma caminhada, por medo de algo se perder. Foi um bom ano para mim. Aprendi com ele. Talvez tenha ficado com um pouco de medo de um homem que agora não precisava de mim. De modo que foi um bom dia quando recebi metade do manuscrito para ler e ouvi que eu era Nora. Foi bom ser Nora, casada com Nick Charles, talvez um dos poucos casamentos da literatura moderna em que o homem e a mulher gostam um do outro e se divertem juntos. Mas ele logo me pôs novamente no meu lugar – Hammett disse que eu também era a garota tola e a vilã do livro. Hoje, não sei se ele estava brincando, mas, naqueles dias, isso me deixou preocupada. Estava sempre muito ansiosa para que ele me tivesse em alta conta. A maioria das pessoas queria isso dele. Anos mais tarde, Richard Wilbur disse que quando alguém se aproximava de Hammett para cumprimentá-lo pela primeira vez, tinha o desejo de ser aprovado. Não sei o que provoca essa qualidade em certos homens – algo flutuando ao redor que não tem muito a ver com o que fizeram –, mas talvez tenha a ver com uma reserva tão profunda que todos sabem que não podem chegar até ele com charme, piadas ou favores. Resulta em algo além da dignidade e transparece no rosto. Na cadeia, os guardas chamavam Hammett de “senhor”. Fora da cadeia, as pessoas chegavam perto disso. Uma noite, nos últimos anos de sua vida, entramos num restaurante e passamos por um grupo de jovens escritores que eu conhecia, mas ele não. Paramos, e eu o apresentei: de repente, aqueles jovens modernos viraram estudantes bem-educados e respeitosos, e suas expressões faciais voltaram aos dez anos de idade. Foram necessários anos de provocação para arrancar de Hammett que ele sabia o efeito que exercia sobre muitas pessoas. Então ele me contou que, quando tinha quatorze anos de idade, em seu primeiro emprego na Ferrovia Baltimore e Ohio, chegou atrasado todos os dias durante uma semana. O patrão disse que ele estava despedido. Hammett contou que assentiu com a cabeça, rumou em direção à porta e foi chamado de volta por um homem intrigado, que disse:
– Se você prometer que não vai acontecer mais, pode ficar com o emprego.
Hammett respondeu:
– Obrigado, mas não posso fazer isso.
Depois de um tempo em silêncio, o homem disse:
– Tudo bem, mas fique com o emprego mesmo assim.
Dash disse que não sabia o que tinha feito de certo, mas sabia que sempre lhe seria útil.
Quando The Thin Man foi vendido para uma revista – a maioria das revistas importantes o havia rejeitado por ser muito ousado, embora o que quisessem dizer com “ousado” fosse que era difícil de entender –, saímos rapidamente de Nova York. Ficamos algumas semanas bêbados em Miami e depois seguimos para um primitivo acampamento de pesca em Keys, onde passamos a primavera e o verão, pescando todos os dias, lendo todas as noites. Foi um bom ano: descobrimos que nos dávamos melhor sem pessoas por perto e no interior. Hammett, como muitos sulistas, gostava muito de locais isolados, onde houvesse animais, pássaros, insetos e ruídos naturais. Ele se sentia à vontade no meio do mato e atirava muito bem. Mais tarde, quando comprei um sítio, ele passava os dias de outono no meio do mato, voltando com pássaros ou coelhos. Depois, com o fim da temporada de caça, passava muitos dias de inverno sentado num banquinho no meio do mato, observando esquilos, castores e veados, ou pescando no lago gelado. (Como a maioria dos amantes da vida ao ar livre, era obsessivamente organizado com seus instrumentos e obsessivamente bagunceiro com os ambientes de uma casa.) Os interesses do dia passavam para as noites, quando ele lia A visão e a linguagem das abelhas e Armeiros alemães do século XVIII ou alguma coisa sobre como fazer nós ou sobre pássaros terrestres, para depois trocar um livro desses por outro sobre qualquer outra coisa que tivesse resolvido aprender. Agora eu não conseguiria me lembrar de tudo o que ele quis aprender, mas lembro de um longo ano de estudo sobre a retina do olho; como jogar xadrez mentalmente; das sagas islandesas; da história da tartaruga mordedora; de Hegel; se um aparelho de audição – ele comprou um muito bom – ajudaria a detectar sons de pássaros; e então de Hegel, é claro, diretamente para Marx e Engels; à vida marinha do Atlântico; e, finalmente, e para o resto da vida: matemática. Ele era mais interessado em matemática do que em qualquer outro assunto, com exceção de beisebol. Enquanto assistia à televisão ou ouvia o rádio, ele resmungava sobre os jogos e jogadores para mim, que não sabia diferenciar a bola do taco. Eu costumava pedir que parasse, e ele sacudia a cabeça e dizia:
– Tudo o que sempre quis foi uma mulher dócil. Olha o que arranjei.
Então conversávamos sobre a docilidade, sobre como era pouco para um homem querer, e ele alegava que só um homem vaidoso ou neurótico precisava de “tipos” de mulheres – todos os outros homens ficavam com o que conseguiam pegar.
As leituras aleatórias, a escolha de qualquer tipo de livro, favoreciam uma mente notável, organizada, precisa, respeitadora dos fatos. Adquiriu uma forte e duradoura antipatia em relação a um homem que insistiu que as cavalas tinham relação com os arenques. Uma vez, ele saiu da minha sala quando um famoso escritor falou sem muito conhecimento sobre existencialismo, recusando-se a descer para jantar com o escritor porque, disse:
– Ele é a maior perda de tempo desde o surgimento do jogo de ludo. Mentirosos são chatos.
Uma vez um vizinho ligou para perguntar como consertar um vazamento numa piscina, e ele sabia. O filho do meu caseiro perguntou como fazer uma armadilha para tartarugas mordedoras, e ele sabia. Nascido católico em Maryland (mas afastado da Igreja havia muito tempo), ele sabia mais sobre judaísmo do que eu e mais sobre música, gastronomia e arquitetura de Nova Orleans do que o meu pai, que havia se criado lá. Uma vez eu estava indo consultar a enciclopédia para saber mais sobre a antiga fabricação de vidros para janelas, mas Hammett me falou a respeito antes que eu chegasse lá. Ele conhecia as variedades de algas marinhas e, durante um mês, estudou a polinização cruzada do milho e durante muitos, muitos meses, concentrou-se na física do plasma. Era mais do que leitura. Era trabalho. Qualquer livro servia, ou quase qualquer um – ficava absolutamente impaciente quando eu lia correspondências de famosos ou críticas e referia-se a eles como meus livros “de carregar”, bons apenas para dar equilíbrio ao subir a escada para o quarto. Sempre achei estranho que ele gostasse tanto de livros e tivesse tão pouco interesse pelos homens que os escreviam. (Claro que havia exceções: ele gostava de Faulkner, e passamos belas noites bebendo juntos durante as visitas de Faulkner a Nova York nos anos 30.) Talvez seja mais preciso dizer que se divertia com escritores quando eles falavam sobre livros e os deixava quando não falavam. Era profundamente tocado pela pintura – ele próprio tentou pintar até o verão em que não conseguia mais ficar de pé diante de um cavalete, e a última caminhada que fizemos juntos foi até a quadra do Museu Metropolitan – e pela música. Mas não lembro de ele gostar de um pintor ou um músico, embora me lembre de dizer que considerava a maioria pavões. Nunca deixou de ser gentil com pessoas comuns, mas costumava ser muito impaciente com gente famosa.
Claro que há muitos homens que ficam felizes no exército, mas eu nunca havia conhecido nenhum, nem queria conhecer. Fiquei, portanto, chocada, em 1942, quando descobri que Hammett era um deles. Não sei por que um homem excêntrico, que vivia de acordo com seus próprios padrões mais do que a maioria dos americanos, achava as restrições, a disciplina e o trabalho árduo de um cidadão alistado no exército tão agradável e divertido. Talvez uma vida comandada por outros resolvesse alguns dos problemas, desse espaço a um homem que, sozinho, não conseguia procurar as pessoas. Talvez lhe desse uma espécie de orgulho o fato de que um homem de 48 anos pudesse ficar lado a lado com aqueles rapazes que tinham a metade da sua idade. Talvez tudo isso, e talvez simplesmente ele gostasse de seu país e achasse que a guerra devesse ser travada. Quaisquer que fossem as razões de Hammett, as desgraças das Ilhas Aleutas não haviam sido desgraças para ele. Tenho muitas cartas descrevendo as belezas do lugar e durante anos ele falou em voltar para vê-las novamente. Lá, ele dirigiu um programa de treinamento por um tempo e editou um belo jornal militar. O texto era limpo, as notícias, precisas, e as piadas, engraçadas. Ele se tornou uma espécie de lenda do exército na região Alasca-Aleutas. Conversei com muitos homens que serviram com ele, e tenho uma carta de um deles:
Eu era um garoto. Todos éramos. O lugar era horrível, mas lá estava Hammett. Quando cheguei lá, ele era chamado de Papai por alguns e Vovô por outros. Era o editor do jornal e tinha muito mais influência sobre nós, de certa forma nos assustando mais do que o coronel, embora eu ache que ele também assustava o coronel... Lembro bem que entrávamos na barraca gritando ou reclamando, e ele ficava deitado na cama, lendo. Ele erguia o olhar e sorria, e todos ficávamos quietos. Ninguém se aproximava de sua cama nem o incomodava. Quando alguém precisava de ajuda ou de dinheiro, ele ouvia a respeito e se apresentava. Ele pagou pela licença e pelo casamento de um dos garotos. Quando outro de nós fez uma conta assustadora num bar em Nome, ele deu para o cara que limpava as latrinas o dinheiro para pagar e disse que, se alguém perguntasse, a conta era dele... Muitos dos garotos faziam mais do que reclamar – ficavam quase loucos. E por que não? Enfrentávamos o pior clima do mundo num buraco abandonado, sem combates, enfrentando os constantes e fortíssimos ventos que nos obrigavam a nos arrastar até as latrinas porque, se nos levantássemos, as rajadas nos levariam até a Sibéria, e um programa de entretenimento que se confundia entre Olívia de Havilland e gravações de W. H. Auden. Mas a principal preocupação eram as mulheres. Depois de estarmos lá durante um ano, ouvia-se todos os tipos de boatos sobre o que acontecia sem elas. Lembro das conversas que ocorriam todas as noites em nossa barraca sobre os perigos do celibato. Hammett ouvia um pouco, sorria e voltava a ler. Ou então, quando a conversa atingia um volume muito alto, ele suspirava e dormia. (Por causa do jornal, seu horário de trabalho começava por volta das duas da manhã.) Uma noite, com a sessão mais barulhenta do que o normal e um dos garotos gritando, Hammett levantou-se e foi trabalhar. O garoto berrou:
– O que você acha, Papai? Diga alguma coisa.
– Muito bem. Seria bom ter uma mulher. Mas ficar sem não vai fazer os seus dentes ou os seus cabelos caírem. E se vocês ficarem malucos, é porque iam ficar de qualquer jeito. E se vocês não pararem com isso, vou me mudar para outra barraca. E debaixo da minha cama tem uma garrafa de uísque. Então bebam e vão dormir.
Em seguida ele saiu para trabalhar. Ficamos com tanto medo de perdê-lo, que nunca mais falamos nada parecido perto dele.
Mas, como já disse, os anos depois da guerra, de 1945 a 1948, não foram bons anos. Ele passou a beber muito mais, e havia uma característica de perda impensada que eu nunca tinha visto antes. Na época, compreendi que eu tinha de seguir o meu próprio caminho. Isso não quer dizer que tenhamos nos separado, quer dizer apenas que nos víamos menos, ficamos mais afastados. Mas, mesmo naqueles anos, ainda havia dias maravilhosos no sítio, de caçadas de outono, de preparo de tortas e lingüiça de esquilo, e todos os livros que ele leu enquanto eu tentava escrever uma peça. Ainda posso vê-lo levantando-se para jogar uma lenha na lareira e se aproximando para me chacoalhar. Jurava que eu sempre dizia:
– Eu não estava dormindo. Estava pensando.
Ele ria e dizia:
– Claro. Você está dormindo há uma hora, mas muita gente pensa melhor quando está dormindo, e você é assim.
Em 1952, precisei vender o sítio. Então me mudei para Nova York, e Dash alugou uma pequena casa em Katonah. Eu ia até lá uma vez por semana para vê-lo, ele vinha uma vez por semana a Nova York, e nós conversávamos por telefone todos os dias. Mas ele queria ficar sozinho – ou era o que eu acreditava na época, mas não tenho muita certeza hoje, porque aprendi que homens orgulhosos que não pedem nada podem ser ótimas pessoas na vida e em romances, mas são difíceis de conviver e compreender. De qualquer modo, com o passar dos anos, ele se tornou um eremita, e o feio chalezinho de campo ficou mais feio com livros empilhados em todas as cadeiras, sem lugar para sentar. A escrivaninha ganhou mais trinta centímetros de altura de correspondência não respondida. Havia sinais de doença por tudo: a vitrola não funcionava mais, a máquina de escrever permanecia intocada, e os aparelhos adorados e tolos ficavam fechados em seus pacotes. Quando eu fazia as minhas visitas semanais, não conversávamos muito, e quando ele fazia as suas visitas semanais, estava sempre exausto por causa da curta viagem.
Talvez eu tenha levado tempo demais para perceber que ele não podia mais viver sozinho. E mesmo depois de perceber isso, eu não soube como dizer. Um dia, logo depois de me fazer prometer que pararia de ler os quadrinhos “Ferdinando”, comigo rindo da sua veemência quanto a isso, ele ficou subitamente encabulado – sempre ficava encabulado quando tinha algo emocional a dizer – e disse:
– Não posso mais viver sozinho. Tenho levado tombos. Vou para um hospital de veteranos de guerra. Vai ficar tudo bem, vamos nos ver o tempo todo, e eu não quero ver você chorando.
Mas eu chorei, passei dois dias chorando, e ele finalmente concordou em se mudar para o meu apartamento. (Ainda hoje, ao escrever isso, fico irritada e acho divertido que ele sempre tivesse que fazer as coisas do jeito dele: há alguns minutos, saí da frente da máquina de escrever e reclamei disso, como se ele ainda pudesse me ouvir. Sei tão pouco sobre a natureza do amor romântico como sabia aos dezoito anos, mas conheço o prazer profundo do interesse contínuo, da excitação de se querer saber o que outra pessoa pensa, vai fazer, não vai fazer, dos truques executados ou não, do cordão curto que os anos transformaram em corda e que, no meu caso, está lá, solta, muito depois da morte. Não tenho certeza sobre o que Hammett pensaria do resto destes comentários sobre ele, mas tenho certeza de que, em sua malícia, gostaria de saber que estou irritada com ele hoje.) Assim, ele viveu comigo nos quatro últimos anos de sua vida. Nem todo esse tempo foi tranqüilo, e parte foi muito ruim, mas foi um prazer tácito o fato de termos nos unido tantos anos antes, estragado tantas coisas e consertados algumas, de termos resistido juntos. Às vezes eu me ressentia do lado não dito ou raramente dito que tínhamos. Adivinhando que a morte não estava longe, tentava conseguir algo para ficar comigo depois. Um dia, eu disse:
– Nós nos saímos bem, não foi?
Ele respondeu:
– Bem é uma palavra muito grande para mim. Por que não dizemos que nos saímos melhor do que muita gente?
Na véspera do ano-novo, em 1960, deixei Hammett aos cuidados de uma simpática enfermeira e fui passar algumas horas com amigos. Fui embora da casa deles às onze e meia, sem saber que a enfermeira começou a me ligar alguns minutos depois. Quando entrei no quarto de Hammett, ele estava sentado à escrivaninha, com o rosto tão entusiasmado e excitado como nos tempos em que bebia. No colo, um pesado livro de gravuras japonesas que havia comprado muitos anos antes e de que gostava muito.
– Olhe para isso, querida. É maravilhoso.
Quando me aproximei, a enfermeira se afastou, mas ele pegou a mão dela e a beijou, com o mesmo jeito charmoso e sedutor dos bons tempos, erguendo o olhar para piscar para mim. O livro estava de cabeça para baixo, de modo que a enfermeira nem precisou resmungar a palavra “irracional”. Dali em diante – nós o levamos para o hospital no dia seguinte – nunca soube nem jamais saberei o que irracional quer dizer. Hammett recusava qualquer medicação, qualquer ajuda de enfermeiras e médicos, numa espécie de determinada e misteriosa desconfiança. Antes da noite do livro de cabeça para baixo, nosso plano era nos mudarmos para Cambridge, porque eu havia sido contratada para lecionar em Harvard. Um livro de cabeça para baixo deve ter me dito que o fim havia chegado, mas eu não queria pensar dessa maneira, de modo que fui para Cambridge, encontrei uma casa de saúde para Dash e voltei naquela noite para lhe contar a respeito. Ele perguntou:
– Mas como vamos para Boston?
Respondi que contrataríamos uma ambulância e acho que pela primeira vez na vida ele disse:
– Vai ser muito caro.
Respondi:
– Se for, iremos numa carroça coberta.
Ele sorriu e disse:
– Talvez fosse assim que devêssemos ter viajado, afinal.
Então me senti melhor naquela noite, segura de uma prorrogação. Eu estava errada. Antes das seis da manhã do dia seguinte, ligaram do hospital. Hammett havia entrado em coma. Quando atravessei o quarto até a sua cama, houve um último sinal de vida: seus olhos se abriram, surpresos, e ele tentou levantar a cabeça. Mas ele nunca mais recuperou a consciência. Morreu dois dias depois.
1 Escritora e dramaturga norte-americana, autora de Pentimento (1973; Francisco Alves, 1980) e A caça às bruxas (1976; Francisco Alves, 1980).
2 Edição brasileira: O homem magro. Companhia das Letras, 2002.
A pilhagem de Couffignal
Em forma de cunha, Couffignal não é uma ilha muito grande e não fica longe do continente, ao qual é ligada por uma ponte de madeira. Sua costa oeste é um penhasco acentuado e alto que emerge abruptamente da Baía de San Pablo. Do topo desse penhasco, a ilha se inclina para leste, até uma praia de seixos que volta para o mar, onde há píeres, a sede de um clube e barcos de lazer atracados.
A rua principal de Couffignal, paralela à praia, tem o banco, o hotel, o cinema e as lojas de sempre. Mas difere da maioria das ruas do mesmo tamanho por ser organizada e preservada com mais cuidado. Ela tem árvores, cercas vivas e faixas de gramado e não tem placas luminosas. Os edifícios parecem combinar uns com os outros, como se tivessem sido projetados pelo mesmo arquiteto, e as lojas oferecem mercadorias de qualidade semelhante à das melhores lojas da cidade grande.
As ruas transversais – que percorrem fileiras de bem cuidados chalés perto do pé da encosta – viram ruas sinuosas com cercas vivas quando começam a subir na direção do penhasco. Quanto mais altas as ruas, maiores e mais distantes as casas aonde elas levam. Os ocupantes dessas casas mais no alto são os proprietários e governantes da ilha. A maioria deles é de velhos senhores bem nutridos que, contabilizando os lucros que haviam tirado do mundo com as duas mãos na juventude agora rendendo em aplicações seguras, haviam comprado propriedades na ilha para poderem passar o resto de suas vidas cuidando do fígado e aperfeiçoando o jogo de golfe entre seus pares. São aceitos na ilha apenas os comerciantes, trabalhadores e esse tipo de gentinha necessária para mantê-los bem atendidos.
Assim é Couffignal.
Passava da meia-noite. Eu estava sentado num quarto do segundo andar da maior casa de Couffignal, cercado por presentes de casamento cujo valor devia totalizar algo entre cinqüenta e cem mil dólares.
De todos os trabalhos confiados a um detetive particular (exceto pelos de divórcio, que a Agência de Detetives Continental não faz), casamentos são os de que eu menos gosto. Normalmente consigo evitá-los, mas dessa vez não tinha sido possível. Dick Foley, que havia sido escalado para a tarefa, tinha ganhado um olho roxo de um batedor de carteiras pouco amistoso no dia anterior. Isso tirou Dick e pôs a mim no serviço. Eu havia chegado a Couffignal – um trajeto de duas horas desde São Francisco de ferry e automóvel – naquela manhã e voltaria na manhã seguinte.
Não era nem melhor nem pior do que o serviço de casamento de sempre. A cerimônia havia sido realizada numa capela de pedra no pé da encosta. Então a casa começou a se encher com os convidados da recepção, que a mantiveram repleta de gente até algum tempo depois de os noivos fugirem para o trem que ia para o Leste.
O mundo esteve bem representado. Havia um almirante e um ou dois nobres da Inglaterra; um ex-presidente de um país sul-americano; um barão dinamarquês; uma jovem e alta princesa russa cercada por títulos menos importantes, incluindo um general gordo, careca e jovial de barba negra, que conversou comigo durante uma hora inteira sobre lutas de boxe, pelas quais tinha muito interesse, mas menos conhecimento do que seria possível; um embaixador de um dos países da Europa Central; um juiz da Suprema Corte; e uma multidão de pessoas cuja importância ou quase-importância não leva rótulos.
Teoricamente, um detetive responsável pela segurança de presentes de casamento deve tornar-se indistinguível dos outros convidados. Na prática, a coisa nunca funciona dessa maneira. Ele precisa passar a maior parte do tempo à vista dos valores, de modo que é facilmente identificado. Além disso, as oito ou dez pessoas que reconheci entre os convidados eram clientes ou ex-clientes da Agência, logo, sabiam quem eu era. Entretanto, ser conhecido não faz tanta diferença quanto você possa imaginar, e tudo havia transcorrido tranqüilamente.
Alguns amigos do noivo, aquecidos pelo vinho e pela necessidade de manter suas reputações como malandros, haviam tentado levar alguns dos presentes da sala em que estavam expostos e escondê-los dentro do piano. Mas eu já estava esperando aquele conhecido truque e tratei de impedi-lo antes que tivesse ido longe o bastante para gerar constrangimentos.
Pouco depois do anoitecer, um vento com cheiro de chuva começou a empilhar nuvens de tempestade sobre a baía. Os convidados que moravam mais longe, principalmente os que precisavam atravessar a água, saíram apressados para casa. Os que moravam na ilha ficaram até que as primeiras gotas de chuva começassem a cair. Então partiram.
A casa dos Hendrixson se acalmou. Os músicos e os criados extras foram embora. Os exaustos empregados da casa começaram a desaparecer em direção aos quartos. Encontrei uns sanduíches, uns livros e uma confortável poltrona e levei tudo até o quarto em que os presentes estavam escondidos sob panos cinza-claros.
Keith Hendrixson, o avô da noiva – que era órfã – enfiou a cabeça pela porta.
– Você tem tudo de que precisa? – perguntou.
– Sim, obrigado.
Disse boa noite e foi para a cama – um velho alto, magro como um menino.
O vento e a chuva estavam fortes quando desci para examinar as janelas e portas do térreo. Tudo estava trancado e seguro no primeiro andar, assim como no porão. Voltei para o andar de cima.
Arrastei a poltrona para perto de uma luminária de pé e ajeitei os sanduíches, os livros, um cinzeiro, a arma e a lanterna sobre uma mesa ao lado. Então desliguei as outras lâmpadas, acendi um cigarro, sentei-me, acomodei a coluna confortavelmente no estofado da poltrona, peguei um dos livros e me preparei para passar a noite.
O livro se chamava O senhor do mar e falava de um sujeito forte, durão e violento chamado Hogarth, cujo modesto plano era ter o mundo em suas mãos. Havia tramas e contra-tramas, raptos, assassinatos, fugas de prisão, falsificações e furtos, diamantes do tamanho de chapéus e fortalezas flutuantes maiores do que Couffignal. Agora parece bobagem, mas, no livro, era bastante real.
Hogarth ainda estava seguindo firme quando as luzes se apagaram.
No escuro, livrei-me da ponta brilhante do meu cigarro esmagando-o num dos sanduíches. Larguei o livro, peguei a arma e a lanterna e me afastei da poltrona.
Tentar ouvir algum barulho não ia funcionar. A tempestade estava fazendo centenas de barulhos. Eu precisava era saber por que as luzes tinham se apagado. Todas as outras luzes da casa tinham sido apagadas algum tempo antes, de modo que a escuridão do corredor não me disse nada.
Fiquei esperando. O meu trabalho era vigiar os presentes. Ninguém havia tocado neles ainda. Não havia por que ficar assustado.
Passaram-se alguns minutos, talvez uns dez.
O piso balançou sob os meus pés. As janelas vibraram com uma violência além da força da tempestade. O estrondo surdo de uma forte explosão encobriu os barulhos do vento e da água caindo. O estouro não havia sido muito próximo, mas também não foi distante o bastante para ter sido fora da ilha.
Fui até a janela do outro lado do quarto e espiei através do vidro molhado, mas não consegui ver nada. Devia ter visto algumas luzes mais abaixo na encosta. Não ter conseguido enxergá-las estabelecia um ponto. As luzes haviam se apagado por toda Couffignal, e não apenas na casa dos Hendrixson.
Isso era melhor. A tempestade podia ter causado uma pane no sistema de iluminação e sido responsável pela explosão – talvez.
Olhando fixamente através da janela escura, tive a impressão de ver muita agitação no pé da encosta, de movimento na noite. Mas tudo estava longe demais para que eu visse ou ouvisse qualquer coisa mesmo que houvesse luz, e tudo estava vago demais para saber do que se tratava a movimentação. A impressão foi forte, mas inútil. Não me levou a nada. Disse a mim mesmo que estava ficando com a cabeça fraca e me afastei da janela.
Outro estouro me fez voltar a ela. Essa explosão pareceu mais próxima do que a outra, talvez por ter sido mais forte. Espiei novamente pelo vidro, mas ainda não enxerguei nada. Ainda tinha a impressão de haver coisas grandes se movendo lá embaixo.
Ouvi pés descalços correndo pelo corredor. Uma voz ansiosa chamava pelo meu nome. Virando-me mais uma vez de costas para a janela, guardei a pistola e acendi a lanterna. Keith Hendrixson, de pijama e roupão de banho, parecendo mais magro e mais velho do que seria possível imaginar, entrou no quarto.
– Será que...
– Não acho que seja um terremoto – disse eu, já que esta é a primeira calamidade em que os californianos costumam pensar. – As luzes se apagaram há um tempinho. Houve duas explosões na base da encosta desde que...
Parei. Três tiros, próximos uns dos outros, haviam soado. Disparos de fuzil, mas do tipo feitos apenas pelos fuzis mais pesados. Em seguida, agudo e baixo sob a tempestade, veio o estampido de uma pistola distante.
– O que é isso? – perguntou Hendrixson.
– São tiros.
– Mais pés apressados no corredor, alguns descalços, outros calçados. Vozes nervosas sussurravam perguntas e exclamações. Entrou o mordomo, um homem sólido, parcialmente vestido e carregando um candelabro com cinco velas acesas.
– Muito bem, Brophy – disse Hendrixson quando o mordomo pousou o candelabro sobre a mesa ao lado dos meus sanduíches. – Você pode tentar descobrir o que está havendo?
– Já tentei, senhor. O telefone não parece estar funcionando, senhor. Devo enviar Oliver até a cidade?
– Nã-ão. Não acho que seja tão grave. Você acha que é alguma coisa grave? – perguntou ele para mim.
Respondi que achava que não, mas estava prestando mais atenção no que acontecia lá fora do que nele. Tinha ouvido um grito fino que podia ter vindo de uma mulher ao longe e uma rajada de tiros de armas pequenas. O barulho da tempestade abafou esses tiros, mas quando os disparos mais pesados que havíamos ouvido antes recomeçaram novamente, o som ficou bastante claro.
Abrir a janela seria permitir a entrada de litros de água e não serviria para ouvirmos muito melhor. Fiquei com uma orelha colada na vidraça, tentando chegar a alguma conclusão sobre o que estava acontecendo do lado de fora.
Outro barulho desviou a minha atenção da janela – o toque da sineta da porta da frente. O toque foi alto e insistente.
Hendrixson olhou para mim. Assenti.
– Veja quem é, Brophy – disse ele.
O mordomo afastou-se com solenidade e voltou ainda mais solene.
– A Princesa Zhukovski – anunciou.
Ela entrou correndo no quarto – a garota russa alta que eu havia visto na recepção. Tinha os olhos arregalados e escuros de excitação, e o rosto, muito branco, estava molhado. A água escorria pela capa impermeável, cujo capuz cobria seu cabelo escuro.
– Ah, sr. Hendrixson! – ela segurava uma mão dele com as duas mãos. Sua voz, sem qualquer sotaque estrangeiro, era a voz de alguém emocionado com uma surpresa encantadora. – O banco está sendo assaltado, e o – como se diz? – chefe de polícia foi assassinado!
– Como assim? – exclamou o velho, pulando desajeitadamente porque a água da capa havia pingado em seu pé descalço. – Weegan assassinado? E o banco assaltado?
– Sim! Não é terrível? – Seu tom era o de quem estava dizendo “maravilhoso”. – Quando fomos acordados pela primeira explosão, o general mandou Ignati descobrir qual era o problema, e ele saiu no momento exato para ver o banco explodir. Ouçam!
Ficamos prestando atenção, e ouvimos uma violenta saraivada de armas de diferentes calibres.
– Deve ser o general chegando! – disse ela. – Ele vai se divertir imensamente. Assim que Ignati voltou com a notícia, o general deu uma arma a todos os homens da casa, de Aleksandr Sergyeevich a Ivan, o cozinheiro, e conduziu-os para fora, feliz como não se sentia desde que liderou sua divisão para o Leste da Prússia em 1914.
– E a duquesa? – perguntou Hendrixson.
Ele a deixou em casa comigo, claro, e eu escapei furtivamente enquanto ela tentava pôr água num samovar pela primeira vez na vida. Isso não é noite para se ficar em casa!
– Hmmm – fez Hendrixson, com a mente claramente distante do que ela estava dizendo. – E o banco!
Ele olhou para mim. Eu não disse nada. O barulho de outra rajada chegou até nós.
– Você poderia fazer alguma coisa lá? – perguntou ele.
– Talvez, mas... – indiquei os presentes cobertos com a cabeça.
– Ah, isso! – disse o velho. – Tenho tanto interesse no banco quanto nos presentes. Além disso, nós estaremos aqui.
– Tudo bem! – eu estava disposto a descer a encosta com a minha curiosidade. – Irei até lá. É melhor o senhor manter o mordomo aqui e o motorista junto à porta de entrada, no lado de dentro. E dê-lhes armas, se tiver. Posso pegar uma capa de chuva emprestada? Trouxe apenas um casaco leve comigo.
Brophy encontrou um impermeável amarelo que me serviu. Eu o vesti, guardei a arma e a lanterna convenientemente sob ele e coloquei o chapéu, enquanto Brophy carregava uma pistola automática para si e um fuzil para Oliver, o motorista mulato.
Hendrixson e a princesa me seguiram até o andar de baixo. À porta, descobri que ela não estava exatamente me seguindo – estava indo junto comigo.
– Mas, Sonya! – protestou o velho.
– Não farei nenhuma bobagem, embora preferisse fazer – prometeu ela. – Voltarei para a minha Irinia Androvna, que a esta altura talvez já tenha conseguido encher o samovar de água.
– Que garota sensata! – disse Hendrixson, deixando-nos sair para a chuva e o vento.
O tempo não permitia conversar. Em silêncio, começamos a descer a encosta por entre as fileiras de cercas, com a tempestade avançando às nossas costas. Depois da primeira abertura na cerca viva, parei e fiz um sinal com a cabeça em direção ao vulto escuro de uma casa.
– Ali é a sua...
A risada dela me interrompeu. Segurou o meu braço e começou a me apressar de volta à rua.
– Eu só disse aquilo para o sr. Hendrixson não se preocupar – ela explicou. – Você não achou que eu deixaria de descer para ver o que está acontecendo...
Ela era alta, eu sou baixo e corpulento. Eu tinha de olhar para cima para ver seu rosto – para ver tanto quanto a noite cinzenta permitia.
– A senhora ficará encharcada até os ossos, andando desse jeito na chuva – protestei.
– E daí? Estou vestida para isso. – Levantou o pé para me mostrar uma pesada bota impermeável e uma perna vestida com uma meia de lã.
– Não dá para prever o que encontraremos lá embaixo, e eu preciso trabalhar – insisti. – Não poderei ficar cuidando da senhora.
– Eu posso cuidar de mim mesma. – Ela empurrou a capa e me mostrou a pistola automática compacta que levava.
– A senhora vai me atrapalhar.
– Não vou – retrucou ela. – Você provavelmente vai descobrir que posso ajudá-lo. Sou tão forte como você, mais ágil e sei atirar.
Os barulhos de tiros esparsos estavam pontuando a nossa discussão, mas agora o barulho mais pesado de disparos silenciou as dúzias de objeções à companhia dela em que eu podia pensar. Afinal, eu poderia escapar no escuro se ela se tornasse uma perturbação muito grande.
– Faça como quiser – resmunguei. – Mas não espere nada de mim.
– Muito gentil da sua parte – murmurou ela quando retomamos a caminhada, apressados, com o vento às nossas costas fazendo-nos ir mais rápido.
De vez em quando, dava para ver vultos escuros à frente, mas distantes demais para serem reconhecidos. Nesse instante, um homem passou por nós, subindo a encosta correndo – um homem alto com a camisola de dormir para fora das calças, sob o casaco, o que o identificava como morador.
– Acabaram com o banco e estão na Medcraft! – gritou ao cruzar conosco.
– Medcraft é uma joalheria – disse a garota.
A ladeira sob nossos pés ficou menos acentuada. As casas – escuras, mas com rostos vagamente visíveis em janelas aqui e ali – foram ficando mais próximas umas das outras. Abaixo, via-se o fogo de uma arma de vez em quando – faixas alaranjadas sob a chuva.
A rua que percorríamos nos levou até a ponta mais baixa da rua principal assim que soou um stacatto ra-tá-tá.
Empurrei a garota até a porta mais próxima e saltei em seguida.
As balas se chocavam contra as paredes fazendo o barulho de granizo batendo em folhagens.
Era o que eu havia imaginado ser um fuzil excepcionalmente pesado: uma metralhadora.
A garota havia caído de costas numa esquina, toda enroscada em alguma coisa. Ajudei-a. A coisa era um rapaz de mais ou menos dezessete anos, com uma perna e uma muleta.
– É o entregador de jornais – disse a Princesa Zhukovski – e você o machucou com o seu mau jeito.
O rapaz sacudiu a cabeça e levantou-se sorrindo:
– Não. Num tô nada machucado, mas a senhora me assustou um pouco, pulando em mim daquele jeito.
Ela precisou parar e explicar que não havia pulado sobre ele, mas sido empurrada por mim e que sentia muito, e eu também.
– O que está acontecendo? – perguntei ao jornaleiro quando consegui uma brecha para falar.
– Tudo – jactou-se, como se fosse dele parte do crédito. – Deve ter uns cem deles. Abriram o banco com uma explosão e agora alguns estão na Medcraft. Acho que vão explodi-la também. E mataram Tom Weegan. Estão com uma metralhadora dentro de um carro no meio da rua. É o que está disparando agora.
– Onde está todo mundo... todos os alegres aldeães?
– A maioria está atrás da prefeitura. Só que não podem fazer nada, porque a metralhadora não os deixa chegar perto o bastante para que vejam no que estão atirando, e o esperto do Billy Vincent me disse para eu dar o fora, porque só tenho uma perna, como se não pudesse atirar tão bem como qualquer um. Se pelo menos eu tivesse com o que atirar!
– Não foi certo da parte deles – solidarizei-me. – Mas você pode fazer uma coisa por mim. Pode ficar aqui de olho nesta ponta da rua para saber se eles sairão nesta direção.
– Você não está dizendo isso só para que eu fique aqui fora do caminho, está?
– Não – menti. – Preciso de alguém para vigiar. Eu ia deixar a princesa aqui, mas você será melhor para fazer isso.
– Sim – disse ela, pegando a idéia. – Este cavalheiro é um detetive, e se você fizer o que ele pede, estará ajudando mais do que se estivesse com os outros.
A metralhadora ainda estava disparando, mas não mais na nossa direção.
– Vou atravessar a rua – eu disse à garota. – Se você...
– Você não vai se unir aos outros?
– Não. Se eu conseguir dar a volta nos bandidos enquanto eles estão ocupados com os outros, talvez consiga fazer alguma coisa.
– Observe bem agora! – ordenei ao garoto, e a princesa e eu corremos para a calçada oposta.
Chegamos a ela sem atrair chumbo, andamos de lado ao longo de um edifício por alguns metros e viramos num beco. Da outra ponta do beco vinha o cheiro, o marulho e a escuridão sombria da baía.
Enquanto percorríamos o beco, pensei num plano para me livrar da minha companhia, mandando-a para uma caçada segura qualquer. Mas não tive chance de experimentá-lo.
O grande vulto de um homem surgiu à nossa frente.
Colocando-me diante da moça, segui em sua direção. Sob a minha capa de chuva, segurava a arma apontada para ele.
Ele ficou de pé. Era maior do que tinha parecido no começo. Um homem enorme, de ombros caídos e corpo de barril. Estava de mãos vazias. Direcionei a lanterna para seu rosto por um instante. Era um rosto sem bochechas e de traços fortes, com as maçãs salientes e muita rudeza.
– Ignati! – exclamou a garota por sobre o meu ombro.
Ele começou a falar o que imaginei ser russo com ela, que riu e respondeu. Ele sacudiu a cabeça com teimosia, insistindo em alguma coisa. Ela bateu o pé e falou com severidade. Ele sacudiu a cabeça novamente e se dirigiu a mim:
– General Pleshskev dizer mim levar Princesa Sonya para casa.
O inglês que ele falava era quase tão difícil de entender como o russo. Seu tom de voz me intrigou. Era como se estivesse explicando uma coisa absolutamente necessária pela qual não queria ser culpado, mas que, mesmo assim, acabaria fazendo.
Enquanto a garota estava falando com ele novamente, adivinhei a resposta. Aquele grande Ignati havia sido enviado pelo general para levar a garota para casa e obedeceria às ordens nem que tivesse que carregá-la. Ao explicar a situação, estava tentando evitar problemas comigo.
– Leve-a – disse eu, dando um passo para o lado.
A garota me olhou com cara feia e riu.
– Muito bem, Ignati – disse ela, em inglês. – Irei para casa. – Deu meia volta no calcanhar e começou a subir pelo beco, seguida de perto pelo homenzarrão.
Satisfeito por estar sozinho, não perdi tempo, mudando de direção até sentir os seixos da praia sob os pés. As pedrinhas moíam-se com barulho sob os calcanhares. Voltei até um terreno mais silencioso e comecei a avançar o mais rapidamente possível pela praia em direção ao centro da ação. A metralhadora seguia disparando. Armas menores também atiravam. Três explosões seguidas – bombas e granadas de mão, disseram-me os ouvidos e a memória.
O céu tempestuoso brilhava em cor-de-rosa sobre um telhado à frente e à esquerda. Os estrondos das explosões feriram os meus tímpanos. Fragmentos que eu não podia ver caíram ao meu redor. Isso, pensei, deve ter sido o cofre da joalheira sendo explodido.
Segui avançando pela na praia. A metralhadora silenciou. Armas mais leves continuavam atirando sem parar. Mais uma granada foi detonada. Uma voz de homem berrou com terror absoluto.
Arriscando o barulho das pedras, voltei novamente para a beira da água. Não havia visto qualquer vulto escuro na água que pudesse ser um barco. Havia barcos atracados ao longo daquela praia à tarde. Com os pés dentro da água da baía, ainda não via qualquer barco. A tempestade podia tê-los dispersado, mas eu não achava que isso tivesse acontecido. A altura do penhasco do lado oeste da ilha protegia aquela costa. O vento estava forte, mas não era violento.
Com os pés às vezes na borda de seixos, às vezes dentro da água, segui pela praia. Então vi um barco. Um vulto preto que se balançava suavemente adiante. Não havia nenhuma luz acesa. Nada se movia sobre ele, que eu pudesse ver. Era o único barco naquela margem, o que o tornava importante.
Aproximei-me, pé ante pé.
Uma sombra moveu-se entre mim e os fundos escuros de um edifício. Congelei. A sombra, do tamanho de um homem, moveu-se novamente, na direção de onde eu estava seguindo.
À espera, não sabia o quão estaria quase invisível ou absolutamente visível contra o fundo às minhas costas. Não podia arriscar me entregar tentando melhorar a minha posição.
A seis metros da sombra, parei de repente.
Havia sido visto. Minha arma estava apontada para a sombra.
– Vamos lá – disse baixinho. – Continue vindo. Vamos ver quem você é.
A sombra hesitou, deixou o abrigo do edifício e se aproximou. Não podia correr o risco de usar a lanterna. Divisei vagamente um rosto bonito, impulsivamente juvenil, com uma face manchada de escuro.
– Ah, muito prazer – disse o dono do rosto numa voz musical de barítono. – Você estava na recepção de hoje à tarde.
– Sim.
– Você viu a Princesa Zhukovski? Você a conhece?
– Foi para casa com Ignati há dez minutos.
– Excelente! – Limpou o rosto manchado com um lenço manchado e se virou para olhar para o barco. – É o barco do Hendrixson – sussurrou. – Pegaram esse e soltaram todos os outros.
– Isso quer dizer que eles fugirão pela água.
– Sim – concordou ele. – A menos que... Será que devemos tentar?
– Você quer dizer tomar o barco?
– Por que não? – perguntou. – Não deve haver muitos a bordo. Deus sabe como há muitos deles em terra. Você está armado, eu tenho uma pistola.
– Vamos primeiro dar uma olhada – disse eu – para sabermos em quê estamos nos metendo.
– Sábia decisão – disse ele, e seguiu à minha frente de volta ao abrigo dos edifícios.
Colados aos muros de trás dos prédios, seguimos furtivamente em direção ao barco.
A embarcação ficou mais clara na noite. Um barco de prováveis quinze metros de comprimento, com a popa voltada para a costa, subindo e descendo ao lado de um píer pequeno. Alguma coisa se projetava através da popa. Alguma coisa que não consegui identificar direito. Solas de couro raspavam de vez em quando no convés de madeira. Em seguida, uma cabeça e um par de ombros escuros se mostraram acima da coisa intrigante sobre a popa.
Os olhos do rapaz russo eram melhores do que os meus.
– Mascarado – cochichou em meu ouvido. – Está com uma meia-calça ou coisa parecida sobre o rosto e a cabeça.
O homem mascarado estava imóvel em seu lugar. Nós estávamos imóveis no nosso.
– Você consegue acertá-lo daqui? – perguntou o jovem.
– Talvez, mas noite escura e chuva não são uma boa combinação para a artilharia de precisão. A nossa melhor chance é chegarmos o mais perto possível e começarmos a atirar assim que ele nos enxergar.
– Sábia decisão – concordou ele.
Fomos descobertos ao darmos o nosso primeiro passo para frente. O homem no barco grunhiu. O rapaz ao meu lado saltou para frente. Reconheci a coisa na popa do barco bem a tempo de jogar uma perna e derrubar o jovem russo. Ele caiu, todo esparramado nos seixos. Joguei-me atrás dele.
A metralhadora na popa derramou balas sobre as nossas cabeças.
– Não adianta ir contra isso! – disse eu. – Role para longe!
Dei o exemplo rolando em direção à parte de trás do prédio de onde tínhamos acabado de sair.
O homem perto da metralhadora espalhou balas pela praia, mas fazia isso aleatoriamente, com os olhos claramente prejudicados para visão noturna pelo clarão dos disparos.
Virando a esquina do prédio, nós nos sentamos.
– Você salvou minha vida ao me derrubar – disse o rapaz, friamente.
– Pois é. Será que eles tiraram a metralhadora da rua ou...
A resposta veio imediatamente. A metralhadora na rua uniu sua voz cruel ao rufar da que estava no barco.
– São duas! – reclamei. – Você sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo?
– Não acho que eles sejam mais do que dez ou doze, embora não seja fácil contar no escuro – disse ele. – Os poucos que vi estão completamente mascarados, como aquele do barco. Parece que eles desligaram as linhas de telefone e a luz primeiro e depois destruíram a ponte. Nós os atacamos enquanto estavam saqueando o banco, mas eles tinham uma metralhadora montada na frente, e não estávamos equipados para um combate de igual para igual.
– Onde estão os ilhéus agora?
– Espalhados. Imagino que a maioria esteja escondida, a menos que o General Pleshskev tenha conseguido reuni-los novamente.
Franzi a testa e pus a cabeça para funcionar. Não se pode combater metralhadoras e granadas de mão com aldeães pacíficos e capitalistas aposentados. Não importa o quanto estejam bem conduzidos e armados, não se pode fazer nada com eles. Aliás, como alguém poderia fazer alguma coisa contra um jogo tão violento?
– Que tal se você ficasse aqui de olho no barco – sugeri. – Vou dar uma espiada para ver o que está acontecendo mais acima e, se conseguir reunir alguns homens, tentarei entrar no barco de novo, provavelmente pelo outro lado. Mas não podemos contar com isso. A fuga será de barco. Disso não há dúvida, e podemos tentar evitá-la. Se você se deitar, pode observar o barco pelo canto do prédio, sem se transformar num alvo. Eu não faria nada que pudesse chamar atenção até começar a fuga para o barco. Depois disso, pode fazer todo o tiroteio que quiser.
– Excelente! – disse ele. – Você provavelmente vai encontrar a maioria dos ilhéus atrás da igreja. Para chegar até lá, siga direto subindo a encosta até uma cerca de ferro, que deve acompanhar à direita.
– Certo.
Saí na direção que ele havia indicado.
Na rua principal, parei para olhar ao redor antes de me aventurar a atravessá-la. Tudo estava tranqüilo por ali. O único homem que vi estava caído com o rosto virado para o chão na calçada perto de mim.
Engatinhei até o lado dele. Estava morto. Não parei para examiná-lo melhor, mas ergui-me de repente e corri até o outro lado da rua.
Ninguém tentou me parar. Na entrada de uma casa, encostado contra a parede, espiei. O vento havia parado. A chuva não era mais um forte dilúvio, mas um chuvisco constante de gotas finas. Para os meus sentidos, a rua principal de Couffignal era uma rua deserta.
Fiquei imaginando se a retirada em direção ao barco já havia começado. Na calçada, andando rapidamente em direção ao banco, ouvi a resposta a esse questionamento.
Pelo som, no alto da encosta, quase na beirada do penhasco, uma metralhadora começou a disparar uma saraivada de balas.
Misturados ao barulho da metralhadora, ouviam-se os sons de armas menores e de uma ou outra granada.
No primeiro cruzamento, saí da rua principal e comecei a subir a encosta correndo. Havia homens correndo na minha direção. Dois deles passaram sem prestar atenção ao meu grito:
– O que está acontecendo agora?
O terceiro homem parou porque eu o agarrei – um gordo com dificuldade para respirar e o rosto muito branco.
– Puseram o carro com a metralhadora atrás de nós – arquejou ele quando gritei a minha pergunta novamente em seu ouvido.
– O que você está fazendo sem uma arma? – perguntei.
– Eu... eu deixei cair.
– Onde está o General Pleshskev?
– Está lá em algum lugar. Ele está tentando capturar o carro, mas nunca vai conseguir. É suicídio! Por que não chega nenhuma ajuda?
Outros homens haviam passado correndo encosta abaixo enquanto falávamos. Deixei o homem de rosto branco ir embora e parei quatro outros que não estavam correndo tão rápido como os demais.
– O que está acontecendo agora? – questionei.
– Estão indo para as casas no topo da encosta – disse um homem de rosto fino e bigode, com um fuzil em punho.
– Alguém já levou a informação para fora da ilha? – perguntei.
– Não dá – disse outro. – Eles explodiram a ponte antes de qualquer coisa.
– Ninguém sabe nadar?
– Não com esse vento. O jovem Catlan tentou e teve sorte de sair da água só com algumas costelas quebradas.
– O vento diminuiu – argumentei.
O homem de rosto fino entregou o fuzil para um dos outros e tirou o casaco.
– Vou tentar – prometeu.
– Ótimo! Acorde todo mundo e faça a informação chegar à lancha da polícia de São Francisco e ao Estaleiro Naval de Mare Island. Eles ajudarão se você lhes disser que os bandidos estão com metralhadoras. Diga-lhes que os bandidos estão com um barco armado esperando para a fuga. É o barco do Hendrixson.
O nadador voluntário partiu.
– Um barco? – perguntaram dois em uníssono.
– Sim. Com uma metralhadora a bordo. Se vamos fazer alguma coisa, precisamos fazer agora, enquanto estamos entre eles e a fuga. Consigam todos os homens e armas que encontrarem. Ataquem o barco a partir dos telhados, se puderem. Quando o carro dos bandidos passar por aqui, atirem contra ele. Vocês se sairão melhor do edifício do que da rua.
Os três seguiram descendo a encosta. Eu subi em direção aos ruídos das armas de fogo mais adiante. A metralhadora estava funcionando de modo intermitente. Disparava seu rá-tá-tá por um ou dois segundos e depois parava por alguns instantes. O fogo em resposta era escasso e irregular.
Cruzei com mais homens e fiquei sabendo por eles que o general ainda estava enfrentando o carro com menos de uma dúzia de homens. Repeti o conselho que havia dado aos outros. Meus informantes desceram para se unirem a eles. Segui em frente.
Cem metros mais adiante, o que havia sobrado da dúzia do general surgiu na escuridão, passando ao meu redor, voando encosta abaixo com uma saraivada de tiros atrás deles.
A rua não era lugar para homens mortais. Tropecei em dois cadáveres e me arranhei em vários lugares ao pular uma cerca viva. Sobre uma grama macia e úmida, prossegui com a minha jornada encosta acima.
A metralhadora no topo da encosta parou de atirar. A do barco continuava em funcionamento.
A que estava em frente abriu fogo novamente, disparando alto demais para que qualquer coisa próxima fosse o alvo. Estava ajudando os companheiros abaixo, varrendo a rua principal de balas.
Antes que eu pudesse me aproximar, os disparos cessaram. Ouvi o motor acelerado do carro, que avançou na minha direção.
Rolei para o meio da cerca viva e fiquei deitado lá, forçando os olhos por entre os espaços entre os galhos. Tinha seis balas numa arma que ainda não havia sido disparada naquela noite que tinha visto toneladas de pólvora serem queimadas.
Quando vi rodas na parte mais clara da rua, esvaziei a arma, segurando-a para baixo.
O carro seguiu em frente.
Saltei para fora do esconderijo.
O carro tinha desaparecido subitamente da rua vazia.
Ouvi um som forte. Uma batida. Barulho de metal amassando. De vidro quebrando.
Corri na direção desses sons.
De uma pilha negra de onde soava um motor, saltou um vulto preto – que atravessou correndo o gramado encharcado. Disparei atrás dele, esperando que os outros bandidos nas ferragens estivessem fora de combate.
Estava a menos de cinco metros do homem em fuga quando ele tentou pular uma cerca viva. Não sou nenhum atleta, mas ele também não era. A grama molhada deixava o caminho escorregadio.
Ele tropeçou enquanto eu estava saltando a cerca viva. Quando nos ajeitamos novamente, eu estava a menos de três metros atrás dele.
Disparei em sua direção, esquecendo que havia gastado toda a munição. Tinha seis cartuchos enrolados num pedaço de papel no bolso do colete, mas aquilo não era hora de recarregar.
Tive vontade de atirar a arma vazia na cabeça dele. Mas seria muito arriscado.
Um edifício surgiu em frente. Meu fugitivo correu para a direita, para vencer a esquina.
À esquerda, uma pesada espingarda de caça disparou.
O homem em fuga desapareceu ao virar na esquina da casa.
– Meu Deus! – reclamou a voz suave do General Pleshskev. – Quem diria que eu não acertaria um homem à distância com uma espingarda.
– Dê a volta pelo outro lado! – gritei, dobrando a esquina atrás do sujeito.
Ouvi seus pés batendo no chão em frente, mas não consegui vê-lo. O general apareceu ofegante, vindo do outro lado da casa.
– Você o pegou?
– Não.
À nossa frente havia um barranco de pedra, acima do qual passava uma trilha. Estávamos ladeados por uma cerca viva alta e compacta.
– Mas, meu amigo, como ele pode ter...? – protestou o general.
Um triângulo pálido apareceu na trilha acima – um triângulo que podia ser um pedaço de camisa aparecendo acima da abertura de um colete.
– Fique aqui e continue falando! – sussurrei ao general, esgueirando-me.
– Ele deve ter ido pelo outro lado – disse o general, seguindo as minhas instruções, continuando a falar como se eu estivesse com ele. – Porque se tivesse vindo pelo meu lado, eu o teria visto, e se tivesse se levantado acima das cercas vivas ou do barranco, um de nós certamente o teria visto contra...
Ele continuou falando e falando, enquanto eu me dirigia até o barranco da trilha e tentava acomodar os pés na superfície de pedra.
Tentando se encolher com as costas contra um arbusto, o homem na estrada observava o general que falava sem parar. Ele me viu quando pus os pés na trilha.
Deu um salto e ergueu uma das mãos.
Saltei, mostrando as duas mãos.
Uma pedra virou debaixo do meu pé e me atirou para o lado, torcendo o meu tornozelo, mas salvando a minha cabeça da bala que ele havia disparado contra mim.
Meu braço esquerdo estendido agarrou as pernas dele quando caí, e ele despencou sobre mim. Dei-lhe um chute, agarrei seu braço e tinha acabado de decidir mordê-lo quando o general chegou esbaforido à beira da trilha e empurrou o homem de cima de mim com o cano da espingarda.
Quando chegou a minha vez de me levantar, não foi muito bom. Meu tornozelo torcido não conseguiu suportar muito bem os meus mais de noventa quilos. Apoiando a maior parte do peso na outra perna, virei minha lanterna para o prisioneiro.
– Olá, Flippo! – exclamei.
– Olá! – disse ele, sem demonstrar satisfação no reconhecimento.
Era um italiano rechonchudo de 23, 24 anos. Eu tinha ajudado a mandá-lo para San Quentin quatro anos antes pela participação num assalto em dia de pagamento. Agora fazia vários meses que estava em liberdade condicional.
– O pessoal responsável pela sua condicional não vai gostar nada disso – eu disse.
– Você não está entendendo – suplicou ele. – Eu não tô fazendo nada. Estava aqui visitando uns amigos. E quando essa coisa estourou, eu precisei me esconder porque sou fichado e, se for apanhado, voltarei para o xadrez. E agora você me pegou e acha que estou metido nisso tudo!
– Você consegue ler pensamentos – garanti. Então perguntei ao general: – Onde podemos prender este pássaro por um tempo, trancado e chaveado?
– A minha casa tem um depósito de madeira com uma porta pesada e sem janela.
– Serve. Em frente, Flippo!
O General Pleshskev agarrou o rapaz pelo colarinho enquanto eu segui mancando atrás deles. Examinei a arma de Flippo, que estava carregada, apenas sem a bala que disparou contra mim, e recarreguei a minha.
Havíamos apanhado o nosso prisioneiro no terreno do russo, de modo que não tivemos de ir muito longe.
O general bateu na porta e gritou alguma coisa na própria língua. As fechaduras rangeram aos serem destravadas, e a porta foi aberta por um criado russo de bigode grande. Atrás dele, a princesa e uma mulher robusta mais velha.
Enquanto entrávamos, o general contava aos demais a respeito da captura e levava o preso até o depósito. Revistei-o em busca de seu canivete e de fósforos – ele não tinha nada mais que pudesse ajudá-lo a se libertar – tranquei-o e escorei solidamente a porta com uma tábua de madeira. Em seguida, descemos novamente.
– Você está ferido! – gritou a princesa, vendo-me mancar.
– Só torci o tornozelo – disse eu. – Mas está incomodando um pouco. Tem esparadrapo?
– Sim – respondeu ela, falando então com o criado de bigode, que saiu da sala e voltou em seguida, trazendo rolos de gaze, esparadrapo e uma bacia de água quente.
– Por favor, sente-se – disse a princesa, pegando as coisas com o criado.
Sacudi a cabeça e peguei o esparadrapo.
– Prefiro água fria, porque preciso sair para a rua molhada novamente. Se a senhora me mostrar onde fica o banheiro, posso eu mesmo dar um jeito rapidamente.
Tivemos de discutir a questão, mas finalmente consegui ir ao banheiro, onde deixei correr água fria sobre o pé e o tornozelo, que prendi com o esparadrapo o mais apertado possível sem interromper a circulação. Vestir o sapato molhado novamente não foi fácil, mas quando terminei, tinha duas pernas firmes me sustentando, embora uma delas doesse um pouco.
Quando me reuni aos outros, notei que não havia mais barulho de disparos no topo da encosta, que o barulho da chuva estava mais fraco e que um brilho cinzento de luz do dia surgia sob uma persiana fechada.
Eu estava abotoando meu impermeável quando bateram na aldrava da porta da frente. Ouvi algumas palavras em russo, e o jovem russo que eu havia encontrado na praia entrou na casa.
– Aleksandr, você está... – gritou a senhora mais velha quando viu o sangue no rosto dele e desmaiou.
Ele não deu a menor atenção a ela, como se estivesse acostumado a vê-la desmaiar.
– Eles entraram no barco – disse-me ele, enquanto a garota e dois criados juntavam a mulher e a deitavam num sofá.
– Quantos são? – perguntei.
– Contei dez, e não acho que tenha deixado passar mais do que um ou dois, se tanto.
– Os homens que eu mandei até lá não conseguiram barrá-los?
Ele deu de ombros.
– O que você faria? É preciso ter estômago forte para enfrentar uma metralhadora. Seus homens haviam sido desalojados do prédio quase antes de chegarem.
A mulher desmaiada tinha acordado e estava despejando sobre o rapaz perguntas ansiosas em russo. A princesa vestiu sua capa azul. A mulher parou de inquirir o rapaz e fez uma pergunta a ela.
– Terminou tudo – disse a princesa. – Vou sair para ver as ruínas.
A sugestão agradou a todo mundo. Cinco minutos depois, todos nós, incluindo os criados, estávamos descendo a encosta. Atrás, ao redor, à frente do nosso grupo, havia outras pessoas descendo, correndo sob o chuvisco, que já estava bem fraco. Todos mostravam os rostos cansados e excitados à luz fria da manhã.
Na metade do caminho, uma mulher saiu correndo de um caminho transversal e começou a me dizer alguma coisa. Reconheci-a como uma das empregadas de Hendrixson.
Ouvi algumas de suas palavras.
– Levaram os presentes... Sr. Brophy assassinado... Oliver...
– Desço mais tarde – disse eu aos outros e saí atrás da empregada.
Ela estava correndo de volta para a casa dos Hendrixson. Eu não conseguia correr, não conseguia sequer caminhar em passo acelerado. Ela, Hendrixson e outros criados estavam de pé na varanda da frente quando cheguei.
– Mataram Oliver e Brophy – disse o velho.
– Como?
– Estávamos nos fundos da casa, no segundo andar, olhando os clarões do tiroteio na cidade. Oliver estava aqui embaixo, perto da porta de entrada, e Brophy, no quarto com os presentes. Ouvimos um tiro vindo de lá, e um homem apareceu imediatamente na porta do nosso quarto, ameaçando-nos com duas pistolas, fazendo-nos ficar aqui por mais ou menos dez minutos. Então ele fechou e trancou a porta e foi embora. Derrubamos a porta... e encontramos Brophy e Oliver mortos.
– Vamos dar uma olhada neles.
O motorista estava bem perto da porta da frente. Estava deitado de costas, com a garganta marrom cortada de um lado a outro pela frente, quase até as vértebras. O fuzil estava sob seu corpo. Peguei-o para examinar. Não havia sido disparado.
No andar de cima, o mordomo Brophy estava encolhido contra uma perna de uma das mesas nas quais os presentes haviam sido espalhados. Estava sem sua arma. Virei e ajeitei seu corpo e encontrei um buraco de bala no peito. Em volta do buraco, um grande pedaço do casaco estava chamuscado.
A maioria dos presentes ainda estava ali, mas as peças mais valiosas, não. Os outros estavam desarrumados, largados de qualquer jeito, descobertos.
– Como era o que você viu? – perguntei.
– Eu não o vi direito – disse Hendrixson. – Nosso quarto estava sem luz. Ele era apenas um vulto escuro contra a vela que queimava no corredor. Um homem grande vestindo uma capa de chuva preta de borracha com um tipo de máscara preta que cobria toda a cabeça e o rosto, com pequenos buracos para os olhos.
– De chapéu?
– Não, só a máscara cobrindo toda a cabeça e o rosto.
Quando descemos novamente, fiz um breve relato a Hendrixson sobre o que tinha visto e feito desde que saíra. Não havia muita coisa para contar.
– Você acha que pode conseguir informações sobre os outros com o que prendeu? – perguntou, enquanto eu me preparava para sair.
– Não, mas espero pegá-los assim mesmo.
A rua principal de Couffignal estava cheia de gente quando saí mancando por ela novamente. Havia lá um destacamento de fuzileiros de Mare Island e homens de um barco da polícia da São Francisco. Cidadãos agitados em diversos graus de nudez fervilhavam ao redor deles. Cem vozes falavam ao mesmo tempo, contando as aventuras, bravuras e perdas pessoais e o que haviam visto. Palavras como metralhadora, bomba, bandidos, carro, tiro, dinamite e morto eram ditas sem parar, em todas as variedades de vozes e tons.
O banco tinha sido completamente destruído pela carga que havia explodido o cofre. A joalheria também estava em ruínas. Um armazém do outro lado da rua funcionava como hospital de campanha. Os médicos estavam trabalhando lá, tratando os aldeães feridos.
Reconheci um rosto familiar sob um boné de uniforme – o Sargento Roche, da polícia do porto – e atravessei com dificuldade a multidão até ele.
– Acabou de chegar? – perguntou ele apertando a minha mão. – Ou você estava no meio da confusão?
– Eu estava no meio da confusão.
– O que você sabe?
– Tudo.
– Quem já ouviu falar de um detetive particular que não soubesse de tudo? – brincou ele, seguindo-me para longe da multidão.
– Vocês não encontraram um barco vazio na baía? – perguntei quando estávamos longe dos demais.
– Tinha barcos vazios à deriva na baía durante toda a noite – disse ele.
Eu não havia pensando nisso.
– Onde está o seu barco agora? – perguntei.
– Tentando pegar os bandidos. Fiquei com alguns homens para dar uma mão por aqui.
– Você tem sorte – eu disse. – Agora olhe disfarçadamente para o outro lado da rua. Está vendo o sujeito gordo de bigode preto, em frente à farmácia?
O General Pleshskev estava lá, com a mulher que havia desmaiado, o jovem russo cujo rosto ensangüentado a fizera desmaiar e um homem pálido e rechonchudo de quarenta e poucos anos que estivera com eles na recepção. Um pouco mais ao lado estava o grande Ignati, os dois criados que eu tinha visto na casa e outro que evidentemente estava com eles. Estavam conversando entre si, observando o comportamento agitado de um proprietário de rosto vermelho que contava a um pouco amigável tenente dos Fuzileiros Navais que havia sido o seu carro particular que os bandidos roubaram para instalar a metralhadora e dizia o que ele achava que deveria ser feito a respeito.
– Sim – disse Roche – estou vendo o seu sujeito de bigode.
– Bem, ele é o seu prato. A mulher e os dois homens com ele igualmente são seu prato. E aqueles quatro russos parados à esquerda também. Está faltando um, mas posso cuidar desse. Avise o tenente, e você pode pegar todas essas crianças sem lhes dar chance de reagir. Eles acham que estão seguros como anjos.
– Tem certeza? – perguntou o sargento.
– Não seja bobo! – resmunguei, como se jamais tivesse cometido um erro na vida.
Estivera me apoiando na perna boa. Quando transferi o peso para a outra para me afastar do sargento, senti uma ferroada que subiu até o quadril. Apertei o maxilar e comecei a atravessar dolorosamente a multidão, até o outro lado da rua.
A princesa não parecia estar entre os presentes. A minha idéia era de que, junto com o general, ela era o mais importante membro do golpe. Se ela estivesse na casa, e ainda sem suspeitar de nada, imaginei que poderia chegar suficientemente perto para prendê-la sem muita confusão.
Caminhar estava sendo infernal. A minha temperatura estava subindo, e eu suava muito.
– Moço, nenhum deles seguiu por aquele caminho.
O jornaleiro de uma perna só estava de pé ao meu lado. Cumprimentei-o como se fosse meu funcionário.
– Venha comigo – disse eu, pegando seu braço. – Você se saiu muito bem lá. Agora preciso que faça outra coisa para mim.
A meia quadra da rua principal, levei-o até a varanda de um pequeno chalé amarelo. A porta da frente estava aberta, sem dúvida como havia sido deixada pelos ocupantes, que haviam saído correndo para recepcionar a polícia e os Fuzileiros. Perto da porta, do lado de dentro, estava uma cadeira de vime. Cometi invasão de domicílio até conseguir arrastar a cadeira até a varanda.
– Sente-se, filho – pedi ao rapaz.
Ele se sentou, olhando para mim com o rosto sardento intrigado. Agarrei sua muleta com força e arranquei-a de sua mão.
– Tome cinco dólares pelo aluguel – disse eu. – Se eu a perder, comprarei outra de marfim e ouro.
Em seguida, encaixei a muleta debaixo do braço e comecei a correr como pude encosta acima.
Foi a minha primeira experiência com uma muleta. Não quebrei nenhum recorde, mas foi muito melhor do que ficar mancando com um tornozelo machucado sem nenhum apoio.
A encosta era maior e mais íngreme do que algumas montanhas que eu já tinha visto, mas o acesso de cascalho que levava até a casa dos russos estava finalmente sob meus pés.
Ainda estava a cerca de três metros da varanda quando a Princesa Zhukovski abriu a porta.
– Ah! – exclamou. Então, recuperando-se da surpresa, disse: – O seu tornozelo piorou! – Desceu os degraus correndo para me ajudar a subi-los. Quando se aproximou, notei que havia alguma coisa pesava e se chacoalhava no bolso direito de seu casaco de flanela cinza.
Segurando o meu cotovelo com uma mão e passando o outro braço pelas minhas costas, ela me ajudou a subir os degraus e cruzar a varanda. Isso me deu a certeza de que ela não achava que eu havia descoberto tudo. Se achasse, não teria se permitido ficar ao alcance das minhas mãos. Fiquei imaginando por que ela havia voltado para a casa depois de começar a descer a encosta com os outros.
Enquanto pensava nisso, entramos na casa, onde ela me fez sentar numa poltrona de couro grande e macia.
– Você deve estar morrendo de fome depois da sua noite extenuante – disse. – Vou ver se...
– Não. Sente-se. – Apontei com a cabeça para uma poltrona diante da minha. – Quero conversar com a senhora.
Ela se sentou, fechando as mãos brancas e delicadas no colo. Nem sua expressão facial nem sua postura demonstravam qualquer sinal de nervosismo, ou sequer de curiosidade. E isso era um exagero.
– Onde vocês esconderam o que roubaram? – perguntei.
A palidez de seu rosto não podia ser interpretada de modo algum. Sua pele fora branca como o mármore desde a primeira vez que a vi. O escuro de seus olhos era igualmente natural. Nada aconteceu a seus outros traços. Sua voz estava suavemente fria.
– Sinto muito – disse. – Essa pergunta não significa nada para mim.
– É o seguinte – expliquei. – Estou acusando-a de cumplicidade no saque a Couffignal e nos assassinatos que resultaram dele. E estou perguntando onde está escondido tudo o que foi roubado.
Ela se levantou lentamente, ergueu o queixo e baixou o olhar pelo menos um quilômetro para olhar para mim.
– Como se atreve? Como se atreve a falar assim comigo, uma Zhukovski!
– Não quero saber se você é um dos Irmãos Smith! – Inclinando-me para frente, eu tinha empurrado meu tornozelo torcido contra uma perna da cadeira, e a agonia resultante não melhorou a minha disposição. – Nesta conversa você é uma ladra e uma assassina.
Seu corpo forte e esguio virou o corpo de um animal acuado. Seu rosto branco virou o rosto de um animal enfurecido. Uma mão – agora pata – desceu em direção ao bolso pesado do casaco.
Então, antes que eu pudesse piscar – embora a minha vida parecesse depender do fato de que eu não piscasse –, o animal selvagem havia desaparecido. Dele – e agora eu sei de onde os autores dos velhos contos de fada tiravam suas idéias – ressurgiu a princesa, fria, ereta e alta.
Ela se sentou, cruzou os tornozelos, apoiou um cotovelo no braço da poltrona, apoiou o queixo nas costas da mão e olhou curiosamente para mim.
– Como foi – sussurrou – que por acaso você chegou a essa teoria tão estranha e fantasiosa?
– Não foi por acaso, e a teoria não é nem estranha nem fantasiosa – respondi. – Talvez poupe tempo e problemas se eu lhe mostrar parte do que tenho contra você. Então você ficará sabendo com o que está lidando e não desperdiçará inteligência alegando inocência.
– Ficarei grata – sorriu ela. – Muito!
Apoiei a muleta entre um joelho e o braço da poltrona para deixar as mãos livres para enumerar os pontos nos dedos.
– Primeiro... quem quer que tenha planejado a ação conhecia a ilha... não apenas muito bem, mas cada centímetro dela. Não há por que discutir isso. Segundo... o carro em que a metralhadora foi instalada era propriedade local, roubado do dono aqui. Assim como o barco no qual os bandidos teriam supostamente fugido. Bandidos de fora teriam precisado de um carro ou um barco para trazer metralhadoras, explosivos e granadas, e não parece haver nenhum motivo pelo qual eles não poderiam ter usado o mesmo carro e o mesmo barco em vez de roubarem outros. Terceiro... não houve o menor sinal do toque do criminoso profissional nessa ação. Se você quer saber, foi uma ação militar do começo ao fim. E o pior ladrão de cofres do mundo teria aberto tanto o cofre do banco quanto o da joalheria sem destruir os prédios. Quarto... bandidos de fora não teriam destruído a ponte. Teriam-na deixado intacta para o caso de precisarem fugir naquela direção. Poderiam tê-la bloqueado, mas não a destruiriam. Quinto... bandidos que estivessem pensando numa fuga de barco teriam feito um trabalho rápido, sem estendê-lo por toda a noite. Foi feito barulho suficiente para acordar a Califórnia de Sacramento a Los Angeles. O que vocês fizeram foi mandar um homem no barco, atirando, e ele não foi muito longe. Assim que estava a uma distância segura, ele saltou e nadou de volta para a ilha. O grande Ignati faria isso sem estragar o penteado.
Isso esgotou a mão direita. Troquei, e passei a contar com a esquerda.
– Sexto... encontrei um do grupo de vocês, o rapaz, na praia, e ele estava vindo do barco. Ele sugeriu que nós o tomássemos. Atiraram na nossa direção, mas o homem atrás da arma estava brincando conosco. Poderia ter acabado conosco em um segundo se tivesse a intenção, mas atirou por cima das nossas cabeças. Sétimo... esse mesmo rapaz é o único homem da ilha, até onde eu sei, que viu os bandidos fugindo. Oitavo... todos de vocês com quem cruzei foram particularmente gentis comigo. O general chegou a passar uma hora conversando comigo na recepção, à tarde. Um claro traço de criminoso amador. Nono... depois que o carro da metralhadora foi destruído, persegui seu ocupante. Eu o perdi de vista perto desta casa. O garoto italiano que apanhei não era ele. Ele não teria conseguido subir até a trilha sem que eu o visse. Mas pode ter corrido até o lado da casa em que fica o general e desaparecido lá dentro. O general gostava dele, e o teria ajudado. Sei disso porque o general conseguiu o milagre completo de não acertá-lo com a espingarda a dois metros de distância. Décimo... você foi até a casa dos Hendrixson com o único objetivo de me tirar de lá.
Isso encerrou a mão esquerda. Voltei para a direita.
– Décimo primeiro... os dois criados dos Hendrixson foram mortos por alguém que conheciam e em quem confiavam. Ambos foram mortos de perto e sem disparar um tiro. Eu diria que você fez Oliver deixá-la entrar na casa e estava conversando com ele quando um dos seus homens cortou a garganta dele por trás. Então você subiu para o segundo andar e provavelmente matou você mesma o confiante Brophy. Ele não desconfiaria você. Décimo segundo... mas isso já deve bastar, e estou ficando sem voz de fazer a lista.
Ela tirou a mão do queixo, pegou um grosso cigarro branco de um estojinho preto e segurou-o com os lábios enquanto eu o acendia com um fósforo. Deu uma longa tragada – que consumiu um terço do cigarro – e soprou a fumaça em direção aos joelhos. Depois de fazer tudo isso, disse:
– Acho que bastaria, se não fosse pelo fato de que mesmo você sabe que tal envolvimento nos seria impossível. Você não nos viu, como todo mundo nos viu, o tempo todo, em todos os lugares?
– Isso é fácil! – argumentei. – Com duas metralhadoras, um carregamento de granadas, conhecendo a ilha de ponta a ponta, na escuridão, sob uma tempestade e contra civis desnorteados... foi sopa. Sei de nove de vocês, incluindo duas mulheres. Bastavam cinco para executar a ação, depois de iniciada, enquanto os outros se revezavam para aparecer aqui e ali, estabelecendo álibis. E foi o que vocês fizeram. Vocês se revezaram, escapulindo para montarem álibis para si próprios. Para onde quer que eu fosse, cruzava com um de vocês. E o general! Aquele velho bigodudo brincalhão, correndo de um lado para o outro conduzindo cidadãos comuns na batalha! Aposto que eles os liderou muito! Será muita sorte se houver algum deles vivo nesta manhã!
Ela terminou o cigarro com outra tragada, largou a ponta no tapete, apagou a chama com o pé, bufou, pôs as mãos nos quadris e perguntou:
– E agora?
– Agora quero saber onde vocês guardaram o que foi roubado.
A prontidão da resposta me surpreendeu.
– Debaixo da garagem, num porão que cavamos secretamente há alguns meses.
Claro que não acreditei nisso, mas a informação acabou se revelando verdadeira.
Não tinha mais nada a dizer. Quando comecei a mexer na muleta emprestada, preparando-me para me levantar, ela ergueu a mão e falou suavemente:
– Espere um instante, por favor. Tenho uma sugestão a fazer.
Meio de pé, inclinei-me em sua direção, estendendo uma mão até bem perto do lado do corpo dela.
– Eu quero a arma – disse eu.
Ela assentiu e sentou-se enquanto eu tirei a arma do seu bolso, pus em um dos meus e sentei-me novamente.
– Você disse há pouco que não se importava com quem eu era – começou ela imediatamente. – Mas quero que você saiba. Há tantos russos que algum dia foram alguém e agora não são ninguém que não vou entediá-lo com a repetição de uma história que o mundo já se cansou de ouvir. Mas você deve lembrar que essa velha história é real para nós, que fomos seus sujeitos. Entretanto, fugimos da Rússia com o que conseguimos carregar daquilo que possuíamos, o que felizmente foi suficiente para nos manter com razoável conforto por alguns anos.
“Em Londres, abrimos um restaurante russo, mas Londres ficou subitamente repleta de restaurantes russos, e o nosso se tornou, em vez de meio de vida, fonte de prejuízo. Tentamos ensinar música e línguas, e assim por diante. Em suma, tentamos todos os meios de sustento que outros exilados russos tentaram, de forma que sempre acabávamos em ramos saturados e, conseqüentemente, não lucrativos. Mas o que mais sabíamos... podíamos fazer?
“Prometi não entediá-lo. Bem, o nosso capital encolhia sem parar, e cada vez mais se aproximava o dia no qual ficaríamos miseráveis e famintos, o dia em que ficaríamos conhecidos dos leitores de seus jornais dominicais: faxineiras que haviam sido princesas, duques que agora eram mordomos. Não havia lugar no mundo para nós. Párias transformam-se facilmente em criminosos. Por que não? Poder-se-ia dizer que devíamos alguma lealdade ao mundo? O mundo não havia ficado parado, assistindo, enquanto éramos despojados de lugar, propriedade e pátria?
“Planejamos a ação antes de termos ouvido falar em Couffignal. Encontraríamos um pequeno povoado de pessoas ricas suficientemente isolado e, depois de nos estabelecermos no local, nós o saquearíamos. Quando encontramos Couffignal, pareceu-nos o lugar ideal. Alugamos esta casa por seis meses, tendo apenas o capital suficiente para isso e para viver adequadamente enquanto o plano amadurecia. Passamos quatro meses nos estabelecendo, reunindo as nossas armas e os nossos explosivos, mapeando a ofensiva, esperando por uma noite favorável. A noite passada pareceu ser tal noite, e acreditávamos que havíamos nos prevenido contra quaisquer imprevistos. Mas, claro, não havíamos nos prevenido contra a sua presença e o seu talento. Era simplesmente outro dos imprevisíveis infortúnios aos quais parecemos eternamente condenados.”
Ela parou e passou e a me examinar com grandes olhos pesarosos, que me deixaram inquieto.
– Não adianta me elogiar – protestei. – A verdade é que vocês estragaram tudo do princípio ao fim. O seu general arrancaria gargalhadas de um homem sem treinamento militar que tentasse liderar um exército. Mas aqui estão vocês, sem absolutamente nenhuma experiência criminosa, tentando aplicar um golpe que demandava o mais alto nível de habilidade criminosa. Olhe como todos vocês lidaram comigo! Coisa de amadores. Um criminoso profissional com o mínimo de inteligência teria me deixado em paz ou acabado comigo. Não é de se admirar que tenha fracassado! Quanto ao resto... os seus problemas... não posso fazer nada.
– Por quê? – perguntou ela bem baixinho. – Por que não?
– Por que deveria? – disse eu friamente.
– Ninguém mais sabe o que você sabe. – Ela se inclinou para pousar uma mão branca em meu joelho. – Há muita riqueza naquele porão debaixo da garagem. Você pode ficar com o que quiser.
Sacudi a cabeça.
– Você não é bobo! – protestou. – Você sabe...
– Deixe-me ser claro – interrompi. – Vamos desconsiderar qualquer honestidade que eu possa vir a ter, qualquer senso de lealdade em relação aos meus patrões e assim por diante. Talvez você duvide deles, então vamos esquecê-los. Agora, eu sou detetive porque gosto do trabalho. Recebo um salário justo, mas eu poderia encontrar empregos que me pagassem mais. Mesmo cem dólares a mais por mês seriam 1.200 dólares por ano. Entre 25 e 30 mil dólares entre hoje e o meu sexagésimo aniversário.
“Eu abro mão de 25 ou 30 mil dólares de dinheiro honesto porque gosto de ser detetive, gosto do trabalho. E gostar do trabalho faz com que eu o faça da melhor maneira possível. De outro modo, não faria sentido. Este é o meu problema. Eu não sei fazer mais nada, não gosto de mais nada, não quero saber nem gostar de mais nada. Não se pode pesar isso contra qualquer soma de dinheiro. Dinheiro é bom. Não tenho nada contra dinheiro. Mas nos últimos dezoito anos eu tenho me divertido perseguindo criminosos e solucionando enigmas, tirando a minha satisfação de apanhar criminosos e decifrar charadas. É o único tipo de esporte sobre o qual tenho algum conhecimento, e não posso imaginar um futuro mais agradável do que mais vinte e poucos anos disso. Não vou estragar isso!”
Ela sacudiu a cabeça lentamente, abaixando-a, de modo que seus olhos escuros se ergueram para mim sob os suaves arcos de suas sobrancelhas.
– Você só fala de dinheiro – disse ela. – Eu disse que você pode ficar com o que quiser.
Aquilo estava fora de cogitação. Não sei de onde essas mulheres tiram esse tipo de idéia.
– Você está completamente equivocada – disse eu, bruscamente, levantando-me e ajeitando a muleta emprestada. – Você está pensando que eu sou um homem, e você, uma mulher. Está errado. Eu sou um caçador de homens, e você é uma presa correndo à minha frente. Não há nada de humano nisso. Pode muito bem esperar que um cão de caça brinque com a raposa que apanhou. Estamos perdendo tempo, de qualquer maneira. Estou pensando que a polícia ou os Fuzileiros poderiam vir até aqui e me economizar uma caminhada. Você está esperando que o seu bando volte e me apanhe. Eu poderia ter lhe dito que eles estavam sendo presos quando os deixei.
Isso a abalou. Ela havia se levantado e agora deu um passo para trás, levando a mão para trás para se equilibrar apoiando-se na cadeira. Saiu de sua boca uma exclamação que não compreendi. Russo, pensei, mas, no instante seguinte, tive certeza de que tinha sido italiano.
– Ponha as mãos para cima. – Era a voz rouca de Flippo. Ele estava na porta, de pé, empunhando uma pistola automática.
Levantei as mãos o mais alto que pude sem derrubar a muleta que me dava sustentação enquanto me amaldiçoava por ter sido muito descuidado, ou muito vaidoso, de não ficar segurando uma arma enquanto conversava com a garota.
Então era por isso que ela havia voltado para a casa. Havia pensado que, se libertasse o italiano, não teríamos por que suspeitar que ele não estivera envolvido no roubo, e procuraríamos pelos bandidos entre os amigos dele. É claro que, como prisioneiro, poderia ter-nos convencido de sua inocência. Ela havia lhe dado a arma para que ele pudesse sair atirando ou ajudá-la igualmente matando-se na tentativa.
Enquanto eu organizava tais pensamentos, Flippo havia se aproximado de mim por trás. Passou a mão vazia pelo meu corpo, pegando a minha arma, a dele, e a que eu havia tirado da garota.
– Uma proposta, Flippo – disse eu, depois que ele havia se afastado de mim, ficando meio de lado, tornando-se um vértice de um triângulo que era completado pela garota e por mim. – Você está em liberdade condicional, ainda com alguns anos a cumprir. Eu o apanhei com uma arma. É o suficiente para mandá-lo de volta para a cadeia. Sei que você não estava envolvido nesta ação. Imagino que estivesse aqui para alguma coisa menor, de sua própria autoria, mas não tenho como provar isso e nem quero provar. Vá embora daqui, sozinho e neutro, e esquecerei que o vi.
Pequenas rugas de dúvida se formaram no rosto redondo e escuro do rapaz.
A princesa deu um passo em sua direção.
– Você ouviu a oferta que acabei de fazer a ele? – perguntou. – Bom, eu faço a mesma oferta a você, se você o matar.
As rugas de dúvida no rosto do rapaz se aprofundaram.
– Eis a sua escolha, Flippo – resumi para ele. – Tudo o que eu posso lhe dar é ficar livre de San Quentin. A princesa pode dar uma gorda fatia dos lucros de um golpe fracassado, com uma boa chance de você acabar enforcado.
Lembrando da vantagem que tinha sobre mim, a garota se aproximou dele falando com veemência em italiano, uma língua da qual eu só sei quatro palavras. Duas delas são profanas, e as outras duas, obscenas. Disse todas as quatro.
O garoto estava fraquejando. Se fosse dez anos mais velho, teria aceitado a minha oferta e me agradecido. Mas ele era jovem, e ela – agora que eu tinha parado para prestar atenção – era bonita. A resposta não foi difícil de adivinhar.
– Mas não para acabar com ele – disse ele a ela em inglês, para que eu entendesse. – Vamos trancá-lo lá onde eu estava.
Eu suspeitava que Flippo não tinha nada contra homicídios, só considerava esse desnecessário. A menos que estivesse brincando comigo para facilitar o assassinato.
A garota não gostou da sugestão dele e derramou mais italiano sobre ele. O jogo dela parecia infalível, mas tinha uma falha. Ela não conseguiu convencê-lo de que ele tinha boas chances de ficar com parte do produto do roubo. Dependia de seus encantos para enganá-lo. E isso queria dizer que ela precisava prender sua atenção.
Ele não estava longe de mim.
Ela se aproximou. Cantava, sussurrava e entoava sílabas em italiano diante do rosto redondo dele.
Conquistou-o.
Ela encolheu os ombros. Todo o rosto dele dizia sim. Ele se virou...
Atingi-o na cabeça com a muleta emprestada.
A muleta se partiu. Os joelhos de Flippo se dobraram, e ele caiu estatelado, de cara no chão. Ficou lá deitado, como morto, com uma fina minhoca de sangue rastejando de seu cabelo para o tapete.
Um passo, um tropeção, mais ou menos meio metro de gatinhas me levaram para perto da arma de Flippo.
Saltando para fora do meu caminho, a garota estava a meio caminho da porta quando me sentei com a arma na mão.
– Pare! – ordenei.
– Não! – disse ela, ainda que tenha parado, pelo menos por aquele instante. – Vou sair.
– Você vai sair quando eu levá-la para fora.
Ela riu, um riso agradável, baixo e confiante.
– Vou sair antes disso – insistiu ela, em tom afável.
Sacudi a cabeça.
– Como você pretende me impedir? – ela perguntou.
– Não acho que vá ser necessário – respondi. – Você tem juízo demais para tentar correr comigo apontando uma arma na sua direção.
Ela riu novamente, um riso divertido.
– Tenho juízo demais para ficar – corrigiu-me. – A sua muleta está quebrada, e você está mancando. Então não pode me pegar correndo atrás de mim. Você finge que é capaz de atirar em mim, mas não acredito em você. Atiraria em mim se eu o atacasse, é claro, mas não farei isso. Simplesmente sairei caminhando, e sabe que não irá atirar em mim por causa disso. Você gostaria de conseguir atirar, mas não vai conseguir. Você vai ver.
Virou o rosto por cima do ombro, com os olhos escuros cintilando para mim. Deu um passo na direção da porta.
– É melhor não contar com isso! – ameacei.
Em resposta, arrulhou. E deu mais um passo.
– Pare, sua idiota! – berrei.
Seu rosto ria para mim por cima do ombro. Ela caminhou sem pressa até a porta, com a saia curta de flanela cinza moldando-se às panturrilhas cobertas por meias cinzas a cada passo para frente.
O suor deixava a arma escorregadia na minha mão.
Quando seu pé direito alcançou a soleira da porta, sua garganta soltou um uma risadinha.
– Adieu! – disse ela, baixinho.
E eu meti uma bala em sua panturrilha esquerda.
Ela se sentou... tum! Seu rosto pálido estava todo tenso com uma expressão de absoluta surpresa. Era cedo demais para a dor.
Eu nunca havia atirado numa mulher antes. Fiquei me sentindo esquisito.
– Você deveria saber que eu seria capaz de fazer isto! – A minha voz me pareceu áspera e cruel, como a de um estranho. – Não fui capaz de roubar uma muleta de um aleijado?
Os Hambleton eram uma rica e decentemente proeminente família nova-iorquina havia muitas gerações. Não havia nada na história dos Hambleton que explicasse Sue, a mais jovem integrante do clã. Ela deixou a infância com uma distorção que a fazia não gostar do lado refinado da vida e apreciar as grosserias. Aos 21 anos, em 1926, definitivamente preferia a Tenth Avenue à Fifth, malandros a banqueiros e Hymie, o Rebitador, ao Honorável Cecil Windown, que a havia pedido em casamento.
Os Hambleton tentaram fazer com que Sue se comportasse, mas era tarde demais. Ela era legalmente maior de idade. Quando finalmente mandou-os para o inferno e foi embora de casa, não havia muito o que pudessem fazer a respeito. Seu pai, o Major Waldo Hambleton, havia perdido quaisquer esperanças de algum dia salvá-la, mas não queria que ela sofresse o que pudesse ser evitado. Então foi até a Agência de Detetives Continental, em Nova York, e pediu que ficassem de olho nela.
Hymie, o Rebitador, era um mafioso da Filadélfia que havia se mudado para a cidade grande com uma submetralhadora enrolada em papel impermeável quadriculado azul depois de um desentendimento com os sócios. Nova York não era um mercado tão bom como a Filadélfia para trabalhar com metralhadoras. A Thompson ficou ociosa por mais ou menos um ano, enquanto Hymie ganhava a vida com uma automática, aplicando golpes em jogos de dados no Harlem.
Três ou quatro meses depois que Sue foi viver com Hymie, ele fez o que pareceu uma ligação promissora com o primeiro da equipe que chegou a Nova York vindo de Chicago para organizar a cidade no mesmo esquema em vigor no Oeste. Mas os rapazes de Chicago não queriam Hymie; queriam a Thompson. Quando a mostrou, como sendo o principal trunfo em sua entrevista para emprego, eles fizeram buracos na cabeça de Hymie e foram embora com a arma.
Sue Hambleton enterrou Hymie, passou umas duas semanas solitárias, nas quais penhorou um anel para poder comer, e então arranjou um emprego como recepcionista num bar clandestino administrado por um grego chamado Vassos.
Um dos clientes de Vassos era Babe McLoor, mais de 120 quilos de ossos e músculos escoceses-irlandeses-indígenas, um gigante moreno que estava descansando depois de cumprir uma pena de quinze anos em Leavenworth por destruir a maioria das pequenas agências postais entre Nova Orleans e Omaha. Babe estava conseguindo dinheiro para beber atacando pedestres nas ruas escuras.
Babe gostava de Sue. Vassos gostava de Sue. Sue gostava de Babe. Vassos não gostava disso. O ciúme afetou a capacidade de julgamento do grego. Uma noite, deixou a porta do bar trancada para Babe não entrar. Babe entrou, trazendo pedaços da porta com ele. Vassos pegou a arma, mas não conseguiu se livrar de Sue, que segurava seu braço. Parou de tentar quando Babe o atingiu com o pedaço da porta com a maçaneta de metal. Babe e Sue foram embora do bar clandestino de Vassos juntos.
Até aquela altura, o escritório de Nova York havia conseguido manter contato com Sue. Ela não estava sendo mantida sob vigilância constante. O pai não quisera isso. Era apenas uma questão de mandar um homem dar uma olhada uma vez por semana, mais ou menos, para conferir se ela ainda estava viva e pegar quaisquer informações possíveis com amigos e vizinhos, sem, é claro, que ela soubesse que estava sendo vigiada. Tudo isso vinha sendo bem fácil, mas, quando ela e Babe foram embora depois de destruírem o bar, os dois desapareceram completamente.
Depois de revirar a cidade, o escritório de Nova York mandou um relatório sobre a tarefa às filiais da Continental espalhadas pelo país, passando as informações acima e incluindo fotografias e descrições de Sue e seu novo companheiro. Isso foi no final de 1927.
Tínhamos cópias suficientes das fotografias para levar aonde fôssemos, e durante o mês e pouco seguinte, quem tivesse algum tempo livre, dedicava-o a percorrer São Francisco e Oakland procurando pela dupla desaparecida. Nós não os encontramos. Detetives em outras cidades, fazendo a mesma coisa, tiveram a mesma sorte.
Então, quase um ano depois, recebemos um telegrama do escritório de Nova York. Depois de decifrado, ele dizia:
Major hambleton recebeu hoje telegrama da filha em sao francisco aspas favor enviar mil dolares para apartamento duzentos seis numero seiscentos um eddis street pt volto para casa se deixar pt por favor diga se posso voltar mas por favor por favor mande dinheiro mesmo assim fecha aspas hambleton autoriza pagamento de dinheiro a ela imediatamente pt orientar detetive competente a procura-la com dinheiro e a planejar sua volta para casa pt se possivel enviar detetive homem e mulher como companhia ate aqui pt hambleton esta enviando dinheiro pt fazer relatorio imediatamente por telegrama pt
O Velho me deu o telegrama e um cheque e disse:
– Você conhece esse tipo de situação. Sabe como lidar com isso.
Fingi concordar com ele, desci até o banco, troquei o cheque por um maço de notas de diferentes valores, peguei um bonde e fui até o número 601 da Eddis Street, um prédio de apartamentos relativamente grande na esquina da Larkin.
O nome na caixa de correio do apartamento 206 no vestíbulo era J. M. Wales.
Apertei o botão do 206. Quando a porta se abriu com um zumbido, entrei no prédio, passei pelo elevador e subi um andar pelas escadas. O 206 era logo depois da escada.
A porta do apartamento foi aberta por um homem alto e magro de trinta e poucos anos vestindo peças elegantes de roupa escura. Tinha olhos escuros e estreitos num rosto longo e pálido. Alguns fios grisalhos apareciam no cabelo escuro penteado rente ao couro cabeludo.
– A srta. Hambleton – eu disse.
– Ahn... o que tem ela? – sua voz era suave, mas não a ponto de ser agradável.
– Gostaria de falar com ela.
Suas pálpebras superiores baixaram um pouco, e as sobrancelhas se aproximaram.
– Tem...? – começou ele, parando em seguida, olhando fixamente para mim.
Eu não disse nada. De repente, ele terminou a pergunta:
– ... alguma coisa a ver com um telegrama?
– Sim.
Seu rosto longo iluminou-se imediatamente. Ele perguntou:
– Você foi enviado pelo pai dela?
– Sim.
Ele deu um passo para trás e escancarou a porta, dizendo:
– Entre. Ela recebeu o telegrama do Major Hambleton há poucos minutos. Ele disse que alguém iria procurá-la.
Passamos por um pequeno corredor até uma sala de estar ensolarada decorada com móveis ordinários, mas limpa e organizada.
– Sente-se – disse o homem, apontando para uma cadeira de balanço marrom.
Sentei-me. Ele se sentou no sofá forrado de juta na minha frente. Olhei ao redor. Não vi nenhum sinal de que uma mulher morava ali.
Ele esfregou o nariz comprido com um indicador ainda mais longo e perguntou lentamente:
– Você trouxe o dinheiro?
Respondi que preferia falar com ela junto.
Ele olhou para o dedo que estava esfregando no nariz e então olhou para mim. Disse baixinho:
– Mas eu sou amigo dela.
– Ah, é? – foi a minha resposta a essa observação.
– É – repetiu ele, franzindo a testa levemente e repuxando os cantos da boca de lábios finos. – Só perguntei se você trouxe o dinheiro.
Não respondi nada.
– A questão é – disse ele, bastante razoavelmente – que se você trouxe o dinheiro, ela não espera que ele seja entregue a ninguém além dela própria. Se não trouxe, ela não quer vê-lo. Não acho que possa mudar de idéia quanto a isso. Por isso perguntei se você o trouxe.
– Eu trouxe.
Ele me olhou com ar de dúvida. Mostrei-lhe o dinheiro que havia sacado no banco. Ele saltou rapidamente do sofá.
– Voltarei com ela em dois minutos – disse ele por cima do ombro dando passos largos com suas pernas compridas em direção à porta. Na porta, parou para perguntar: – Você a conhece? Ou devo pedir que ela traga algum tipo de identificação.
– Isso seria melhor – respondi.
Ele saiu, deixando a porta do corredor aberta.
Em cinco minutos, estava de volta com uma garota loira e esguia de 23 anos vestindo uma roupa de seda verde clara. O relaxamento de sua boca pequena e o inchaço ao redor dos olhos azuis ainda não estavam suficientemente pronunciados para estragar sua beleza.
Levantei-me.
– Esta é a srta. Hambleton – disse ele.
Ela me olhou rapidamente e voltou a abaixar os olhos, mexendo com nervosismo na alça da bolsa que carregava.
– Você pode se identificar? – perguntei.
– É claro – disse o homem. – Mostre a ele, Sue.
Ela abriu a bolsa e tirou alguns papéis e outras coisas e estendeu para mim.
– Sente-se, sente-se – disse ele quando eu os apanhei.
Os dois se sentaram no sofá. Voltei a me sentar na cadeira de balanço e examinei o que ela havia me entregue. Havia duas cartas endereçadas a Sue Hambleton, o telegrama de seu pai dizendo que era bem-vinda de volta, dois recibos de contas de uma loja de departamentos, uma carteira de motorista e uma caderneta de poupança que indicava um saldo de menos de dez dólares.
Quando acabei de examinar tudo aquilo, o constrangimento da moça havia desaparecido. Ela me olhava indiferente, assim como o homem ao seu lado. Enfiei a mão no bolso e encontrei a minha cópia da foto que havia sido enviada pelo escritório de Nova York no começo da caçada e comparei-a com ela.
– A sua boca poderia ter encolhido, talvez – disse eu. – Mas como pode o seu nariz ter ficado tão maior?
– Se você não gosta do meu nariz, que tal ir para o inferno? – disse ela. Seu rosto estava vermelho.
– Não é isso. Seu nariz é bonito, mas não é o de Sue. – Entreguei-lhe a fotografia. – Olhe você mesma.
Ela olhou para a fotografia e então para o homem.
– Como você é inteligente – disse a ele.
Ele estava me observando com olhos escuros que tinham um suave brilho por entre os cílios semicerrados. Seguiu olhando para mim enquanto falava com ela com o canto da boca, em tom áspero.
– Feche a matraca.
Ela fechou. Ele continuou sentado e ficou me olhando. Eu continuei sentado e fiquei olhando para ele. Um relógio batia os segundos atrás de mim. Os olhos dele começaram a desviar o foco de um dos meus olhos para o outro. A garota suspirou.
Ele disse em voz baixa:
– E então?
– Você está num buraco – disse eu.
– O que você pode fazer com isso? – perguntou ele, em tom casual.
– Conspiração para cometer fraude.
A garota deu um salto e bateu no ombro dele irritada com as costas da mão, gritando:
– Como você é inteligente, fazendo com que eu seja envolvida numa confusão dessas. Ia ser sopa... tá bom! Uma moleza... tá bom! Agora olhe para você. Não tem nem coragem suficiente para mandar esse cara se catar.
Ela girou para me encarar, aproximando o rosto vermelho de mim – que ainda estava sentado na cadeira de balanço – rosnando:
– E então, o que você está esperando? Um beijo de despedida? Não devemos nada a você, não é? Não pegamos nada do seu maldito dinheiro, não foi? Para fora, então. Se manda. Chispa.
– Pode parar, irmãzinha – rosnei. – Vocês vão pegar alguma coisa.
O homem interferiu:
– Pelo amor de Deus, pare com esse berreiro, Peggy, e dê uma chance a alguém. – Virou-se a mim: – E então? O que você quer?
– Como vocês se envolveram nisso? – perguntei.
Ele falou rápido, ansiosamente:
– Um sujeito chamado Kenny me deu essas coisas e me falou sobre essa Sue Hambleton e sobre o pai dela ser milionário. Pensei em fazer uma experiência. Imaginei que ou o velho mandaria a grana imediatamente, ou não mandaria nada. Não pensei nessa coisa de enviar alguém. Daí, quando chegou esse telegrama dizendo que ele enviaria um homem para vê-la, eu deveria ter desistido.
“Mas, que diabos! Tinha um homem vindo para cá com mil dólares em dinheiro. Era bom demais para desistir sem tentar. Parecia que ainda haveria uma chance de conseguir, e eu chamei a Peggy para ser a minha Sue. Se o homem estava vindo hoje, era certo que era alguém da Costa Oeste, e eram grandes as chances de que não conheceria a Sue, que teria apenas uma descrição. Pelo que o Kenny me disse, pensei que a Peggy estava muito perto de combinar com essa descrição. Ainda não entendo como você tem essa fotografia. Só telegrafei para o velho ontem, para que tivéssemos as outras identificações para pegar o dinheiro na empresa de telégrafos.”
– Foi o Kenny quem lhe deu o endereço do velho?
– Claro que foi.
– E o endereço da Sue?
– Não.
– Como foi que o Kenny conseguiu essas coisas?
– Ele não disse.
– Onde está ele agora?
– Não sei. Ele estava partindo para o Leste com outra coisa preparada e não podia perder tempo com esse caso. Foi por isso que passou tudo para mim.
– Generoso esse Kenny. Você conhece a Sue Hambleton? – perguntei.
– Não – disse ele, enfaticamente. – Nunca sequer tinha ouvido falar nela antes do Kenny.
– Não estou gostando deste Kenny, embora sem ele a sua história tenha alguns pontos interessantes – eu disse. – Você poderia contá-la deixando-o de fora?
Ele sacudiu a cabeça de um lado para o outro, dizendo.
– Não seria como as coisas aconteceram.
– É uma pena. Conspirações para cometer fraudes não significam tanto para mim como encontrar a Sue. Eu poderia ter feito um acordo com você.
Ele sacudiu a cabeça novamente, mas seus olhos estavam pensativos, e o passou lábio inferior por cima do superior.
A garota havia recuado um passo para nos ver conversando, virando o rosto de um para o outro enquanto falávamos, demonstrando que não gostava de nenhum de nós. Agora havia fixado o olhar sobre o homem, e seus olhos estavam ficando com raiva novamente.
Levantei-me e disse a ele:
– Você que sabe. Mas, se quiser fazer as coisas assim, terei de prender vocês dois.
Ele sorriu com os lábios apertados e se levantou.
A garota se jogou entre nós dois, encarando-o.
– É um belo momento para ficar de boca fechada – disse, cuspindo nele. – Fale logo, seu bolha, ou eu farei isso. Você está maluco de pensar que vou me estrepar junto com você.
– Cale a boca – disse ele num tom gutural.
– Venha me calar – gritou ela.
Ele tentou, com as duas mãos. Passei a mão por cima dos ombros dela, segurei um dos pulsos dele e desviei a outra mão.
Ela se esgueirou por entre nós dois e correu para trás de mim, gritando:
– O Joe conhece ela. Foi com ela que conseguiu as coisas. Ela está no St. Martin da O’Farrell Street. Ela e Babe McCloor.
Enquanto ouvia isso, tive de virar a cabeça para o lado para desviar do gancho de direita de Joe, prender seu braço esquerdo atrás do corpo, virar o quadril para pegá-lo no joelho e segurar seu queixo com a palma da mão esquerda. Estava prestes a dar uma torcida japonesa em seu queixo quando ele parou de lutar e grunhiu:
– Eu conto.
– Pode começar – consenti, tirando as mãos de cima dele e recuando.
Ele ficou esfregando o pulso que eu havia apertado, fazendo cara feia para a garota. Ele a chamou de quatro coisas desagradáveis, sendo que a mais suave foi “cretina” e lhe disse:
– Ele estava blefando quanto a nos mandar para a cadeia. Você não acha que o velho Hambleton está querendo aparecer no jornal, acha?
Não foi uma conclusão ruim.
Sentou-se novamente no sofá, ainda esfregando o pulso. A garota ficou do outro lado da sala, rindo entredentes.
– Muito bem, vamos lá, um de vocês – eu disse.
– Você já sabe de tudo – resmungou ele. – Eu pensei em tudo aquilo na semana passada, numa visita ao Babe. Eu sabia da história e estava detestando ver uma oportunidade promissora daquelas sendo desperdiçada.
– O que o Babe está fazendo agora? – perguntei.
– Não sei.
– Ainda está aplicando golpes?
– Não sei.
– Uma ova que não sabe.
– Eu não sei – insistiu. – Se você conhece Babe, sabe que ninguém consegue saber o que ele está fazendo.
– Há quanto tempo ele e a Sue estão aqui?
– Há mais ou menos seis meses, que eu saiba.
– Com quem ele está mancomunado?
– Não sei. Sempre que o Babe trabalha com um bando, ele os apanha no meio do caminho e os deixa no meio do caminho.
– Como ele está se mantendo?
– Não sei. Sempre tem bastante comida e bebida na casa dele.
Depois de meia hora disso, fiquei convencido de que não conseguiria muito mais informações daqueles dois.
Fui até o telefone no corredor e liguei para a Agência. O garoto na mesa telefônica me disse que MacMan estava na sala dos detetives. Pedi que ele viesse me encontrar e voltei para a sala. Joe e Peggy se afastaram quando cheguei.
MacMan chegou em menos de dez minutos. Deixei-o entrar e lhe disse:
– Este sujeito diz que se chama Joe Wales, e a garota é para ser Peggy Carroll, que mora no andar de cima, no 421. Nós os pegamos por conspiração para cometer fraude, mas fizemos um acordo. Vou sair para checar o que eles me disseram. Fique aqui com eles, nesta sala. Ninguém entra, e ninguém sai. E ninguém além de você tem acesso ao telefone. Há uma saída de incêndio na janela. A janela está trancada. Eu a deixaria assim. Se tudo terminar bem, nós os liberamos, mas se eles tentarem alguma coisa enquanto eu não estiver aqui, não há por que não bater o quanto quiser neles.
MacMan assentiu com a cabeça redonda e empurrou uma cadeira entre eles e a porta. Peguei meu chapéu.
– Ei, você não vai me dedurar para o Babe, vai? – perguntou Joe Wales. – Isso precisa fazer parte do acordo.
– Só se precisar.
– Daí prefiro ser preso – respondeu ele. – Seria mais seguro na cadeia.
– Farei o possível – prometi. – Mas você vai ter que arcar com as conseqüências.
Caminhando até St. Martin – a meia dúzia de quadras do apartamento de Wales –, resolvi aparecer diante de McCloor e da garota como sendo um detetive da Continental que suspeitava que Babe estivesse envolvido no roubo de uma agência bancária na Alameda na semana anterior. Ele não estava envolvido – se a descrição feita pelos funcionários do banco dos homens que os roubaram estivesse minimamente correta –, de modo que era pouco provável que as minhas supostas suspeitas o assustassem. Ao tentar se inocentar, ele poderia me dar alguma informação que eu pudesse usar. A minha intenção principal, é claro, era dar uma olhada na garota para relatar ao pai dela que eu a havia visto. Não havia por que deixar que ela e Babe soubessem que seu pai estava tentando ficar de olho nela. Babe tinha ficha na polícia. Era natural que aparecessem detetives de vez em quando para tentar acusá-lo de alguma coisa.
O St. Martin era um pequeno edifício de apartamentos de tijolos à vista, com três andares, localizado entre dois hotéis mais altos. A lista do vestíbulo mostrava R. K. McCloor, 313, como Wales e Peggy haviam me dito.
Apertei a campainha. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada nas quatro vezes em que apertei a campainha. Apertei o botão que dizia ADMINISTRAÇÃO.
A porta se abriu. Entrei no prédio. Uma mulher carnuda num vestido de listras cor-de-rosa amassado estava de pé numa porta logo depois da porta da rua.
– Tem uns McCloor morando aqui? – perguntei.
– No 313 – ela disse.
– Faz tempo?
Ela apertou os lábios gordos, olhou atentamente para mim, hesitou, mas finalmente respondeu:
– Desde junho passado.
– O que você sabe sobre eles?
Diante dessa pergunta, ela hesitou, erguendo o queixo e as sobrancelhas.
Dei-lhe meu cartão. Era seguro, já que estava de acordo com a desculpa que eu pretendia usar lá em cima.
Quando ergueu o olhar do cartão, estava com o rosto oleoso de curiosidade.
– Entre aqui – disse ela, num sussurro rouco, andando de costas para dentro do apartamento.
Segui-a para dentro. Sentamo-nos num sofá estofado, e ela sussurrou:
– O que houve?
– Talvez nada – mantive a voz baixa, entrando no teatro dela. – Ele esteve preso por arrombamento de cofres. Estou tentando falar com ele na eventualidade de que possa estar ligado a uma ação recente. Não sei se ele estava ligado. Pode ter se endireitado, até onde sei. – Tirei seu retrato, de frente e de perfil, tirado em Leavenworth, do bolso. – É ele?
Ela observou as fotografias ansiosamente, acenou com a cabeça e disse:
– Sim, é ele, com certeza – virou o retrato para ler a descrição nas costas e repetiu: – Sim, é ele, com certeza.
– A mulher está aqui com ele? – perguntei.
Ela assentiu vigorosamente.
– Não a conheço – eu disse. – Como é a aparência dela?
A mulher descreveu uma garota que poderia ser Sue Hambleton. Eu não podia mostrar a foto de Sue. Isso teria me exposto se ela e Babe ficassem sabendo.
Perguntei o que ela sabia sobre os McCloor. O que sabia não era muita coisa: pagavam o aluguel em dia, tinham horários irregulares, faziam festas com bebida de vez em quando e brigavam muito.
– Acha que eles estão em casa agora? – perguntei. – Ninguém atendeu à campainha.
– Não sei – ela sussurrou. – Não vi nenhum dos dois desde a noite retrasada, quando tiveram uma briga.
– Briga feia?
– Nada pior do que o de costume.
– Você pode descobrir se eles estão? – perguntei.
Ela me olhou com o canto dos olhos.
– Não vou causar nenhum problema a você – garanti. – Mas gostaria de saber se eles foram embora, e imagino que você também.
– Tudo bem, vou descobrir. – Ela se levantou, batendo com a mão no bolso em que tiniam as chaves. – Espere aqui.
– Irei até o terceiro andar com você – eu disse. – E ficarei esperando fora de vista.
– Tudo bem – disse ela, relutante.
No terceiro andar, fiquei perto do elevador. Ela desapareceu num canto do corredor mal iluminado. Em seguida, ouvi o som abafado de uma campainha elétrica. A campainha tocou três vezes. Ouvi as chaves tilintarem, e uma delas entrar numa fechadura. A tranca fez um clique. Ouvi a maçaneta fazer barulho ao ser girada.
Então um longo instante de silêncio se encerrou com um grito que preencheu o corredor de uma ponta a outra.
Saltei até o canto, virei, vi a porta aberta, entrei e bati a porta atrás de mim.
O grito parou.
Eu estava num pequeno vestíbulo escuro com três portas além daquela pela qual havia entrado. Uma estava fechada. Outra dava para um banheiro. Entrei na terceira.
A gorda estava de pé lá dentro com as costas redondas viradas para mim. Passei por ela e vi o que ela estava olhando.
Sue Hambleton, vestindo um pijama amarelo claro com renda preta, estava deitada na cama na diagonal. Estava de costas, com os braços esticados por cima da cabeça. Uma das pernas estava dobrada sob seu corpo e a outra, esticada, de modo que tinha um pé descalço apoiado no chão. Esse pé estava mais branco do que um pé vivo poderia estar. O rosto estava tão branco como o pé, exceto por uma área manchada e inchada que ia da sobrancelha direita à maçã do rosto direita e manchas escuras na garganta.
– Ligue para a polícia – eu disse à mulher e comecei a espiar nos cantos, nos armários e nas gavetas.
Era fim de tarde quando voltei à Agência. Pedi que o arquivista conferisse se havia alguma coisa contra Joe Wales e Peggy Carroll e fui até o escritório do Velho.
Ele largou os relatórios que estava lendo, fez um sinal com a cabeça para que eu me sentasse e perguntou:
– Você a viu?
– Vi. Ela está morta.
– De fato – disse o Velho, como se eu tivesse dito que estava chovendo, e sorriu com atenção cortês enquanto eu lhe falava sobre o que havia acontecido, desde o instante em que toquei na campainha de Wales até me encontrar com a senhora gorda no apartamento da garota morta.
– Ela havia apanhado bastante, estava machucada no rosto e no pescoço – concluí. – Mas não foi o que a matou.
– Você acha que ela foi assassinada? – perguntou, ainda sorrindo delicadamente.
– Não sei. O dr. Jordan acha que pode ter sido arsênico. Está procurando pelo veneno no corpo dela. Achamos uma coisa engraçada no lugar. Havia umas folhas grossas de papel cinza-escuro presas num livro, O conde de Monte Cristo, enrolado num jornal de um mês atrás e socado num canto escuro entre o fogão e a parede da cozinha.
– Ah, papel mata-moscas com arsênico – murmurou o Velho. – O truque Maybrick-Seddons. Amassando o papel na água, é possível tirar de quatro a seis grãos de arsênico de uma folha. É o suficiente para matar duas pessoas.
Assenti, dizendo:
– Trabalhei com um caso desses em Louisville, em 1916. O zelador mulato viu McCloor saindo às nove e meia da manhã de ontem. Ela provavelmente já estava morta antes disso. Ninguém mais o viu desde então. Mais cedo, o pessoal do apartamento do lado tinha ouvido os dois conversando. Ela estava gemendo. Mas eles já tinham tido muitas brigas para que os vizinhos dessem alguma atenção a isso. A senhoria me disse que os dois tinham brigado na noite anterior. A polícia está atrás dele.
– Você contou à polícia quem ela era?
– Não. O que devemos fazer a esse respeito? Não podemos falar sobre Wales sem contar tudo.
– Atrevo-me a dizer que tudo terá de ser revelado – disse ele, pensativo. – Vou entrar em contato com Nova York.
Saí da sala dele. O arquivista me entregou dois recortes de jornais. O primeiro dizia que há quinze meses Joseph Wales, também conhecido como Joe “Santo”, havia sido preso devido à queixa de um fazendeiro chamado Tooney, de quem ele havia tomado 2.500 dólares numa “oportunidade de negócio” falsa feita por Wales e três outros homens. O segundo recorte dizia que o caso havia sido extinto quando Tooney deixou de comparecer à Justiça contra Wales – comprado, como é o costume, pela devolução de parte ou de todo o seu dinheiro. Era tudo o que tínhamos sobre Wales, e não havia nada sobre Peggy Carroll.
MacMan abriu a porta para mim quando voltei para o apartamento de Wales.
– Alguma novidade? – perguntei.
– Nada, exceto pelo fato de que os dois não param de reclamar.
Wales aproximou-se, perguntando ansiosamente:
– Satisfeito agora?
A garota estava de pé perto da janela, olhando para mim com olhos ansiosos.
Fiquei em silêncio.
– Você a encontrou? – perguntou Wales, franzindo a testa. – Ela estava onde eu disse que estaria?
– Estava – respondi.
– Então – parte do franzido em sua testa se desmanchou –, isso exclui a mim e a Peggy, não... – Parou, passou a língua pelo lábio inferior, pôs a mão no queixo e perguntou em tom áspero: – Você não me dedurou, dedurou?
Sacudi a cabeça negativamente.
Ele tirou a mão do queixo e perguntou irritado:
– Então qual é o problema com você? Por que está com essa cara?
Atrás dele, a garota disse, em tom azedo:
– Eu sabia muito bem que ia ser assim. Sabia muito bem que a gente não ia se safar. Ah, como você é esperto!
– Leve a Peggy para a cozinha e feche as duas portas – eu disse a MacMan. – O “Santo” e eu vamos ter uma conversa sincera de verdade.
A garota saiu de boa vontade, mas quando MacMan estava fechando a porta, botou a cabeça para dentro da sala de novo para dizer a Wales:
– Espero que ele quebre o seu nariz se você tentar esconder alguma coisa.
MacMan fechou a porta.
– A sua parceira parece achar que você sabe de alguma coisa – disse eu.
Wales fez cara feia em direção à porta e resmungou:
– Ela me ajuda tanto quanto uma perna quebrada. – Virou-se para mim tentando parecer sincero e amigável. – O que você quer? Fui sincero com você antes. Qual é o problema agora?
– O que você acha?
Ele segurou os lábios entre os dentes.
– Por que você quer me fazer adivinhar? – perguntou. – Estou disposto a colaborar, mas o que posso fazer se você não me diz o que quer? Não consigo ver dentro da sua cabeça.
– Você iria se divertir muito, se pudesse.
Ele sacudiu a cabeça com ar de cansaço e voltou para o sofá, sentando-se inclinado para frente com as mãos unidas entre os joelhos.
– Tudo bem – suspirou. – Pode levar o quanto quiser para fazer as perguntas. Eu espero.
Aproximei-me e sentei-me na frente dele. Segurei seu queixo com o polegar e os dedos esquerdos, levantando a cabeça dele e abaixando a minha até quase tocarmos o nariz de um no outro. Eu disse:
– Você se deu mal, Joe, ao mandar o telegrama logo depois do assassinato.
– Ele está morto? – A frase saiu antes que seus olhos tivessem tempo de se arregalarem.
A pergunta me surpreendeu. Tive de fazer força para evitar que a minha testa se franzisse e pus muita calma na voz quando perguntei.
– Quem está morto?
– Quem? Como eu vou saber? Quem você quer dizer?
– Quem você acha que eu quis dizer? – insisti.
– Como eu vou saber? Ah, está certo! O velho Hambleton, o pai de Sue.
– Isso mesmo – disse eu, tirando a mão do queixo dele.
– E você disse que ele foi assassinado? – Ele não havia movido o rosto um centímetro da posição na qual eu o havia colocado. – Como?
– Papel mata-moscas com arsênico.
– Papel mata-moscas com arsênico. – Ele pareceu pensativo. – Essa é engraçada.
– É, muito engraçada. Onde você iria para comprar um pouco se quisesse?
– Comprar um pouco? Não sei. Não vejo isso desde que era criança. Ninguém usa papel mata-moscas aqui em São Francisco mesmo. Não há muitas moscas.
– Alguém usou aqui – eu disse. – Com Sue.
– Sue? – Ele deu um salto que fez o sofá ranger.
– É. Assassinada ontem de manhã... papel mata-moscas com arsênico.
– Os dois? – perguntou ele, incrédulo.
– Os dois quem?
– Ela e o pai.
– É.
Ele abaixou o queixo até o peito e esfregou as costas de uma mão com a palma da outra.
– Então estou num buraco – disse ele, lentamente.
– É isso – concordei alegremente. – Quer tentar falar para sair dessa?
– Deixe-me pensar.
Deixei-o pensar, ouvindo o relógio tocando enquanto ele pensava. Pensar fez gotas de suor escorrer em seu rosto acinzentado. De repente, ele se endireitou no sofá e secou o rosto com um lenço muito colorido.
– Vou falar – disse ele. – Preciso falar agora. A Sue estava se preparando para dar o fora no Babe. Ela e eu iríamos embora. Ela... Aqui, vou lhe mostrar.
Enfiou a mão no bolso e me entregou um pedaço de papel dobrado. Peguei-o e li:
Querido Joe:
Não vou suportar isso por muito mais tempo. Simplesmente precisamos ir logo. O Babe bateu em mim de novo esta noite. Por favor, se você realmente me ama, vamos fazer isso logo.
Sue
A caligrafia era de uma mulher nervosa: alta, angulosa e apressada.
– Foi por isso que tentei conseguir o dinheiro de Hambleton – disse ele. – Estou com muita dificuldade há uns dois meses, e quando este bilhete chegou ontem, eu simplesmente tinha que arranjar alguma grana, de algum jeito, para levá-la embora. Mas ela não queria apelar para o pai, de forma que eu tentei dar o golpe sem que ela soubesse.
– Quando você a viu pela última vez?
– Anteontem, o dia em que ela postou o bilhete. Só que eu a vi à tarde, ela esteve aqui, e ela escreveu o bilhete à noite.
– O Babe suspeitava do que vocês estavam tramando?
– Nós achávamos que não. Não sei. Ele tinha um ciúme dos infernos o tempo todo, com ou sem motivo.
– Quanto de motivo ele tinha?
Wales me encarou nos olhos e disse:
– A Sue era uma boa garota.
– Bom, ela foi assassinada – repliquei.
Ele não disse nada.
Estava anoitecendo. Fui até a porta e apertei o interruptor de luz. Não perdi o “Santo” Joe Wales de vista enquanto fazia isso.
Quando tirei o dedo do interruptor, alguma coisa fez clique na janela. Foi um clique alto e agudo.
Olhei para a janela.
Havia um homem agachado na saída de incêndio, olhando através do vidro e da cortina de renda. Era um homem moreno e corpulento, cujo tamanho o identificava como sendo Babe McCloor. O cano de uma grande pistola automática tocava o vidro diante dele. Ele havia batido no vidro com o cano para chamar a nossa atenção.
Havia conseguido a nossa atenção.
Não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento. Fiquei parado, olhando para ele. Não dava para saber se ele estava olhando para mim ou para Wales. Eu podia vê-lo claramente, mas a cortina de renda prejudicava a minha visão de detalhes assim. Imaginei que ele não estava descuidando de nenhum de nós dois, e acho que a cortina de renda não escondia muita coisa dele. Ele estava mais perto da cortina do que nós, e eu havia acendido as luzes da sala.
Sentado absolutamente imóvel no sofá, Wales estava olhando para McCloor. Seu rosto tinha uma expressão peculiar, rigidamente melancólica. Seu olhar estava sombrio. Ele não estava respirando.
McCloor roçou o cano da pistola contra a janela, e um pedaço triangular de vidro caiu, despedaçando-se no chão. Infelizmente, acho que não fez barulho suficiente para chamar a atenção de MacMan na cozinha. Havia duas portas fechadas entre um ambiente e outro.
Wales olhou para o vidro quebrado e fechou os olhos. Fechou-os lentamente, aos pouquinhos, exatamente como se estivesse caindo no sono. Manteve seu rosto rigidamente melancólico e sombrio virado diretamente para a janela.
McCloor atirou três vezes nele.
As balas derrubaram Wales no sofá, contra a parede. Os olhos dele se esbugalharam. Os lábios crisparam-se por cima dos dentes, deixando entrever até as gengivas. A língua saiu da boca. Então a cabeça caiu, e ele não se mexeu mais.
Quando McCloor saltou para longe da janela, eu saltei na direção dela. Enquanto eu empurrava a cortina, destravava e abria a janela, ouvi seus pés baterem na calçada de cimento abaixo.
MacMan escancarou a porta e entrou, com a garota logo atrás.
– Tome conta disso – ordenei, enquanto saltava o parapeito. – McCloor o matou.
O apartamento de Wales ficava no segundo andar. A saída de incêndio terminava ali, com uma escada de ferro com contrapeso que o peso de um homem podia baixar até um pátio cimentado.
Desci da mesma foram que Babe McCloor havia descido: balançando-me na escada até estar bem perto do chão e saltando.
Havia só uma saída para a rua, e eu segui por ela.
Quando saí para a rua, um homenzinho espantado estava parado no meio da calçada perto do pátio, olhando espantado para mim.
Agarrei seu braço e o sacudi:
– Um cara grandalhão, correndo. – Talvez eu tenha gritado. – Onde?
Ele tentou dizer alguma coisa, não conseguiu, e acenou com o braço para uns outdoors diante de um terreno baldio do outro lado da rua.
Na pressa, esqueci de agradecer.
Cheguei à parte de trás dos outdoors rastejando por baixo deles em vez de passar por um dos lados, onde havia aberturas. O terreno era grande e com mato suficiente para servir de esconderijo a qualquer um que quisesse se deitar e enganar um perseguidor – mesmo alguém tão grande como Babe McCloor.
Enquanto pensava nisso, ouvi um cão latindo num dos cantos do terreno. Ele podia estar latindo para um homem que tivesse passado correndo. Corri até aquele canto. O cachorro estava num pátio cercado, na esquina de um beco estreito que ia do terreno até outra rua.
Ergui-me na cerca até a altura do queixo, vi um terrier pêlo de arame sozinho no jardim e corri pelo beco enquanto ele protegia a minha parte da cerca.
Pus a arma de novo no bolso antes de chegar à rua.
Um pequeno carro conversível estava estacionado em frente a uma tabacaria a mais ou menos cinco metros do beco. Um policial conversava com um homem magro e moreno na porta da tabacaria.
– O cara grandalhão que saiu daquele beco há um minuto – eu disse. – Aonde ele foi?
O policial pareceu atônito. O homem acenou com a cabeça para a rua, disse “Por ali” e continuou conversando.
Eu disse “Obrigado” e segui até a esquina. Havia um ponto de táxi e dois táxis parados. A uma quadra e meia abaixo, um bonde se afastava.
– O cara grandalhão que passou por aqui há um minuto pegou um táxi ou o bonde? – perguntei aos dois taxistas que estavam apoiados num dos carros.
– Ele não pegou um táxi – disse o sujeito com cara de rato.
– Eu vou pegar um. Alcance o bonde para mim – disse eu.
O bonde estava a três quadras de distância quando começamos a andar. A rua estava movimentada demais para que eu pudesse ver quem subia e descia do bonde. Alcançamos o vagão quando ele parou na Market Street.
– Siga junto – disse ao taxista quando saltei.
Na plataforma traseira do bonde olhei pelo vidro. Havia apenas oito ou dez pessoas a bordo.
– Teve um sujeito grandalhão que embarcou na Hyde Street. Onde ele desceu? – perguntei ao condutor.
O condutor olhou para a moeda que eu estava segurando e lembrou que o homem grandalhão desceu na Taylor Street. Isso lhe garantiu a moeda.
Desci assim que o bonde virou na Market Street. O táxi, que vinha logo atrás, diminuiu a velocidade, e a porta se abriu.
– Sexta com Mission – eu disse ao entrar.
McCloor poderia ter ido para qualquer lugar da Taylor. Eu precisava adivinhar. A melhor aposta parecia ser que ele tentaria chegar ao outro lado da Market.
A essa altura já estava bem escuro. Tivemos de ir até a Quinta Avenida para passar pela Market, seguir até a Mission e subir de volta para a Sexta. Chegamos à Sexta sem ver McCloor. Não o vi na Sexta – em nenhum dos lados.
– Vamos até a Nona – ordenei. Enquanto seguíamos, eu disse ao taxista que tipo de homem estava procurando.
Chegamos à Nona. Nada de McCloor. Xinguei e pus a cabeça para funcionar.
O homenzarrão era um criminoso. Para ele, São Francisco estava pegando fogo. O instinto do criminoso seria usar uma distração para fugir dos problemas. Os pátios de transporte de carga ficavam nesta ponta da cidade. Talvez ele fosse suficientemente esperto para se esconder em vez de tentar fugir. Nesse caso, ele provavelmente não havia sequer atravessado a Market Street. Se ficasse, ainda haveria uma chance de pegá-lo no dia seguinte. Se ele estivesse fugindo, era pegá-lo agora ou nunca.
– Vamos até a Harrison – disse ao taxista.
Fomos até a Harrison Street, seguimos por ela até a Terceira, então subimos a Bryant até a Oitava, descemos a Brannan de volta à Terceira e até a Towsend – e não vimos Babe McCloor.
– Está difícil – solidarizou-se o taxista quando paramos do outro lado da rua da estação de passageiros da Southern Pacific.
– Vou dar uma olhada na estação – eu disse. – Fique atento enquanto eu não estiver aqui.
Quando contei o meu problema ao policial da estação, ele me apresentou a uma dupla de homens à paisana que haviam sido enviados para lá para procurar por McCloor. Isso havia sido feito depois de o corpo de Sue Hambleton ter sido encontrado. O assassinato de “Santo” Joe Wales era novidade para eles.
Saí de novo e encontrei o táxi diante da porta, com a buzina tocando desesperadamente, mas rouca demais para ser ouvida lá dentro. O taxista com cara de rato estava emocionado.
– Um cara como o que você descreveu saiu da King Street agorinha e subiu num bonde Número 16 que estava de partida – ele disse.
– Indo para onde?
– Para lá – respondeu ele, apontando para o sudeste.
– Vá atrás dele – eu disse, entrando no carro.
O bonde sumiu depois de fazer uma curva na Terceira, duas quadras abaixo. Quando contornamos a curva, o bonde estava diminuindo a velocidade, quatro quadras adiante. Ainda não estava lento o bastante quando um homem saltou. Era um homem alto, mas não parecia tão alto por causa da largura dos ombros. Ele não diminuiu a velocidade, mas usou o impulso para levá-lo até a calçada e desaparecer.
Paramos no local em que o homem saiu do bonde.
Dei dinheiro demais ao taxista e disse:
– Volte até a Towsend Street e diga ao policial da estação que persegui Babe McCloor até o pátio da Southern Pacific.
Achei que estava me movimentando silenciosamente entre duas fileiras de vagões, mas havia percorrido menos de seis metros quando uma lanterna brilhou no meu rosto, e uma voz firme ordenou:
– Parado aí.
Fiquei parado. Surgiram homens de entre os vagões. Um deles disse o meu nome, e acrescentou:
– O que você está fazendo aqui? Está perdido?
Era Harry Pebble, um detetive da polícia.
Voltei a respirar e disse:
– Olá, Harry. Procurando pelo Babe?
– Sim. Estivemos revistando os vagões.
– Ele está aqui. Acabei de segui-lo da rua.
Pebble disse um palavrão e desligou a lanterna.
– Cuidado, Harry – aconselhei. – Não brinque com ele. Ele está armado e já matou um esta noite.
– Eu vou brincar com ele – prometeu Pebble, mandando um dos homens que estavam com ele avisar ao que estavam do outro lado do pátio que McCloor estava lá dentro e depois chamar reforços.
– Vamos cercar o local e mantê-lo lá dentro até eles chegarem – disse Pebbles.
Parecia uma maneira sensata de fazer aquilo. Nós nos espalhamos e ficamos esperando. A certa altura, Pebble e eu mandamos embora um vagabundo que havia tentado entrar no pátio por entre nós, e um dos homens apanhou um garoto que estava tentando fugir sorrateiramente. Além disso, nada mais aconteceu até o Tenente Duff chegar com dois carros cheios de policiais.
A maior parte da nossa força foi usada para formar um cordão ao redor do pátio. O restante de nós atravessou o pátio em pequenos grupos, revistando vagão por vagão. Pegamos alguns vagabundos que Pebbles e seus homens haviam deixado passar mais cedo, mas não encontramos McCloor.
Não encontramos nem sinal dele até alguém tropeçar num vagabundo encolhido à sombra de um vagão. Foram precisos alguns instantes para fazê-lo retomar a consciência, e ele não conseguiu falar. Estava com o maxilar quebrado. Mas quando perguntamos se havia sido McCloor quem o agredira, ele confirmou com a cabeça. E quando perguntamos para onde McCloor havia ido, apontou com a mão fraca para o Leste.
Seguimos e fizemos buscas nos pátios de Santa Fé.
Não encontramos McCloor.
Fui até a central de polícia com Duff. MacMan estava na sala do capitão dos detetives com três ou quatro detetives de polícia.
– Wales está morto? – perguntei.
– Tá.
– Disse alguma coisa antes de morrer?
– Ele estava morto antes de você sair pela janela.
– Você ficou com a garota?
– Ela está aqui.
– Ela disse alguma coisa?
– Estávamos esperando por você antes de interrogá-la – disse o sargento-detetive O’Gar – pois não sabemos qual o envolvimento dela.
–Vamos chamá-la. Ainda não jantei. E a autópsia de Sue Hambleton?
– Envenenamento crônico por arsênico.
– Crônico? Isso quer dizer que ela foi envenenada aos poucos, e não de uma só vez?
– Isso mesmo. Pelo que encontramos nos rins, nos intestinos, no fígado, no estômago e no sangue, Jordan imagina que havia menos de sessenta miligramas de arsênico no organismo. Isso não seria suficiente para matá-la. Mas ele disse que encontrou arsênico nas pontas dos cabelos, e que ela teria que ter tomado o veneno pelo menos um mês atrás para chegar até lá.
– Alguma chance de ela não ter morrido por causa do arsênico?
– Não, a menos que Jordan seja um péssimo médico.
Uma policial entrou com Peggy Carroll.
A loira estava cansada. Os cílios, os cantos da boca e o corpo desmoronaram, e quando empurrei uma cadeira em sua direção, e ela se atirou.
O’Gar virou a cabeça grisalha para mim.
– Agora, Peggy – comecei –, conte onde você se encaixa nessa bagunça toda.
– Eu não me encaixo em lugar nenhum. – Ela não olhou para cima. Sua voz estava cansada. – Joe me arrastou para essa história. Ele mesmo lhe disse isso.
– Você era namorada dele?
– Digamos que sim – ela admitiu.
– Você sentia ciúmes?
– O que isso tem a ver com a coisa toda? – perguntou ela, olhando para mim com a expressão intrigada.
– Sue Hambleton estava se preparando para ir embora com ele quando foi assassinada.
A garota endireitou-se na cadeira e disse deliberadamente:
– Juro por Deus que não sabia que ela tinha sido assassinada.
– Mas sabia que ela estava morta – disse eu, positivamente.
– Não sabia – respondeu ela, também positivamente.
Cutuquei O’Gar com o cotovelo. Ele esticou o queixo torto para ela e gritou:
– O que você está tentando nos aplicar? Você sabia que ela estava morta. Como poderia tê-la matado sem saber?
Enquanto ela olhava para ele, acenei para que os outros entrassem. Todos se aproximaram dela e repetiram o refrão da canção do sargento. Nos minutos seguintes, ela recebeu muitos gritos, rugidos e resmungos.
No instante em que parou de tentar responder a todos, eu me meti novamente.
– Esperem – disse eu, muito sério. – Talvez ela não a tenha matado.
– Uma ova que não – irritou-se O’Gar, mantendo-se no centro do palco para que os outros pudessem se afastar da garota sem que a retirada parecesse artificial demais. – Você está querendo me dizer que esta gatinha...
– Eu não disse que ela não matou – adverti. – Disse que talvez ela não tenha matado.
– Então quem matou?
Passei a pergunta à garota.
– Quem matou?
– Babe – disse ela, imediatamente.
O’Gar bufou, para ela pensar que ele não estava acreditando.
– Como você sabe disso, se não sabia que ela estava morta? – perguntei, como se estivesse sinceramente perplexo.
– Faz sentido que tenha sido ele – ela respondeu. – Qualquer um pode ver isso. Ele descobriu que ela pretendia ir embora com o Joe, então a matou e depois foi até a casa do Joe e o matou. É exatamente o que Babe faria quando descobrisse.
– Ah, é? Há quanto tempo você sabia que eles estavam planejando ir embora juntos?
– Desde que eles tomaram a decisão. Joe me contou há um ou dois meses.
– E você não se importou?
– Vocês entenderam tudo errado – ela disse. – Claro que não me importei. Eu ia receber uma parte. Você sabe que o pai dela tinha muita grana. Era isso que o Joe queria. Ela não significava nada para ele, era só um meio para o bolso do velho. E eu ia receber uma beirada. E vocês não precisam pensar que eu era maluca o bastante pelo Joe ou por qualquer um para me meter numa fria por eles. Babe descobriu, e acabou com os dois. Isso é certo.
– Ah, é? Como você acha que Babe a mataria?
– Aquele cara? Você não acha que ele...
– Quero dizer como ele faria para matá-la?
– Ah – ela deu de ombros. – Com as próprias mãos, provavelmente.
– Depois tomar a decisão, ele a mataria de um jeito rápido e violento? – sugeri.
– Acho que isso é a cara do Babe – ela concordou.
– Mas você não consegue imaginá-lo envenenando-a lentamente... estendendo o processo por um mês?
Um ar de preocupação tomou conta dos olhos azuis da garota. Depois de morder o lábio inferior, ela disse lentamente:
– Não, não consigo imaginá-lo fazendo isso. Não o Babe.
– Quem você pode imaginar fazendo isso?
Ela arregalou os olhos e perguntou:
– Você quer dizer o Joe?
Fiquei em silêncio.
– O Joe poderia fazer isso – disse ela, num tom persuasivo. – Sabe Deus por que ele iria querer fazer isso, por que ele iria querer se livrar do tipo de vale que ela seria. Mas não dava para adivinhar sempre no que ele estava se metendo. Ele fez várias coisas idiotas. Era esperto demais sem ser inteligente. Mas se fosse matá-la, seria mais ou menos assim que faria.
– Ele e Babe se davam bem?
– Não.
– Ele freqüentava muito a casa do Babe?
– Nunca, que eu soubesse. Ele tinha muito medo do Babe para correr o risco de ser pego lá. Foi por isso que eu me mudei para o andar de cima, para que a Sue pudesse se encontrar com ele na nossa casa.
– Então como é que Joe poderia ter escondido o papel mata-moscas que a envenenou no apartamento dela?
– Papel mata-moscas! – O espanto dela pareceu bastante sincero.
– Mostre a ela – disse a O’Gar.
Ele pegou uma folha de cima da mesa e segurou em frente ao rosto da garota.
Ela ficou olhando fixamente por um tempo, então deu um salto e agarrou meu braço com as duas mãos.
– Eu não sabia o que era – disse ela, agitada. – Joe comprou algumas há uns dois meses. Estava olhando para elas quando eu cheguei. Perguntei para que serviam. Ele deu aquele sorriso zombeteiro dele, disse “É para fazer anjos”, embrulhou de novo e enfiou no bolso. Não prestei muita atenção. Ele estava sempre brincando com algum novo tipo de truque que o deixaria rico, mas nada nunca dava certo.
– E você viu essas folhas de novo?
– Não.
– Você conhecia bem a Sue?
– Eu nem a conhecia. Eu nunca nem a vi. Costumava ficar fora do caminho para não estragar a história do Joe com ela.
– Mas o Babe você conhece?
– Sim. Fui a algumas festas em que ele estava. Só isso.
– Quem matou a Sue?
– O Joe – ela disse. – Ele não tinha aquele papel que você disse que foi usado para matá-la?
– Por que ele a matou?
– Não sei. Ele fazia umas coisas absurdamente burras às vezes.
– Você não a matou?
– Não, não, não!
Repuxei o canto da boca para O’Gar.
– Você é uma mentirosa – berrou ele, sacudindo o papel mata-moscas diante dela. – Você a matou. – O resto da equipe se aproximou, fazendo-lhe acusações. Continuaram com isso até ela ficar zonza, e a policial começar a parecer preocupada.
Então eu disse, irritado:
– Tudo bem. Joguem-na numa cela e deixem-na pensar no assunto.
Virei-me para ela:
– Sabe o que disse a Joe hoje à tarde: não é o momento para ficar de boca fechada. Pense bastante esta noite.
– Juro por Deus que não a matei – ela disse.
Virei-me de costas para ela. A policial a levou embora.
– Foi um bom interrogatório, apesar de curto – disse O’Gar, bocejando.
– Não foi nada mau – concordei. – A julgar pelas aparências, eu diria que ela não matou a Sue. Mas se ela está dizendo a verdade, foi o “Santo” Joe quem a matou. E por que ele envenenaria a galinha dos ovos de ouro dele? E como e por que ele escondeu o veneno no apartamento deles? Babe tinha o motivo, mas ele não parece nem um pouco o tipo do envenenador paciente. Mas não dá para saber. Ele e o “Santo” Joe podiam até estar trabalhando em conjunto.
– Podiam – disse Duff. – Mas isso exige um bocado de imaginação. Não importa de onde se olhe, a Peggy é a nossa melhor aposta até agora. Vamos voltar a apertá-la duramente de manhã?
– Vamos – respondi. – E precisamos encontrar o Babe.
Os outros haviam jantado. MacMan e eu saímos e jantamos também. Quando voltamos ao escritório, uma hora depois, estava praticamente deserto de detetives regulares.
– Todos foram ao Píer 32 atrás de uma dica de que McCloor possa estar lá – disse Steve Ward.
– Há quanto tempo?
– Há dez minutos.
MacMan e eu pegamos um táxi e partimos para o Píer 42. Não chegamos ao Píer 42.
Na Primeira, a meia quadra do Embarcadero, o táxi subitamente freou cantando os pneus e parou.
– O que...? – comecei a dizer quando vi um homem parado na frente do carro. Era um homem grande, com uma arma grande. – Babe – grunhi, segurando o braço de MacMan para evitar que ele sacasse da arma.
– Me leve para... – McCloor estava falando com o motorista assustado quando nos viu. Deu a volta até o meu lado e abriu a porta, apontando a arma na nossa direção.
Ele estava sem chapéu e tinha os cabelos molhados, grudado na cabeça, com água escorrendo. Suas roupas estavam encharcadas.
Ele nos olhou surpreso e ordenou:
– Saiam.
Assim que saímos, ele rosnou para o motorista:
– Por que diabos você está com a bandeira levantada, se está com passageiros?
O motorista não estava ali. Havia saído pelo outro lado e estava fugindo pela rua. McCloor xingou e apontou a arma para mim, rosnando:
– Vamos, dêem o fora.
Pelo jeito, ele não havia me reconhecido. A luz não era muito boa, e eu estava de chapéu. E ele tinha me visto por apenas alguns segundos na sala de Wales.
Dei um passo para o lado. MacMan foi para o outro.
McCloor deu um passo para trás para não ficar no meio de nós dois e começou a dizer algo num tom raivoso.
MacMan saltou no braço com que McCloor segurava a arma.
Dei-lhe um soco no maxilar. Foi como se eu tivesse batido em outra pessoa, já que ele nem se perturbou.
Ele me atirou para fora do caminho e acertou MacMan na boca. MacMan caiu de costas até se segurar no táxi, cuspiu um dente e voltou para continuar.
Eu estava tentando escalar o lado esquerdo de McCloor.
MacMan veio pela direita, não conseguiu desviar de um golpe da arma, que o acertou bem no topo da cabeça, e caiu com força. Ficou no chão.
Chutei o tornozelo de McCloor, mas não consegui tirar o pé de debaixo dele. Bati com o punho direito na sua nuca e agarrei um punhado de cabelos molhados com a mão esquerda. Ele sacudiu a cabeça, levantando-me no ar.
Levei um soco no lado e senti as costelas e as entranhas se achatando, como folhas secas dentro de um livro.
Dei-lhe um soco na nuca, e esse incomodou. Ele soltou um barulho surdo do fundo do peito, esmagou meu ombro com a mão esquerda e bateu em mim com a arma que estava na direita.
Chutei-o em algum lugar e soquei-lhe a nuca de novo.
Mais adiante, no Embarcadero, ouvi um apito da polícia. Homens vinham pela Primeira na nossa direção.
McCloor bufou como uma locomotiva e me jogou para longe dele. Eu não queria ir. Tentei me segurar. Ele me atirou e saiu correndo rua afora.
Levantei-me como pude e corri atrás dele, sacando a arma.
Na primeira esquina, ele parou para disparar contra mim – três tiros. Atirei uma vez contra ele. Nenhum dos quatro acertou.
Ele desapareceu virando a esquina. Fiz a curva bem aberta, para que ele não me acertasse se estivesse encostado na parede esperando por mim. Não estava. Estava trinta metros adiante, entrando num espaço entre dois armazéns. Entrei atrás dele e saí atrás dele na outra ponta, conseguindo um tempo melhor com os meus 95 quilos do que ele com os seus 125.
Atravessou uma rua e subiu, distanciando-se da beira-mar. Havia uma luz na esquina. Quando cheguei à área iluminada, ele se virou e apontou a arma para mim. Não ouvi a arma falhar, mas soube que havia falhado quando ele a atirou contra mim. A pistola passou a menos de um metro de distância e fez muito barulho ao atingir uma porta atrás de mim.
McCloor se virou e correu rua acima. Eu corri rua acima atrás dele.
Atirei para longe dele para que os outros soubessem onde estávamos. Na esquina seguinte, ele começou a virar à esquerda, mudou de idéia e seguiu em frente.
Dei uma disparada, diminuindo a distância entre nós para algo entre dez e quinze metros e gritei:
– Pare, ou eu atiro.
Ele entrou de lado num beco estreito.
Passei pela entrada com um salto, vi que ele não estava esperando por mim e entrei. Vinha luz suficiente da rua para que víssemos um ao outro e o que nos cercava. Era um beco sem saída – emparedado dos dois lados e na outra ponta por altos edifícios de concreto com portas e janelas com grades de aço.
McCloor me encarou, a menos de seis metros de distância, com o maxilar se destacando. Os braços curvados caíam ao longo do corpo. Os ombros estavam encolhidos.
– Ponha as mãos para cima – ordenei, apontando a arma.
– Saia da minha frente, homenzinho – resmungou ele, dando um passo na minha direção. – Eu vou acabar com você.
– Continue vindo, e eu derrubo você – retruquei.
– Tente. – Ele deu mais um passo, agachando-se um pouco. – Eu consigo pegá-lo, mesmo com balas no meu corpo.
– Não onde eu vou botá-las. – Eu estava falando da boca para fora, tentando fazê-lo esperar até os outros chegarem. Não queria ter de matá-lo. Poderíamos ter feito isso desde o táxi. – Não sou nenhuma Annie Oakley3, mas se eu não conseguir estourar os seus joelhos com dois tiros desta distância, você pode fazer o que quiser comigo. E se você acha que joelhos estourados são divertidos, experimente.
– Ao diabo com isso – disse ele, e atacou.
Atirei no joelho direito.
Ele cambaleou na minha direção.
Atirei no joelho esquerdo.
Ele caiu.
– Foi você quem pediu – reclamei.
Ele virou e, empurrando com os braços, sentou-se olhando para mim.
– Não achei que você tivesse juízo o bastante para fazer isso – disse ele, entredentes.
Falei com McCloor no hospital. Estava deitado de costas na cama, com dois travesseiros segurando a cabeça. A pele estava pálida em volta da boca e dos olhos, mas nada mais indicava que ele estivesse sentindo dor.
– Você certamente acabou comigo, cara – disse ele, quando entrei.
– Sinto muito – eu disse –, mas...
– Não estou reclamando. Eu pedi para levar.
– Por que você matou o Santo Joe? – perguntei, casualmente, enquanto levava uma cadeira para o lado da cama.
– Opa... você está batendo na porta errada.
Dei risada e contei que era eu o homem que estava na sala com Joe quando tudo aconteceu.
McCloor sorriu e disse:
– Achei que tinha visto você em algum lugar antes. Então foi lá. Não prestei atenção na sua cara, já que as suas mãos não se moveram.
– Por que você o matou?
Ele apertou os lábios, virou os olhos para mim, pensou em alguma coisa e disse:
– Ele matou uma garota que eu conhecia.
– Ele matou Sue Hambleton? – perguntou.
Ficou observando meu rosto por um instante antes de responder:
– É.
– Como você chegou a essa conclusão?
– Que diabos – disse ele. – Eu não precisei concluir nada. A Sue me contou. Me dá um cigarro.
Dei-lhe um cigarro, acendi um isqueiro e protestei.
– Isto não está exatamente de acordo com as outras coisas que eu sei. O que foi que aconteceu, e o que ela disse? Pode começar com a noite em que você lhe deu uma surra.
Ele pareceu pensativo, deixando a fumaça escapar lentamente do nariz, e então disse:
– Eu não devia ter batido no olho dela, é verdade. Mas, veja bem, ela tinha estado fora a tarde toda e não me dizia aonde tinha ido, e nós tínhamos brigado por causa disso. Hoje é o quê... quinta-feira de manhã? Então isso foi na segunda-feira. Depois da briga, eu saí e passei a noite numa espelunca na Army Street. Cheguei em casa mais ou menos às sete da manhã seguinte. Sue estava muito doente, mas não me deixou chamar um médico. Foi meio estranho, porque ela estava morta de medo.
McCloor coçou a cabeça pensativamente e de repente deu uma grande tragada, praticamente consumindo todo o cigarro. Deixou a fumaça sair da boca e do nariz ao mesmo tempo, olhando com ar entediado para mim através da nuvem. Então disse bruscamente:
– Bom, ela afundou. Mas, antes, contou que tinha sido envenenada pelo Santo Joe.
– Ela contou como ele a havia envenenado?
McCloor sacudiu a cabeça.
– Eu vinha perguntando qual era o problema, sem receber nenhuma resposta. Daí ela começou a reclamar que estava envenenada. “Estou envenenada, Babe”, choramingou. “Com arsênico. Aquele maldito “‘Santo’ Joe”, ela disse. Depois não disse mais nada, e não foi muito tempo depois que ela bateu as botas.
– Ah, é? E daí, o que você fez?
– Saí para pegar o “Santo” Joe. Eu o conhecia, mas não sabia onde ele se escondia, e só o encontrei ontem. Você estava lá quando eu cheguei. Sabe disso. Eu tinha conseguido um carro que deixei estacionado na Turk Street, para a fuga. Quando cheguei lá, tinha um policial perto dele, de modo que eu o deixei lá, peguei um bonde e fui até o pátio de carga. Lá, dei de cara com um exército de policiais e tive de saltar no mar em China Basin. Nadei até um píer e fui visto de novo por um vigia, tendo que nadar até outro píer. Até que finalmente consegui furar o cerco, só para dar de cara com outro lance de azar. Eu não teria chamado aquele táxi se a bandeira de Livre não estivesse levantada.
– Você sabia que a Sue estava planejando fugir com Joe?
– Não sabia e ainda não sei – disse ele. – Sabia que ela estava me enganando, mas não sabia com quem.
– O que você teria feito se soubesse disso? – perguntei.
– Eu? Exatamente o que fiz – disse, dando um sorriso selvagem.
– Matou os dois – eu disse.
Ele passou o polegar no lábio inferior e perguntou calmamente:
– Você acha que eu matei a Sue?
– Você a matou.
– É bem feito para mim – disse ele. Devo estar ficando idiota com a idade. Que diabos eu estou fazendo, conversando com um maldito detetive? Isso nunca rendeu nada além de sofrimento. Bem, agora você bem que pode se mandar, companheiro. Cansei de falar.
E era verdade. Não consegui arrancar mais nenhuma palavra dele.
O Velho ficou me ouvindo, sentado, batucando de leve com a ponta de um lápis amarelo, olhando fixamente para o infinito com os suaves olhos azuis atrás dos óculos. Quando terminei de contar a minha história, perguntou de modo gentil:
– Como está o MacMan?
– Perdeu dois dentes, mas não teve fratura no crânio. Terá alta em um ou dois dias.
O Velho assentiu com a cabeça e perguntou:
– O que falta fazer?
– Nada. Podemos interrogar Peggy Carroll de novo, mas é pouco provável que tiremos muito mais dela. Apesar disso, parece que está tudo certo.
– E o que você acha disso?
Eu me remexi na cadeira e disse:
– Suicídio.
O Velho sorriu para mim, educado, mas cético.
– Também não gosto disso – resmunguei. – E ainda não estou pronto para entregar um relatório. Mas este é o único resultado a que conseguimos chegar com o que temos. Aquele papel mata-moscas estava escondido atrás do fogão, na cozinha. Ninguém seria louco o bastante para tentar esconder alguma coisa de uma mulher na sua própria cozinha assim. Mas a mulher poderia fazer isso.
– De acordo com Peggy, Joe tinha o papel mata-moscas. Se foi a Sue que o escondeu, deve tê-lo conseguido com ele. Para quê? Os dois estavam planejando ir embora juntos, e estavam só esperando até que Joe, que tinha um plano, levantasse dinheiro suficiente. Talvez estivessem com medo do Babe e tenham escondido o veneno no apartamento para dar a ele se ele descobrisse o plano dos dois antes. Talvez tivessem a intenção de envenená-lo antes de irem embora.
– Quando comecei a falar com Joe sobre assassinato, ele achou que tinha sido o Babe quem havia sido morto. Pareceu ter ficado surpreso, mas como se estivesse surpreso que tivesse acontecido tão cedo. Ficou ainda mais surpreso quando soube que a Sue havia morrido também, mas, ainda assim, ele não ficou tão surpreso como quando ele viu McCloor vivo na janela.
– Ela morreu xingando o “Santo” Joe, sabia que havia sido envenenada e não deixou McCloor chamar um médico. Isso não pode querer dizer que ela havia se virado contra Joe e tomado ela própria o veneno em vez de dá-lo ao Babe? O veneno estava escondido do Babe. Mas, mesmo que ele o encontrasse, não consigo vê-lo como um envenenador. É violento demais para isso. A menos que a tenha apanhado tentando envenená-lo e a tenha feito engolir a coisa toda. Mas isso não explica o arsênico de um mês nos cabelos dela.
– A sua hipótese de suicídio inclui isso? – perguntou o Velho.
– Pode incluir – respondi. – Não fique expondo mais falhas na minha teoria. Já tem bastantes como está. Mas, se ela cometeu suicídio desta vez, não há por que ela não possa ter tentado uma vez antes, quem sabe depois de uma briga com Joe há um mês, e não ter conseguido ir até o final. Isso teria colocado o arsênico em seu organismo. Não há uma prova real de que ela tenha tomado veneno entre um mês atrás e anteontem.
– Nenhuma prova real – contestou o Velho gentilmente – além da descoberta da autópsia: envenenamento crônico.
Nunca fui homem de deixar palpites de especialistas ficarem no meu caminho. Respondi:
– Eles basearam isso na pequena quantidade de arsênico encontrado em seu corpo, menos do que uma dose fatal. E a quantidade que se encontra no estômago depois da morte depende do quanto se vomita antes de morrer.
O Velho sorriu com benevolência e perguntou:
– Mas você diz que não está pronto para escrever essa teoria num relatório. Enquanto isso, o que propõe que seja feito?
– Se não há nada mais urgente, pretendo ir para casa, fumigar o cérebro com cigarros e tentar arrumar tudo na cabeça. Acho que vou pegar uma cópia de O conde de Monte Cristo. Eu o li quando era menino. Parece que o livro estava enrolado com o papel mata-moscas para formar um pacote grande o bastante para ficar bem ajustado entre o fogão e a parede e não cair. Mas pode haver alguma coisa no livro. Vou dar uma olhada, de qualquer maneira.
– Fiz isso na noite passada – murmurou o Velho.
– E? – perguntei.
Ele pegou um livro da gaveta da mesa de trabalho, abriu numa página marcada por uma tira de papel e passou-o para mim, marcando um parágrafo com um dedo rosado.
– Suponhamos que você tome um miligrama do veneno no primeiro dia, dois miligramas no segundo dia e assim por diante. Bem, ao fim de dez dias, você terá tomado um centigrama: ao fim de vinte dias, aumentando mais um miligrama, você teria tomado trezentos centigramas. Isto é, uma dose que se pode suportar sem inconveniências e que seria muito perigosa para qualquer outra pessoa que não tivesse tomado as mesmas precauções. Bem, ao final do mês, quando estivesse tomando água do mesmo jarro, você mataria a pessoa que bebesse dessa água, sem sentir nada além de uma leve indisposição por causa da substância venenosa misturada à água.
– É isso – eu disse. – É isso. Os dois estavam com medo de ir embora sem matar o Babe, certos de que ele iria atrás deles. Ela tentou se imunizar contra envenenamento por arsênico acostumando seu corpo ao veneno, tomando-o em doses cada vez maiores para que, quando ela pusesse a dose maior na comida de Babe, pudesse comê-la sem perigo. Ela ficaria doente, mas não morreria, e a polícia não poderia ligar a morte dele a ela porque ela também teria comido o veneno.
– Isso faz sentido. Depois da briga de segunda à noite, quando escreveu para Joe o bilhete encorajando-o a preparar a fuga logo, ela tentou apressar a imunidade e aumentou as doses preparatórias rápido demais, tomou uma dose muito grande. Foi por isso que xingou Joe no final. O plano era dele.
– Ela possivelmente tomou uma overdose numa tentativa de apressar o plano – concordou o Velho. – Mas não necessariamente. Há pessoas que conseguem cultivar uma capacidade de tomar grandes doses de arsênico sem problemas, mas isso parece ser uma espécie de dom natural, uma questão de constituição física. Normalmente, qualquer um que tentasse, faria o que Sue Hambleton fez: iria se envenenar lentamente até que o efeito cumulativo fosse forte o suficiente para provocar a morte.
Babe McCloor foi enforcado, por matar o “Santo” Joe Wales, seis meses depois.
3 Famosa atiradora norte-americana. (N.T.)
O rosto queimado
– Nós as estávamos esperando em casa ontem – disse Alfred Banbrock, encerrando sua história. – Como não haviam chegado até hoje de manhã, minha mulher telefonou para a sra. Walden. A sra. Walden disse que elas não haviam estado lá. Que, na verdade, não eram esperadas.
– Diante disso, então, – sugeri – parece que as suas filhas saíram de livre e espontânea vontade e estão fora de livre e espontânea vontade?
Banbrock assentiu gravemente com a cabeça. Músculos cansados e frouxos em seu rosto gordo.
– Parece que sim – concordou ele. – Foi por isso que vim à sua agência atrás de ajuda, em vez de procurar a polícia.
– Elas já desapareceram antes?
– Não. Se você lê jornais e revistas, sem dúvida já percebeu que os jovens são dados a um comportamento irregular. As minhas filhas sempre fizeram basicamente o que quiseram. Mas, embora eu não possa dizer que sempre soubesse o que elas estavam fazendo, de um modo geral, sempre sabíamos onde estavam.
– O senhor consegue pensar em algum motivo pelo qual elas possam ter ido embora dessa maneira?
Ele sacudiu a cabeça cansada.
– Alguma briga recente? – sondei.
– N... – ele mudou no meio do caminho para: – Sim... embora eu não tenha dado nenhuma importância a ela, e não teria me lembrado se você não tivesse puxado da minha memória. Foi na noite de quinta-feira... a noite antes de elas irem embora.
– E a briga foi por...
– Dinheiro, é claro. Nunca discordamos sobre qualquer outra coisa. Sempre dei a cada uma das minhas filhas uma mesada adequada... talvez um pouco generosa demais. Também não as mantinha restritas a essa quantia. Houve poucos meses nos quais elas não as excederam. Na quinta-feira à noite, elas pediram uma quantia extra de dinheiro ainda maior do que duas garotas normalmente precisariam. Eu não ia lhes dar nada, embora tenha acabado lhes dando uma quantia relativamente menor. Não foi exatamente uma briga, não no sentido estrito da palavra, mas houve uma certa falta de amabilidade entre nós.
– E foi depois desse desentendimento que as duas disseram que iriam passar o fim de semana na casa da sra. Walden, em Monterey?
– É possível. Não tenho certeza quanto a isso. Não acho que eu tenha ouvido falar no assunto até a manhã seguinte, mas elas podem ter dito alguma coisa à minha mulher antes disso.
– E o senhor não sabe de nenhum outro possível motivo que as tenha feito fugir?
– Nenhum. Não consigo imaginar que a nossa discussão por causa de dinheiro, nem um pouco diferente das que ocorrem normalmente, possa ter alguma coisa a ver com a fuga.
– O que a mãe delas acha?
– A mãe delas está morta – corrigiu-me Banbrock. – A minha mulher é madrasta delas. Ela tem apenas dois anos a mais do que Myra, a minha filha mais velha. Ela fica tanto no mar quanto eu.
– As suas filhas e a madrasta se davam bem?
– Sim! Sim! Muito bem! Se havia uma divisão familiar, elas normalmente acabavam unidas contra mim.
– As suas filhas saíram na sexta-feira à tarde?
– Ao meio-dia, ou alguns minutos depois. Elas iriam de carro até Monterey.
– O carro, evidentemente, ainda está desaparecido.
– Naturalmente.
– Que carro é?
– Um Locomobile, com um corpo conversível especial. Preto.
– O senhor sabe me dizer os números da placa e do motor?
– Acho que sim.
Virou-se na cadeira até a grande mesa de tampo giratório que ocupava um quarto de uma das paredes do escritório, mexeu em papéis num compartimento e leu os números para mim olhando por cima do ombro. Anotei-os na parte de trás de um envelope.
– Vou incluir este carro na lista de veículos roubados do Departamento de Polícia – disse a ele. – Isso pode ser feito sem mencionarmos as suas filhas. O boletim policial pode encontrar o carro para nós. Isso nos ajudaria a encontrar as suas filhas.
– Muito bem – concordou ele. – Se isso puder ser feito sem publicidade desagradável. Como lhe disse no começo, não quero nenhuma publicidade além da absolutamente necessária. A menos que haja a possibilidade de as meninas sofrerem algum mal.
Assenti com a cabeça, compreensivo, e me levantei.
– Quero sair e falar com a sua esposa – eu disse. – Ela está em casa agora?
– Sim, acho que sim. Telefonarei e direi que você está indo para lá.
Numa grande fortaleza de pedra calcária no topo de uma colina em Sea Cliff com vista para a baía e o mar, tive a minha conversa com a sra. Banbrock. Era uma garota morena de não mais do que 22 anos com tendência a engordar.
Ela não pôde me dizer nada que o marido já não tivesse ao menos mencionado, mas soube me dar mais detalhes.
Consegui descrições das duas garotas.
Myra: vinte anos de idade, um metro e 72 centímetros de altura, 68 quilos, atlética, ágil, com modos e postura quase masculinos; cabelos castanhos curtos; olhos castanhos, pele morena clara, rosto quadrado – com queixo grande e nariz pequeno –, cicatriz sobre a orelha esquerda escondida pelo cabelo, gosta de cavalos e de todos os esportes ao ar livre. Quando saiu de casa, usava vestido de lã azul e verde, chapéu azul pequeno, casaco de pele de foca curto preto e sapatos baixos pretos.
Ruth: dezoito anos, um metro e 62 de altura, 47 quilos, olhos castanhos, cabelos castanhos curtos, pele morena clara, rosto oval delicado, quieta, tímida, com a tendência a se apoiar na irmã mais forte. Quando foi vista pela última vez, vestia um casaco tabaco debruado com pele marrom sobre um vestido de seda cinza e um grande chapéu marrom.
Peguei duas fotografias de cada uma delas e mais um retrato de Myra de pé em frente ao conversível. Consegui uma lista das coisas que as duas haviam levado – coisas que normalmente seriam levadas numa viagem de fim-de-semana. O mais importante foi que consegui uma lista de seus amigos, parentes e outros conhecidos, até onde a sra. Banbrock os conhecia.
– Elas mencionaram o convite da sra. Walden antes da briga com o sr. Banbrock? – perguntei, depois que guardei as minhas listas.
– Acho que não – disse a sra. Banbrock, pensativa. – Não liguei as duas coisas, de modo algum. Elas não chegaram exatamente a brigar com o pai, sabe. Não foi uma discussão dura o bastante para ser chamada de briga.
– A senhora viu quando elas saíram?
– Certamente que sim! As duas saíram mais ou menos ao meio-dia e meia da sexta-feira. Beijaram-me como de costume quando saíram, e certamente não havia nada no comportamento das duas que pudesse sugerir qualquer coisa fora do comum.
– A senhora não tem mesmo idéia de aonde elas podem ter ido?
– Nenhuma.
– Não pode nem mesmo dar um palpite?
– Não. Entre os nomes e endereços que lhe dei estão alguns dos amigos e parentes das garotas que moram em outras cidades. Elas podem ter ido visitar algum deles. O senhor acha que deveríamos...?
– Cuidarei disso – prometi. – A senhora saberia destacar um ou dois deles com mais probabilidade de as garotas terem ido visitar?
Ela não quis tentar.
– Não – disse, com certeza. – Não saberia.
Depois dessa entrevista, voltei para a Agência e pus a máquina em movimento: acertei para que detetives de outras filiais da Continental fossem visitar os nomes de fora da cidade da minha lista, pus o Locomobile desaparecido na lista do Departamento de Polícia, dei uma foto de cada garota para um fotógrafo fazer cópias.
Feito isso tudo, saí para conversar com as pessoas da lista que a sra. Banbrock havia me passado. A minha primeira visita foi a uma certa Constance Delee, num edifício de apartamentos na Post Street. Falei com uma empregada, que disse que a srta. Delee estava fora da cidade. Não quis me dizer onde a patroa estava nem quando voltaria.
De lá, subi a Van Ness Avenue e encontrei um Wayne Ferris numa revenda de automóveis: um jovem de cabelos lisos cujos excelentes modos e roupas escondiam completamente qualquer outra coisa – cérebro, por exemplo – que ele pudesse ter. Mostrou-se muito disposto a me ajudar e não sabia de nada. Levou muito tempo para me dizer isso. Um bom rapaz.
Mais um tiro no escuro: “A sra. Scott está em Honolulu”.
Numa imobiliária na Montgomery Street encontrei o seguinte – outro jovem elegante e cheio de estilo, com cabelos suaves, boas maneiras e boas roupas. Seu nome era Raymond Elwood. Eu teria pensado que ele era primo de Ferris se não soubesse que o mundo – principalmente o mundo dos bailes e dos chás – estava cheio de tipos como eles. Não consegui nada com ele.
Então dei mais alguns tiros no escuro: “Fora da cidade”, “Fazendo compras”, “Não sei onde o senhor pode encontrá-lo”.
Encontrei mais uma das amigas das garotas Banbrock antes de encerrar o dia de trabalho. Seu nome era sra. Stewart Correll. Ela morava em Presidio Terrace, não muito longe dos Banbrock. Era uma mulher, ou garota, pequena, mais ou menos da mesma idade da sra. Banbrock. Uma loirinha fofa com grandes olhos daquele tipo de azul que sempre parecem sinceros e honestos, independentemente do que esteja acontecendo por trás deles.
– Faz duas semanas ou mais que não vejo nem a Ruth nem a Myra – respondeu ela à minha pergunta.
– Nessa ocasião, quando a senhora as viu pela última vez, alguma das duas falou algo a respeito de ir embora?
– Não.
Seus olhos eram grandes e francos. Um pequeno músculo se contorceu em seu lábio superior.
– E a senhora não faz idéia de aonde elas poderiam ter ido?
– Não.
Seus dedos estavam transformando um lenço numa bolinha.
– A senhora falou com elas desde a última vez que as viu?
– Não.
Ela umedeceu a boca antes de responder.
– A senhora pode me dar os nomes e endereços de todas as pessoas que conhece e que as garotas Banbrock também conhecem?
– Por quê...? O quê...?
– Há uma chance de que alguns possam tê-las visto mais recentemente do que a senhora – expliquei. – Ou mesmo que possam tê-las visto depois de sexta-feira.
Sem entusiasmo, ela me passou uma dúzia de nomes. Todos já estavam na minha lista. Por duas vezes, ela hesitou, como se fosse mencionar um nome que não quisesse mencionar. Seus olhos ficaram presos aos meus, grandes e honestos. Seus dedos pararam de fazer bolinha com o lenço e passaram a cutucar o tecido da saia.
Não fingi acreditar nela. Mas tinha os pés solidamente plantados no chão para questioná-la. Fiz-lhe uma promessa antes de sair, que poderia ser interpretada como uma ameaça, se ela quisesse.
– Muito obrigado – eu disse. – Sei que é difícil lembrar das coisas com exatidão. Se eu cruzar com qualquer coisa que possa ajudar a sua memória, voltarei para lhe dizer.
– O q...? Sim, por favor! – disse ela.
Indo embora a pé, virei a cabeça para trás pouco antes de sair de vista. Uma cortina voltou ao lugar numa janela do segundo andar. As luzes da rua não eram fortes o bastante para eu ter certeza de que a cortina voltara ao lugar diante de uma cabeça loira.
Meu relógio indicava 21h30: muito tarde para procurar qualquer outro amigo das garotas. Fui para casa, escrevi o relatório do dia e me entreguei ao cansaço, pensando mais na sra. Correll do que nas garotas.
Ela parecia valer uma investigação.
Quando cheguei ao escritório na manhã seguinte, havia alguns relatórios telegráficos à minha espera. Nenhum tinha qualquer valor. A investigação dos nomes e endereços nas outras cidades não havia revelado nada. Uma investigação em Monterey estabelecera razoavelmente – o que é o melhor que se pode conseguir no ramo das investigações – que as garotas não haviam estado lá recentemente, que o Locomobile não havia estado lá.
As primeiras edições dos jornais vespertinos estavam nas ruas quando saí para tomar um café da manhã antes de retomar o trabalho de onde eu havia parado na noite anterior.
Comprei um jornal para apoiar atrás do meu pomelo.
Acabou estragando o meu café-da-manhã:
MULHER DE BANQUEIRO SE SUICIDA
A sra. Stewart Correll, mulher do vice-presidente da Companhia Fiduciária Golden State, foi encontrada morta no começo desta manhã pela empregada em seu quarto, na sua residência em Presidio Terrace. Um frasco que acredita-se ser de veneno foi encontrado no chão, ao lado da cama.
O marido da mulher morta não soube dizer o motivo do suicídio. Disse que ela não parecia deprimida nem (...).
Na residência dos Correll, tive de falar muito antes de chegar a Correll. Era um homem alto e magro, de menos de 35 anos, com um rosto pálido e nervoso e olhos azuis agitados.
– Sinto muito perturbá-lo num momento como este – desculpei-me quando finalmente conseguir chegar até ele, depois de muita insistência. – Não tomarei mais do que o necessário do seu tempo. Sou detetive da Agência Continental. Estou à procura de Ruth e Myra Banbrock, que desapareceram há vários dias. O senhor as conhece, imagino.
– Sim – disse ele, sem interesse. – Eu as conheço.
– O senhor sabia que elas haviam desaparecido?
– Não. – Seus olhos foram de uma cadeira para um tapete. – Por que deveria?
– O senhor viu alguma das duas recentemente? – prossegui, ignorando a pergunta dele.
– Na semana passada. Na quarta-feira, acho. As duas estavam indo embora, conversando com a minha mulher na porta da casa, quando cheguei do banco.
– A sua mulher não lhe disse nada a respeito do desaparecimento delas?
– Não. Eu realmente não sei lhe dizer nada sobre as Senhoritas Banbrock. Por favor, com licença...
– Só mais um instante – eu disse. – Eu não teria vindo incomodá-lo se não fosse necessário. Estive aqui na noite passada conversando com a sra. Correll. Ela me pareceu nervosa. Tive a impressão de que algumas das respostas que deu às minhas perguntas foram... ahn... evasivas. Gostaria...
Ele estava de pé. Olhava para mim com o rosto vermelho.
– Você! – gritou ele. – Posso lhe agradecer por...
– Sr. Correll – tentei acalmá-lo. – Não adianta...
Mas ele estava completamente alterado.
– Você levou a minha mulher à morte – acusou-me. – Você a matou com a sua maldita intromissão, com as suas ameaças intimidadoras, com o seu...
Aquilo era uma bobagem. Senti pena daquele jovem cuja mulher havia se matado. Apesar disso, tinha trabalho a fazer. Resolvi acertar os ponteiros.
– Não vamos discutir, Correll – eu lhe disse. – A questão é que eu estive aqui para ver se a sua mulher podia me dizer alguma coisa a respeito das Banbrock. Ela me disse menos do que a verdade. Mais tarde, cometeu suicídio. Quero saber por quê. Colabore comigo, e eu farei o possível para evitar que os jornais e o público liguem a morte dela ao desaparecimento das garotas.
– Ligar a morte dela ao desaparecimento? Isso é absurdo! – ele exclamou.
– Talvez... mas a ligação existe! – insisti com ele. Estava com pena, mas tinha trabalho a fazer. – Existe. Se você me disser o que é, talvez ela não precise ser levada a público. Mas eu vou descobrir. Ou você me diz o que é, ou eu irei atrás da informação abertamente.
Por um instante, achei que ele ia me dar um soco. Eu não o teria culpado. Seu corpo ficou tenso, então perdeu a firmeza, e ele caiu de volta na cadeira. Desviou os olhos dos meus.
– Não há nada que eu possa dizer – ele murmurou. – Quando a empregada entrou no quarto para chamá-la hoje de manhã, ela estava morta. Não tinha bilhete, motivo, nada.
– Você a viu na noite passada?
– Não. Não jantei em casa. Cheguei tarde e fui direto para o meu quarto, não queria atrapalhá-la. Não a via desde que saí de casa de manhã.
– Ela parecia perturbada ou preocupada na ocasião?
– Não.
– Por que o senhor acha que ela se matou?
– Meu Deus, homem, eu não sei! Pensei sem parar, mas não sei!
– Saúde?
– Ela parecia bem. Nunca ficava doente, nunca reclamava.
– Alguma briga recente?
– Nós nunca brigamos. Nunca no ano em meio em que estivemos casados!
– Problemas financeiros?
Ele sacudiu a cabeça sem falar nem levantar os olhos do chão.
– Alguma outra preocupação?
Ele sacudiu a cabeça de novo.
– A empregada notou alguma coisa estranha no comportamento dela naquela noite?
– Nada.
– Você olhou as coisas dela, procurou por papéis ou cartas?
– Sim, e não encontrei nada. – Levantou a cabeça para olhar para mim. – A única coisa – disse ele, muito lentamente – era que havia um monte de cinzas na lareira do quarto dela, como se ela tivesse queimado papéis ou cartas.
Correll não tinha mais nada para mim. Pelo menos nada que eu tenha conseguido tirar dele.
A garota no portão de entrada do escritório de Alfred Banbrock no Edifício Shoreman’s me disse que ele estava em reunião. Mandei que lhe dissessem o meu nome. Ele saiu da reunião para me levar até seu escritório particular. Seu rosto cansado estava cheio de perguntas.
Não o mantive esperando pelas respostas. Era um adulto. Não fiquei rodeando em torno das más notícias.
– As coisas tomaram um rumo desagradável – eu disse, assim que estávamos trancados na mesma sala. – Acho que teremos que pedir ajuda à polícia e aos jornais. Uma sra. Correll, amiga das suas filhas, mentiu quando eu a interroguei ontem. Na noite passada, ela cometeu suicídio.
– Irma Correll? Suicídio?
– O senhor a conhecia?
– Sim! Intimamente! Ela era... isto é, ela era muito amiga da minha mulher e das minhas filhas. Ela se matou?
– Sim. Com veneno. Ontem à noite. Onde ela se encaixa no desaparecimento das suas filhas?
– Onde? – repetiu ele. – Não sei. Ela deve se encaixar?
– Acho que sim. Ela me disse que não via as suas filhas haviam umas duas semanas. O marido acabou de me dizer que elas estavam conversando com ela quando ele chegou do banco na última quarta-feira à tarde. Ela parecia nervosa quando a interroguei. Matou-se logo depois. Há poucas dúvidas de que ela se encaixa de algum modo.
– E isso quer dizer...?
– Isso quer dizer que as suas filhas podem estar perfeitamente a salvo, mas que não podemos apostar nessa possibilidade – completei a frase para ele.
– Você acha que elas podem se ferir?
– Eu não acho nada – respondi, numa evasiva. – A não ser que, com uma morte intimamente ligada com a partida delas, não podemos nos dar o luxo de correr riscos.
Banbrock telefonou para seu advogado – um velho de rosto rosado e cabelos brancos chamado Norwall, que tinha a reputação de saber mais sobre corporações do que todos os Morgan, mas que não fazia a menor idéia de como funcionavam os procedimentos policiais – e lhe disse que se encontrasse conosco na central de polícia.
Passamos uma hora e meia lá, deixando a polícia a par do caso e dizendo aos jornais o que queríamos que eles soubessem. Ou seja, muita coisa sobre as garotas, muitas fotografias e assim por diante, mas nada a respeito da ligação entre elas e a sra. Correll. Claro que informamos a polícia quanto a isso.
Depois que Banbrock e o advogado foram embora juntos, voltei à sala de reunião dos detetives para comentar o caso com Pat Reddy, o detetive de polícia incumbido do caso.
Pat era o mais jovem integrante da divisão de detetives – um irlandês grandalhão e loiro com jeito preguiçoso que gostava de coisas espetaculares.
Dois anos antes, era um guarda novato que fazia rondas a pé numa região alta da cidade. Uma noite, multou um automóvel que estava estacionado em frente a um hidrante. A proprietária saiu na hora e começou a bater boca. Era Althea Wallach, filha única e mimada do proprietário da Companhia de Café Wallach – uma jovem elegante e impulsiva, com olhos ardentes. Ela deve ter dito muita coisa a Pat. Ele a levou para a delegacia e largou-a numa cela.
Dizem que o Velho Wallach apareceu na manhã seguinte soltando fogo pelas ventas e com metade dos advogados de São Francisco. Mas Pat manteve a acusação, e a garota foi multada. O Velho Wallach fez tudo exceto dar um soco em Pat no corredor, no fim das contas. Pat deu seu sorriso sonolento ao importador de café e disse, com seu sotaque arrastado:
– É, melhor você me deixar em paz... ou eu paro de tomar o seu café.
O comentário foi parar na maioria dos jornais do país e até mesmo num espetáculo da Broadway.
Mas Pat não parou na resposta petulante. Três dias depois, ele e Althea Wallach foram até Alameda e se casaram. Eu participei disso. Calhou de eu estar no ferry que os dois pegaram, e eles me arrastaram junto para assistir ao casamento.
O Velho Wallach deserdou a filha imediatamente, mas isso não pareceu preocupar a mais ninguém. Pat seguiu fazendo sua ronda, mas, agora que havia chamado atenção, não demorou muito até que suas qualidades fossem notadas. Foi promovido à divisão de detetives.
O Velho Wallach se arrependeu antes de morrer e deixou seus milhões para Althea.
Pat tirou a tarde de folga para ir ao enterro e voltou ao trabalho na mesma noite, prendendo uma porção de pistoleiros. Continuou trabalhando. Não sei o que a mulher dele fazia com o dinheiro, mas Pat sequer melhorou a qualidade dos charutos que fumava – embora devesse ter feito isso. É verdade que agora morava na mansão dos Wallach e, de vez em quando, em manhãs chuvosas, era levado até a central numa luxuosa limusine Hispano-Suiza. Mas não havia nada de diferente nele além disso.
Esse era o irlandês loiro e grandalhão que estava sentado diante de mim à mesa da sala de reunião, me enfumaçando com uma coisa com formato de charuto.
Nesse instante, tirou a coisa parecida com um charuto da boca e falou, através da fumaça:
– Essa tal Correll que você acha que está ligada às Banbrock... ela foi assaltada há uns dois meses. Levaram-lhe oitocentos dólares. Sabia disso?
Eu não sabia.
– Perdeu alguma coisa além de dinheiro? – perguntei.
– Não.
– Você acredita na história?
Ele sorriu.
– Aí é que está – disse. – Não pegamos o passarinho que fez isso. Com mulheres que perdem as coisas dessa maneira, principalmente dinheiro, é sempre uma questão de saber se foi um roubo ou uma doação.
Tirou mais um pouco de gás venenoso do suposto charuto e acrescentou:
– Mas o roubo pode ter sido real. O que você está pensando em fazer agora?
– Vamos até a Agência ver se apareceu alguma coisa nova. Depois eu queria conversar com a sra. Banbrock de novo. Talvez ela possa nos dizer alguma coisa sobre essa Correll.
No escritório, fiquei sabendo que haviam chegado relatórios do restante dos nomes e endereços de fora da cidade. Aparentemente, nenhuma daquelas pessoas sabia qualquer coisa sobre o paradeiro das garotas. Reddy e eu fomos até a casa dos Banbrock em Sea Cliff.
Banbrock havia contado por telefone a notícia sobre a morte da sra. Correll à mulher, e ela havia lido os jornais. Ela nos disse que não conseguia pensar num motivo para o suicídio. Não conseguia imaginar qualquer ligação possível entre o suicídio e o desaparecimento das enteadas.
– A sra. Correll me pareceu quase tão alegre e contente como sempre, na última vez em que a vi, há duas ou três semanas – disse a sra. Banbrock. – Claro que, por natureza, ela tendia a se sentir insatisfeita com as coisas, mas não a ponto de fazer algo assim.
– A senhora sabe de algum problema entre ela e o marido?
– Não. Até onde eu sei, os dois eram felizes, embora...
Ela interrompeu. Seus olhos escuros demonstraram hesitação e constrangimento.
– Embora? – repeti.
– Se eu não lhes contar isso agora, vocês pensarão que eu estou escondendo alguma coisa – disse ela, ficando vermelha e dando uma risada que escondia mais nervosismo do que graça. – Não havia nenhum motivo, mas eu sempre tive um pouco de ciúme de Irma. Ela e o meu marido foram... bem, todo mundo pensava que eles iriam se casar. Foi um pouco antes de nós dois nos casarmos. Eu nunca demonstrava, e ouso dizer que era uma idéia boba, mas sempre suspeitei que Irma tivesse se casado com Stewart mais por despeito do que por qualquer outro motivo, e que ela ainda gostava de Alfred... o sr. Banbrock.
– Houve alguma coisa específica que a fizesse achar isso?
– Não, nada... de verdade! Nunca acreditei realmente nisso. Era só um tipo de sentimento vago. Malícia, sem dúvida, mais do que qualquer outra coisa.
Estava escurecendo quando Pat e eu deixamos a casa dos Banbrock. Antes de darmos o dia por encerrado, liguei para o Velho – o gerente da filial de São Francisco da Continental, portanto, meu chefe – e pedi que ele destacasse um detetive para investigar o passado de Irma Correll.
Dei uma olhada nos jornais da manhã – graças ao costume de eles aparecerem imediatamente depois de o sol sair de vista – antes de ir para a cama. Haviam dado um ótimo espaço ao nosso caso. Todos os fatos, exceto os que tinham a ver com a questão Correll estavam lá, além de fotografias e da costumeira variedade de palpites e outras porcarias do tipo.
Na manhã seguinte, fui atrás dos amigos das garotas desaparecidas com quem ainda não tinha conseguido falar. Encontrei alguns, e não consegui nada que valesse algo. No final da manhã, liguei para o escritório para ver se havia surgido alguma novidade. Havia.
– Acabamos de receber um telefonema do escritório do xerife de Martinez – disse o Velho. – Um viticultor italiano perto de Knob Valley encontrou uma fotografia chamuscada há uns dois dias e a reconheceu como sendo Ruth Banbrock quando viu a foto dela no jornal desta manhã. Você vai até lá? Um assistente do xerife e o italiano estão esperando por você no escritório do chefe de polícia de Knob Valley.
– Estou a caminho – respondi.
Na estação do ferry, usei os quatro minutos antes da partida do meu barco tentando falar com Pat Reddy ao telefone, mas sem sucesso.
Knob Valley é uma cidadezinha de menos de mil habitantes, uma cidade triste e suja no condado de Contra Costa. Um trem local São Francisco-Sacramento me deixou lá ainda no começo da tarde.
Conhecia um pouco o chefe de polícia – Tom Orth. Encontrei dois homens com ele na sala. Orth nos apresentou. Abner Paget, um homem desajeitado de quarenta e poucos anos com um queixo frouxo, rosto fino e olhos pálidos e inteligentes, era o assistente do xerife. Gio Cereghino, o viticultor italiano, era um homem pequeno e moreno escuro, com dentes amarelo-escuros que mostrava num eterno sorriso sob seu bigode negro e olhos castanhos suaves.
Paget me mostrou o retrato. Um pedaço de papel chamuscado do tamanho de meio dólar, aparentemente tudo o que não havia sido queimado do retrato original. Era o rosto de Ruth Banbrock. Não havia muito como duvidar disso. Ela estava com uma aparência estranhamente agitada – quase bêbada –, e seus olhos estavam maiores do que nas outras fotos dela que eu havia visto. Mas era seu rosto.
– Ele disse que achou isso anteontem – explicou Page secamente, acenando com a cabeça para o italiano. – O vento soprou o papel até o seu pé enquanto ele caminhava num pedaço de estrada perto da sua casa. Ele conta que o apanhou e enfiou no bolso por nenhum motivo especial, imagino. Fez uma pausa para olhar pensativo para o italiano, que assentiu vigorosamente com a cabeça.
– Enfim – prosseguiu o assistente do xerife –, ele tava na cidade hoje de manhã e viu as fotos nos jornais de São Francisco. Daí veio aqui e contou a história a Tom. Tom e eu resolvemos que a melhor coisa a fazer era ligar para a sua agência, já que os jornais diziam que eram vocês que tavam trabalhando no caso.
Olhei para o italiano. Lendo a minha mente, Paget explicou:
– Cereghino mora do outro lado da encosta. Tem um parreiral lá. Tá aqui há uns cinco ou seis anos e nunca matou ninguém, que eu saiba.
– O senhor lembra de onde encontrou a fotografia? – perguntei ao italiano.
Seu sorriso ficou mais largo sob o bigode, e ele levantou e abaixou a cabeça.
– Claro, lembro do lugar.
– Vamos até lá – sugeri a Paget.
– Certo. Você vem junto, Tom?
O chefe de polícia disse que não podia. Disse alguma coisa a ver com a cidade. Cereghino, Paget e eu saímos e entramos no Ford empoeirado do assistente do xerife.
Andamos por quase uma hora ao longo de uma estrada rural que serpenteava a encosta do Monte Diablo. Depois de algum tempo, a uma indicação do italiano, trocamos a estrada rural por outra mais empoeirada e mais esburacada. Seguimos cerca de um quilômetro e meio por ela.
– É aqui – disse Cereghino.
Paget parou o Ford. Saímos numa clareira. As árvores e os arbustos que dominaram a estrada até ali recuavam por mais ou menos seis metros de cada lado, formando um pequeno círculo empoeirado no bosque.
– Foi mais ou menos aqui – disse o italiano. – Acho que perto deste tronco. Mas tenho certeza de que foi entre aquela curva ali em frente e a outra atrás.
Paget era um homem do interior. Eu não sou. Esperei que ele se movesse.
Ele olhou lentamente ao redor na clareira, ficando parado entre o italiano e eu. Seus olhos pálidos se iluminaram imediatamente. Deu a volta no Ford até o outro lado da clareira. Cereghino e eu o seguimos.
Perto do mato na beirada da clareira, o desajeitado assistente do xerife parou para grunhir para o chão. Havia marcas de rodas de carro. Um carro havia virado ali.
Paget prosseguiu no meio das árvores. O italiano seguiu perto dele. Fui atrás. Paget estava seguindo algum tipo de pista. Eu não conseguia ver nada. Ou porque ele e o italiano impedissem a minha visão ou porque eu sou um índio fajuto. Andamos um bom pedaço.
Paget parou. O italiano parou.
– Arrã – murmurou, como se tivesse encontrado algo esperado.
O italiano disse alguma coisa que envolvia o nome de Deus. Pisei num arbusto, passando para o lado deles para ver o que eles estavam vendo. E vi.
Ao pé de uma árvore, de lado, com os joelhos dobrados perto do corpo, havia uma garota morta. Não era uma cena bonita. Seu corpo havia sido atacado por pássaros.
Um casaco marrom-tabaco semivestia seus ombros. Soube que era Ruth Banbrock antes de virá-la para olhar o lado do seu rosto que o chão havia protegido dos pássaros.
Cereghino ficou me observando enquanto eu examinava a garota. Seu rosto expressava tristeza de um modo tranqüilo. O assistente do xerife não prestou muita atenção ao corpo. Estava no mato, andando e olhando para o chão. Voltou quando terminei o meu exame.
– Foi baleada – eu disse. – Um tiro na têmpora direita. Antes disso, acho que houve uma briga. Há marcas no braço que estava debaixo do corpo. Ela está sem nada, sem jóias, sem dinheiro, nada.
– Isso confere – disse Paget. – Duas mulheres saíram do carro lá na clareira e vieram para cá. Podem ter sido três mulheres, se as outras carregaram esta. Não dá pra dizer quantas voltaram. Uma delas era maior do que esta. Houve uma luta aqui. Encontrou a arma?
– Não – respondi.
– Nem eu. Então deve ter ido embora no carro. Ali tem o que sobrou de um incêndio – inclinou a cabeça para a esquerda. – Papéis e trapos queimados. Nada o bastante para nos ajudar muito. Imagino que a fotografia que Cereghino encontrou tenha sido assoprada da fogueira. Diria que foi na noite da sexta-feira ou na manhã do sábado... Não antes disso.
Aceitei a palavra do assistente do xerife quanto a isso. Ele parecia saber do que estava falando.
– Vem cá. Quero mostrar uma coisa – disse ele, levando-me até um pequeno monte de cinzas.
Ele não tinha nada para me mostrar. Só queria falar comigo longe do italiano.
– Acho que o italiano está limpo – disse ele. – Mas creio que seja melhor segurá-lo por um tempo para ter certeza. Isso aqui fica a uma boa distância da casa dele, e ele gaguejou um pouco demais para dizer por que calhou de estar passando por aqui. Claro que isso não quer dizer muita coisa. Todos esses italianos vendem vino, e acho que foi isso que trouxe ele até aqui. Vou segurá-lo por um ou dois dias, em todo caso.
– Muito bom – concordei. – Aqui é sua área, e você conhece as pessoas. Você pode fazer algumas visitas e ver o que consegue descobrir? Se alguém viu alguma coisa? Se viu um Locomobile conversível? Ou qualquer outra coisa? Você pode conseguir mais do que eu.
– Farei isso – ele prometeu.
– Tudo bem. Então voltarei para São Francisco. Imagino que você queira ficar aqui ao lado do corpo?
– É. Leve o Ford de volta a Knob Valley e conte ao Tom o que houve. Ele virá para cá ou mandará alguém. Manterei o italiano aqui comigo.
Enquanto esperava pelo próximo trem para o Oeste para sair de Knob Valley, consegui falar com o escritório por telefone. O Velho não estava. Contei a minha história a um dos rapazes do escritório e pedi que ele informasse o Velho assim que possível.
Todo mundo estava no escritório quando cheguei a São Francisco. Alfred Banbrock, com o rosto de um cinza rosado que parecia mais morto do que se fosse cinza escuro. Seu velho advogado cor-de-rosa e branco. Pat Reddy, esparramado de costas com os pés apoiados em outra cadeira. O Velho, com os olhos gentis por trás dos óculos dourados e o sorriso suave escondendo o fato de que cinqüenta anos trabalhando como detetive haviam-no deixado sem qualquer sentimento de qualquer espécie sobre qualquer assunto.
Ninguém disse nada quando eu entrei. Disse o que tinha de dizer o mais rapidamente possível.
– Então a outra mulher... a mulher que matou Ruth foi...
Banbrock não terminou a pergunta. Ninguém a respondeu.
– Não sabemos o que aconteceu – eu disse depois de um tempo. – A sua filha e alguém que não sabemos quem é podem ter ido até lá. A sua filha podia estar morta antes de ter sido levada para lá. Ela pode ter...
– Mas a Myra! – Banbrock estava puxando o colarinho com o dedo. – Onde está a Myra?
Não soube responder. Nem eu nem nenhum dos outros.
– O senhor vai até Knob Valley agora? – perguntei.
– Sim, imediatamente. Você vai comigo?
Não senti por não poder ir.
– Não. Há muito a fazer aqui. Vou lhe dar um bilhete para o chefe de polícia. Quero que o senhor olhe cuidadosamente o pedaço de fotografia da sua filha que o italiano encontrou... para ver se o senhor se lembra dela.
Banbrock e o advogado foram embora.
Reddy acendeu um de seus terríveis charutos.
– Encontramos o carro – disse o Velho.
– Onde estava?
– Em Sacramento. Foi deixado numa oficina de lá na noite de sexta-feira ou na manhã de sábado. Foley foi até lá para investigar. E Reddy descobriu um novo ângulo.
Pat assentiu através da fumaça.
– O dono de uma casa de penhor nos procurou hoje de manhã – disse Pat – e disse que Myra Banbrock e outra garota foram até a loja dele na semana passada e penhoraram um monte de coisas. Deram nomes falsos, mas ele jura que uma delas era Myra. Reconheceu a foto dela assim que viu no jornal. Não estava acompanhada por Ruth. Era uma loirinha.
– A sra. Correll?
– Arrã. Ele não pode jurar quanto a isso, mas acho que aí está a resposta. Parte das jóias era de Myra, outra parte, de Ruth, e uma terceira parte, não sabemos. Quer dizer, não podemos provar que as jóias pertenciam à sra. Correll... mas provaremos.
– Quando tudo isso aconteceu?
– Elas empenharam as coisas na segunda-feira, antes de irem embora.
– Você falou com o Correll.
– Arrã. Conversei bastante com ele, mas suas respostas não serviram de muita coisa. Ele disse que não sabe nem se parte das jóias dela desapareceu ou não e que não se importa. Eram dela, disse ele, e ela podia fazer o que quisesse com elas. Ele foi meio desagradável. Saí-me um pouco melhor com uma das empregadas. Ela disse que algumas das jóias da sra. Correll desapareceram na semana passada. A sra. Correll disse que as havia emprestado a uma amiga. Vou mostrar as coisas que estão com a loja de penhores para a empregada amanhã para ver se ela consegue identificá-las. Ela não sabia de mais nada... exceto que a sra. Correll ficou meio fora de circulação por um tempo na sexta-feira... o dia em que as garotas Banbrock foram embora.
– Como assim, fora de circulação? – perguntei.
– Ela saiu no final da manhã e não apareceu até por volta das três da manhã. Ela e Correll tiveram um briga por causa disso, mas ela não quis lhe dizer onde havia estado.
Gostei disso. Poderia significar alguma coisa.
– E – prosseguiu Pat – Correll lembrou que a mulher tinha um tio que enlouqueceu em Pittsburgh em 1902 e que ela tinha um medo mórbido de ela própria enlouquecer e costumava dizer que se mataria se achasse que estava ficando louca. Não foi gentil da parte dele finalmente se lembrar dessas coisas? Explicar a morte dela?
– Foi – concordei. – Mas não nos leva a nada. Sequer nos prova que ele sabia alguma coisa. Agora o meu palpite é que...
– Aos diabos com o seu palpite – disse Pat, levantando-se e botando o chapéu no lugar. – Todos os seus palpites soam como estática para mim. Vou para casa, jantar, ler a Bíblia e dormir.
Imagino que foi o que fez. De qualquer modo, ele foi embora.
Nós podíamos muito bem ter passado os três dias seguintes na cama, considerando os ganhos que obtivemos com as nossas andanças. Nenhum lugar que visitamos, ninguém que interrogamos acrescentou qualquer coisa ao que já sabíamos. Estávamos num beco sem saída.
Ficamos sabendo que o Locomobile foi deixado em Sacramento por Myra Banbrock, e não por outra pessoa, mas não descobrimos aonde ela foi depois. Ficamos sabendo que parte das jóias deixadas na loja de penhor era da sra. Correll. O Locomobile foi trazido de Sacramento. A sra. Correll foi enterrada. Ruth Banbrock foi enterrada. Os jornais descobriram novos mistérios. Reddy e eu cavamos sem parar, mas tudo o que conseguimos desenterrar foi terra.
A segunda-feira seguinte me deixou nas últimas. Não parecia haver nada mais a fazer além de sentar e esperar que as circulares que havíamos espalhado por todo o país trouxessem resultados. Reddy já havia sido retirado do caso e designado para seguir trilhas mais frescas. Eu continuei nas investigações porque Banbrock queria que eu prosseguisse no caso enquanto houvesse a sombra de qualquer coisa a perseguir. Mas quando chegou a segunda-feira, eu havia me esgotado.
Antes de ir ao escritório de Banbrock dizer que eu havia sido derrotado, passei pela central de polícia para fazer o velório do caso com Pat Reddy. Ele estava debruçado sobre a mesa, escrevendo um relatório sobre outro caso.
– Olá! – cumprimentou-me, empurrando o relatório de lado e sujando-o com cinzas do charuto. – Como vai o caso Banbrock?
– Não vai – admiti. – Parece impossível, com a pilha de informações que conseguimos, que tenhamos chegado a um beco sem saída! A coisa está lá nos esperando, se conseguirmos encontrá-la. A necessidade de dinheiro antes das calamidades Banbrock e Correll, o suicídio da sra. Correll depois que eu a interroguei a respeito das garotas, o fato de ela queimar coisas antes de morrer e as coisas queimadas imediatamente antes ou depois da morte de Ruth Banbrock.
– Talvez o problema seja – sugeriu Pat – que você não seja um detetive tão bom assim.
– Talvez.
Ficamos fumando em silêncio por um ou dois minutos depois desse insulto.
– Você entende – eu disse a Pat, em seguida – que não precisa haver nenhuma ligação entre a morte de Ruth Banbrock e o desaparecimento de Myra Banbrock. Houve uma ligação, numa loja de penhor, entre as ações de Banbrock e de Correll antes dessas coisas. Se existe essa ligação, então... – parei, cheio de idéias.
– Qual é o problema? – perguntou Pat. – Engoliu o chiclete?
– Ouça! – Quase fiquei entusiasmado. – Temos o que aconteceu com três mulheres ligadas entre si. Se conseguíssemos amarrar algo mais na mesma linha... quero os nomes e os endereços de todas as mulheres e garotas de São Francisco que cometeram suicídio, foram assassinadas ou desapareceram no último ano.
– Você acha que é um negócio por atacado?
– Acho que quanto mais conseguirmos amarrar, mais linhas teremos para investigar. E elas não podem todas levar a lugar nenhum. Vamos fazer a nossa lista, Pat!
Passamos toda a tarde e a maior parte da noite fazendo a lista. Seu tamanho teria constrangido a Câmara de Comércio. Parecia-se com um grande pedaço da lista telefônica. Muitas coisas aconteciam numa cidade em um ano. A parte dedicada a mulheres e filhas perdidas era a maior, seguida de suicídios, e mesmo a menor de todas – de assassinatos – não era assim tão pequena.
Pudemos descartar a maioria dos nomes comparando com o que o Departamento de Polícia já havia descoberto e os seus motivos, deixando de lado aqueles casos definitivamente explicados de um modo sem qualquer ligação com os nossos interesses. As restantes, dividimos em duas classes: aquelas de ligação improvável, e as que tinham mais possibilidade de ligação. Ainda assim, a segunda lista ficou mais longa do que eu imaginava, ou esperava.
Havia seis suicídios, três assassinatos e vinte e um desaparecimentos.
Reddy tinha outro trabalho a fazer. Pus a lista no bolso e saí fazendo contatos.
Durante quatro dias, trabalhei exclusivamente na lista. Procurei, encontrei, interroguei e investiguei amigos e parentes das mulheres e garotas da minha lista. Todas as minhas perguntas iam na mesma direção. Ela conhecia Myra Banbrock? Ruth? A sra. Correll? Ela havia precisado de dinheiro antes de morrer ou desaparecer? Havia destruído alguma coisa antes de sua morte ou desaparecimento? Conhecia alguma das outras mulheres na minha lista?
Três vezes obtive sins como resposta.
Sylvia Varney, uma garota de vinte anos que se matara no dia 5 de novembro, havia sacado seiscentos dólares do banco na semana anterior à da sua morte. Ninguém na família sabia dizer o que ela havia feito com o dinheiro. Uma amiga de Sylvia Varney – Ada Youngman, uma mulher casada de 25 ou 26 anos – havia desaparecido no dia 2 de novembro e ainda não tinha voltado. A garota Varney tinha estado na casa da sra. Youngman uma hora antes de se matar.
A sra. Dorothy Sawdon, uma jovem viúva, havia se matado com um tiro na noite de 13 de janeiro. Não foram encontrados sequer vestígios do dinheiro que o marido havia lhe deixado nem dos fundos de um clube do qual ela era tesoureira. Uma carta volumosa que a empregada lembrava de ter lhe entregado naquela tarde jamais foi encontrada.
A ligação dessas três mulheres com o caso Banbrock-Correll estava bastante superficial. Nenhuma delas havia feito nada que não seja feito por nove entre dez mulheres que se matam ou fogem. Mas os problemas de todas as três haviam chegado ao ápice nos últimos meses. Todas as três eram mulheres mais ou menos da mesma posição social e financeira da sra. Correll e das Banbrock.
Depois de terminar a minha lista sem qualquer pista nova, voltei a essas três.
Eu tinha o nome e os endereços de 62 amigos das garotas Banbrock. Dediquei-me a conseguir o mesmo tipo de catálogo das três mulheres que estava tentando trazendo para o jogo. Não precisei fazer toda a investigação sozinho. Felizmente, havia dois ou três detetives no escritório sem nada a fazer na ocasião.
Conseguimos alguma coisa.
A sra. Sawdon conhecia Raymond Elwood. Sylvia Varney conhecia Raymond Elwood. Não havia nada que demonstrasse que a sra. Youngman o conhecesse, mas era provável que sim. Ela e a garota Varney eram muito íntimas.
Eu já havia interrogado esse Raymond Elwood a respeito das garotas Banbrock, mas não havia prestado nenhuma atenção especial a ele. Havia considerado ele apenas mais um dos muitos jovens com cabelos lisos gomalinados que tinha em minha lista.
Voltei a ele, agora absolutamente interessado. Os resultados foram promissores.
Como já havia dito, ele tinha uma imobiliária na Montgomery Street. Fomos incapazes de encontrar um único cliente que ele jamais houvesse atendido ou quaisquer sinais da existência de algum cliente. Ele tinha um apartamento no Sunset District, onde morava sozinho. Seus registros locais não pareciam ir além de dez meses atrás, embora não tenhamos conseguido encontrar seu ponto de partida específico. Aparentemente, ele não tinha familiares em São Francisco. Pertencia a dois clubes da moda. Dizia-se vagamente que era “bem relacionado na Costa Leste”. Gastava muito dinheiro.
Eu não podia seguir Elwood, já que o havia interrogado tão recentemente. Dick Foley o seguiu. Elwood esteve raramente no escritório durante os três primeiros dias em que Dick ficou atrás dele. Esteve raramente no distrito financeiro. Visitou os clubes, dançou, freqüentou chás e assim por diante, e, em todos os três dias, visitou uma casa em Telegraph Hill.
Na primeira tarde em que Dick o vigiou, Elwood foi até a casa de Telegraph Hill com uma garota alta e bonita de Burlingame. No segundo dia – à noite –, levou uma jovem gorducha que saiu de uma casa na Broadway. Na terceira noite, foi com uma garota muito jovem que parecia morar no mesmo prédio que ele.
Normalmente, Elwood e suas acompanhantes passavam de três a quatro horas na casa de Telegraph Hill. Outras pessoas – todas aparentemente bem de vida – entraram e saíram da casa enquanto ela estava sendo observada por Dick.
Subi o Telegraph Hill para dar uma espiada na casa. Era uma casa grande – uma grande casa de madeira pintada de amarelo-ovo. Parecia vertiginosamente pendurada num barranco muito íngreme no ponto em que a pedra havia sido escavada. Parecia que a casa estava prestes a sair esquiando pelos telhados abaixo.
Não havia vizinhos próximos. Os acessos eram protegidos por árvores e arbustos.
Prestei muita atenção àquela parte do morro, passando por todas as casas a um tiro de distância da casa amarela. Ninguém sabia nada sobre ela, nem sobre seus ocupantes. O pessoal de cima da encosta não é do tipo curioso – talvez porque a maioria deles tenha algo a esconder de sua parte.
O meu sobe-e-desce não me levou a nada até que consegui descobrir de quem era a casa amarela. O proprietário era um espólio cujos negócios estavam nas mãos da Companhia Fiduciária West Coast.
Levei as minhas investigações para a companhia fiduciária com certa satisfação. A casa havia sido alugada havia oito meses por Raymond Elwood, em nome de um cliente chamado T. F. Maxwell.
Não conseguimos encontrar Maxwell. Não conseguimos encontrar ninguém que conhecesse Maxwell. Não conseguimos encontrar nenhuma prova de que Maxwell fosse qualquer coisa além de um nome.
Um dos detetives foi até a casa amarela na encosta e tocou a campainha por meia hora sem resultados. Como não queríamos agitar as coisas àquela altura, não fizemos uma nova tentativa.
Subi novamente o morro, procurando uma casa para alugar. Não encontrei nada tão perto da casa amarela como gostaria, mas consegui alugar um apartamento de três cômodos do qual podia-se observar quem saía e chegava.
Dick e eu acampamos no apartamento – com Pat Reddy, quando ele não estava cuidando de seus outros casos – e vimos automóveis entrarem no caminho protegido que levava à casa cor de ovo. Havia carros à tarde e à noite. A maioria levava mulheres. Não vimos ninguém que pudéssemos considerar morador da casa. Elwood veio diariamente, uma vez sozinho, outra vez com mulheres cujos rostos não conseguíamos ver da nossa janela.
Seguimos alguns dos visitantes. Eram, sem exceção, razoavelmente bem-sucedidos financeiramente, e alguns eram socialmente proeminentes. Não abordamos nenhum deles. Até mesmo um pretexto cuidadosamente planejado corre o risco de dar errado quando se está jogando às cegas.
Depois de três dias disso, veio a nossa oportunidade.
Era começo de noite, tinha acabado de escurecer. Pat Reddy havia telefonado dizendo que tinha passado dois dias e uma noite num caso e que pretendia dormir o dia inteiro. Dick e eu estávamos sentados à janela do nosso apartamento, observando automóveis virarem em direção à casa amarela, anotando os números das placas quando eles passavam pela faixa de luz azulada de um poste de luz logo depois da nossa janela.
Uma mulher vinha subindo a encosta a pé. Era uma mulher alta e robusta. Usava um véu escuro não suficientemente espesso a ponto de alardear o fato de que o usava para esconder as feições, embora as escondesse. Seguiu o caminho encosta acima, passando pelo nosso apartamento, até o outro lado da rua.
Um vento noturno do Pacífico fazia ranger a placa de um armazém abaixo, balançando a luz do poste acima. O vento apanhou a mulher quando ela passou da área protegida por nosso edifício. O casaco e a saia se enrolaram. Ela se virou de costas para o vento, segurando o chapéu com a mão. Seu véu levantou completamente do rosto.
Seu rosto era o rosto de uma fotografia – o rosto de Myra Banbrock.
Dick identificou-a junto comigo.
– A nossa garota! – gritou ele, pulando no lugar.
– Espere – eu disse. – Ela está indo até a casa na beirada da encosta. Deixe-a ir. Vamos atrás quando ela estiver lá dentro. Será a nossa desculpa para revistar o lugar.
Fui até o cômodo ao lado, onde estava o telefone, e disquei o número de Pat Reddy.
– Ela não entrou – gritou Dick da janela. – Ela passou reto pela entrada.
– Atrás dela – ordenei. – Isso não faz sentido! Qual é o problema dela? – Eu me senti meio indignado em relação àquilo. – Ela precisa entrar! Vá atrás dela. Procuro por você depois que conseguir falar com o Pat.
Dick foi.
A mulher de Pat atendeu ao telefone. Eu disse quem era.
– Você pode tirar Pat de debaixo das cobertas e mandá-lo para cá? Ele sabe onde eu estou. Diga que preciso que ele se apresse.
– Farei isso – ela prometeu. – Ele estará aí em dez minutos... onde quer que seja.
Do lado de fora, subi pela rua, procurando por Dick e Myra Banbrock. Nenhum estava à vista. Depois dos arbustos que escondiam a casa amarela, continuei, dando a volta por um caminho de pedra à esquerda. Nenhum sinal deles ali também.
Virei-me a tempo de ver Dick entrando no apartamento. Fui atrás.
– Ela está lá dentro – disse ele, quando o alcancei. – Ela subiu pela rua, atalhou por entre uns arbustos, foi até a beirada do penhasco e entrou passando primeiro os pés por uma janela do porão.
Isso era bom. Como regra, quanto mais malucas são as atitudes das pessoas que você está investigando, mais perto você está de pôr um fim aos seus problemas.
Reddy chegou um ou dois minutos depois do tempo que a mulher dele havia prometido. Chegou abotoando as roupas.
– Que diabos você disse a Althea? – ele rosnou para mim. – Ela me deu um sobretudo para pôr sobre o pijama, atirou o resto das minhas roupas no carro, e eu tive de me vestir no caminho para cá.
– Eu choro com você daqui a pouco – eu disse, ignorando suas reclamações. – Myra Banbrock acabou de entrar na casa por uma janela do porão. Elwood está lá há uma hora. Vamos acabar com essa história.
Pat é um sujeito cauteloso.
– Precisaríamos de mandados, mesmo assim – protelou ele.
– Claro – concordei. – Mas você pode acertar tudo depois. É para isso que você está aqui. O condado de Contra Costa está atrás dela, talvez para acusá-la de assassinato. É a desculpa de que precisamos para entrar nessa casa. Vamos lá por causa dela. Se acontecer de nos depararmos com qualquer outra coisa... melhor ainda.
Pat terminou de abotoar o colete
– Ah, está bem! – disse ele em tom azedo. – Como você preferir. Mas se eu me der mal por vasculhar uma casa sem autorização, vai ter que me conseguir um emprego na sua agência infratora da lei.
– Está bem. – Virei-me para Foley. – Você vai ter de ficar do lado de fora, Dick. Fique de olho na saída. Não incomode mais ninguém, mas se a garota Banbrock sair, fique atrás dela.
– Eu já esperava – queixou-se Dick. – Sempre que tem alguma coisa divertida, posso contar que vou ficar preso em alguma esquina!
Pat Reddy e eu subimos direto o caminho escondido pelos arbustos até a porta da frente da casa amarela e tocamos a campainha.
Um grande homem negro de chapéu vermelho, vestindo um casaco vermelho de seda sobre uma camisa de seda listrada de vermelho, calças de zuavo vermelhas e sapatos vermelhos abriu a porta. Ele ocupava toda a abertura, emoldurado pela escuridão do hall atrás de si.
– O sr. Maxwell está? – perguntei.
O negro sacudiu a cabeça e disse alguma coisa numa língua que não compreendi.
– O sr. Elwood, então?
Ele sacudiu a cabeça novamente e voltou a falar na língua estranha.
– Vamos ver quem está em casa, então – insisti.
Na confusão de palavras que não significavam nada para mim, identifiquei três num inglês distorcido, que acreditei serem “patrão”, “não” e “casa”.
A porta começou a se fechar, mas segurei-a com o pé.
Pat mostrou o distintivo.
Embora o negro falasse pouco inglês, conhecia distintivos policiais.
Bateu com um dos pés no chão atrás de si. Um gongo ensurdecedor ressoou nos fundos da casa.
O negro jogou o peso do corpo contra a porta.
Concentrando o peso do meu corpo no pé que segurava a porta, inclinei-me para o lado, balançando-me em direção a ele.
Partindo dos quadris, dei-lhe um murro no meio do seu corpo.
Reddy deu um encontrão na porta e entrou no hall.
– Deus do céu, baixinho gordo – arquejou o negro num bom sotaque da Virgínia – você me machucô.
Reddy e eu passamos por ele e seguimos pelo hall cujos limites se perdiam na escuridão.
A base de uma escada parou os meus pés.
Uma arma foi disparada no andar de cima. Parecia estar apontada na nossa direção. Não fomos atingidos.
Uma algazarra de vozes – mulheres berrando, homens gritando – ia e vinha no andar de cima. Ia e vinha conforme uma porta era aberta e fechada.
– Para cima, garoto! – gritou Reddy no meu ouvido.
Subimos a escada. Não encontramos o homem que havia atirado na gente.
No topo da escada, havia uma porta trancada. Reddy forçou-a com o peso do corpo.
Chegamos a uma luz azulada. Era um ambiente grande, todo púrpura e dourado. Havia uma confusão de mobília estragada e tapetes amarrotados. Um sapato cinza repousava perto de uma porta distante. Um vestido de seda verde estava no meio do chão. Não havia ninguém ali.
Corri com Pat até a porta acortinada depois do sapato. A porta não estava trancada. Reddy a escancarou.
Era um quarto com três garotas e um homem encolhidos num canto, com expressões de medo no rosto. Nenhum deles era Myra Banbrock ou Raymond Elwood nem ninguém que conhecêssemos.
Nossos olhares se afastaram deles depois da primeira olhadela rápida.
A porta aberta do outro lado do quarto chamou a nossa atenção.
A porta dava para um quarto pequeno.
O quarto estava um caos.
Um quarto pequeno, entulhado com um emaranhado de corpos. Corpos vivos, fervilhantes, retorcidos. O quarto era um funil no qual homens e mulheres haviam sido derramados. Eles fervilhavam com muito barulho em direção a uma janelinha que era a saída do funil. Homens e mulheres, rapazes e garotas gritando, empurrando, contorcendo-se, brigando. Alguns estavam sem roupas.
– Vamos passar por eles e fechar a janela! – Pat gritou no meu ouvido.
– Uma ova... – comecei, mas ele tinha se metido na confusão.
Fui atrás dele.
Não tinha a intenção de bloquear a janela, mas sim salvar Pat de sua tolice. Nem cinco homens seriam capazes de atravessar aquele agitado tumulto de maníacos. Nem dez homens conseguiriam tê-los afastado da janela.
Pat – grande como é – estava no chão quando o alcancei. Uma garota seminua – uma criança – estava batendo no rosto dele com saltos altos e afiados. Mãos e pés estavam-no estraçalhando.
Libertei-o batendo com o cano do revólver em queixos e punhos e arrastei-o de volta para fora do quarto.
– Myra não está lá! – gritei no ouvido dele, ajudando-o a se levantar. – Elwood não está lá!
Não tinha certeza, mas não os havia visto e duvidava que eles fossem estar naquela bagunça. Aqueles selvagens, novamente seguindo enlouquecidos para a janela, sem prestarem atenção à gente, quem quer que fossem, não eram da casa. Era visitantes, e os líderes do esquema não deviam estar entre eles.
– Vamos procurar nos outros quartos – gritei novamente. – Não queremos esses aqui.
Pat esfregou as costas da mão no rosto machucado e riu.
– É certo que eu não quero mais – disse ele.
Voltamos ao topo da escada pelo mesmo caminho de antes. Não vimos ninguém. O homem e as garotas que estavam no quarto ao lado haviam desaparecido.
No topo da escada paramos um pouco. Não havia nenhum barulho atrás de nós, além da algazarra agora mais distante dos malucos brigando para sair.
Uma porta se fechou rapidamente lá embaixo.
Um corpo surgiu do nada, bateu nas minhas costas e atirando-me no patamar da escada.
Senti o toque de seda em meu rosto. Uma mão forte tateava em minha garganta.
Torci o pulso até a arma, de cabeça para baixo e apoiei no meu rosto. Rezando pelo meu ouvido, apertei o gatilho.
Meu rosto pegou fogo, minha cabeça parecia uma coisa rugindo, prestes a estourar.
A seda escorregou.
Pat me levantou.
Começamos a descer a escada.
Swish!
Uma coisa passou pelo meu rosto, mexendo nos meus cabelos soltos.
Mil pedaços de vidro, porcelana e gesso explodiram para cima à minha esquerda.
Virei a cabeça e a arma ao mesmo tempo.
Os braços cobertos de seda vermelha de um negro ainda estavam estendidos sobre o corrimão acima.
Atirei duas vezes. Pat atirou outras duas.
O negro balançou sobre o corrimão.
Caiu sobre nós com os braços abertos – o mergulho de um homem morto.
Corremos escada abaixo para longe do seu corpo.
Ele sacudiu a casa ao aterrissar, mas não estávamos mais olhando.
A cabeça bem penteada de Raymond Elwood chamou nossa atenção.
À luz que vinha de cima, ela apareceu por uma fração de segundo furtiva atrás do pilar de apoio no pé da escada. Apareceu e desapareceu.
Mais perto do corrimão do que eu, Pat Reddy foi atrás dele com um salto apoiando-se em uma das mãos para o meio da escuridão abaixo.
Cheguei ao pé da escada em dois saltos, dei a volta com uma mão no pilar de apoio e mergulhei na subitamente barulhenta escuridão do hall.
Bati numa parede que não consegui ver. Ricocheteando na janela oposta, girei para dentro de um quanto cuja luminosidade cinzenta protegida por cortinas era como a luz do dia, comparada ao hall.
Pat Reddy estava de pé, apoiando-se com uma mão nas costas de uma cadeira e segurando a barriga com a outra. Sob o sangue, o rosto estava com cor de rato. Os olhos estavam vidrados de agonia. Tinha a aparência de um homem que havia levado um chute.
Fracassou ao tentar sorrir. Acenou com a cabeça para os fundos da casa. Voltei.
Num pequeno corredor, encontrei Raymond Elwood.
Ele estava soluçando e puxando freneticamente uma porta trancada. Tinha o rosto branco de terror absoluto.
Calculei a distância entre nós.
Ele se virou quando saltei.
Pus tudo o que tinha no golpe com o cano da minha arma...
Uma tonelada de carne e osso bateu em minhas costas.
Encostei-me numa parede sem fôlego, zonzo, nauseado.
Braços de seda vermelha que terminavam em mãos marrons estavam presos em volta de mim.
Imaginei se havia todo um regimento daqueles negros espalhafatosos, ou se eu estava dando de cara com o mesmo sem parar.
Esse específico não me deixou pensar muito.
Ele era grande. Ele era forte. Ele não queria me fazer nenhum bem.
Meu braço do revólver estava esticado ao meu lado, apontando para baixo. Tentei atirar num dos pés do Negro. Errei. Tentei de novo. Ele mexeu o pé. Balancei o corpo, meio que olhando de frente para ele.
Elwood atacou-me pelo outro lado.
O negro me puxou para trás, dobrando a minha coluna sobre si mesma como um acordeão.
Lutei para manter os joelhos duros. Havia muito peso sobre mim. Meus joelhos amoleceram. Meu corpo se curvou para trás.
Balançando na porta, Pat Reddy brilhou sobre o ombro do negro como o Anjo Gabriel.
Seu rosto tinha uma dor cinzenta, mas os olhos estavam límpidos. A mão direita segurava uma arma. A esquerda estava tirando um cassetete de borracha do bolso de trás das calças.
Ele deu um golpe na cabeça raspada do negro.
O sujeito se afastou de mim girando e sacudindo a cabeça.
Pat acertou-o mais uma vez antes que o negro o alcançasse – bateu em cheio no seu rosto, mas não conseguiu derrubá-lo.
Girando a minha mão livre para cima, atingi Elwood direto no peito e deixei-o escorregar comigo até o chão.
O negro estava segurando Pat contra a parede, incomodando-o muito. Suas amplas costas vermelhas eram um alvo.
Mas eu tinha usado cinco das seis balas da minha arma. Tinha mais no bolso, mas recarregar toma tempo.
Livrei-me das mãos débeis de Elwood e fui bater com a lateral da minha arma no negro. Havia uma faixa de gordura onde seu crânio se encontrava com o pescoço. Da terceira vez em que o atingi, ele caiu, levando Pat junto.
Rolei-o para o lado. O detetive policial loiro – agora não tão loiro – se levantou.
Na outra ponta do corredor, uma porta aberta mostrava uma cozinha vazia.
Pat e eu fomos até a porta que Elwood estivera tentando abrir. Era uma peça sólida de carpintaria, muito bem acabada.
Emparelhados, começamos a nos jogar contra a porta com nossos 160 ou 170 quilos combinados.
A porta sacudiu, mas se manteve no lugar. Batemos de novo. Algum pedaço de madeira que não conseguíamos ver se partiu.
De novo.
A porta se abriu de repente. Atravessamos – descendo um lance de escada – rolando degraus abaixo – até aterrissarmos num piso de cimento.
Pat voltou à vida primeiro.
– Você é um senhor acrobata – disse ele. – Saia de cima do meu pescoço!
Eu me levantei. Ele se levantou. Parecíamos estar dividindo a noite em cairmos no chão e nos levantarmos do chão.
Havia um interruptor de luz na altura do meu ombro. Acionei-o.
Se eu estava minimamente parecido com o Pat, nós dois formávamos uma bela dupla de pesadelos. Ele era pura carne viva e sujeira, sem roupas suficientes para esconder muito de uma ou outra coisa.
Não gostei da cara dele, então olhei ao redor no porão no qual nos encontrávamos. Nos fundos havia uma fornalha, depósitos de carvão e uma pilha de lenha. À frente, um corredor e quartos, como nos andares de cima.
A primeira porta que experimentamos estava trancada, mas não muito. Nós a arrombamos e demos num quarto escuro de fotografia.
A segunda porta estava destrancada, e dava para um laboratório químico: destiladores, tubos, queimadores e um pequeno alambique. Havia um pequeno fogão redondo de ferro no meio do quarto. Não havia ninguém ali.
Saímos para o corredor e entramos na terceira porta, não muito animados. Aquele porão parecia um erro. Estávamos perdendo tempo ali. Deveríamos ter ficado lá em cima. Tentei abrir a porta.
Estava firme como uma rocha.
Tentamos arrombá-la juntos, com o nosso peso. A porta não se mexeu.
– Espere.
Pat foi até a pilha de lenha nos fundos e voltou com um machado.
Bateu com o machado na porta, arrancando um pedaço de madeira. Pontos prateados de luz reluziram do buraco. O outro lado da porta era uma placa de ferro ou aço.
Pat baixou o machado e se apoiou no cabo.
– Você dá a próxima receita – disse ele.
Eu não tinha nada a sugerir, exceto:
– Eu fico aqui. Você corre lá em cima e vê se algum dos seus policiais apareceu. Estamos num buraco esquecido por Deus, mas alguém deve ter dado o alarme. Veja se você consegue encontrar outra entrada para este quarto – uma janela, talvez – ou gente suficiente para conseguirmos passar por estar porta.
Pat virou-se em direção aos degraus.
Um som o fez parar – o barulho de botas do outro lado da porta de aço.
Num salto, Pat parou num dos lados do batente. Com um passo, parei do outro lado.
A porta se mexeu devagar. Devagar demais.
Abri-a com um chute.
Pat e eu entramos no quarto em seguida.
Ele deu com o ombro na mulher. Consegui segurá-la antes que caísse.
Pat pegou a arma dela. Ajudei-a a se reequilibrar.
Seu rosto era um quadrado pálido e inexpressivo.
Era Myra Banbrock, mas não tinha nada da masculinidade que havia em suas fotos e descrições.
Firmando-a com um braço – o que também serviu para segurar as suas mãos – olhei ao redor no quarto.
Um pequeno cubo cujas paredes eram pintadas de marrom metálico. No chão, um esquisito homenzinho, morto.
Um homenzinho vestindo uma roupa preta justa de veludo e seda. Blusa e calções de veludo preto, meias e solidéu de seda preta, sapatos de couro preto. Tinha o rosto pequeno, velho e ossudo, mas liso como uma pedra, sem qualquer marca ou ruga.
Havia um buraco em sua blusa, bem abaixo do queixo. O buraco sangrava bem lentamente. O chão ao seu redor mostrava que o sangramento estivera mais forte há pouco tempo.
Atrás dele, um cofre aberto. Diante dele, papéis espalhados no chão, como se o cofre tivesse sido virado para derrubá-los.
A garota se mexeu em meu braço.
– Você o matou? – perguntei.
– Sim – tão baixo que seria inaudível a um metro de distância.
– Por quê?
Ela sacudiu os curtos cabelos castanhos dos olhos com um movimento cansado da cabeça.
– Faz alguma diferença? – ela perguntou. – Eu o matei.
– Pode fazer diferença – eu disse, afastando o braço e indo fechar a porta. As pessoas falam com mais liberdade num ambiente com a porta fechada. – Acontece que eu fui contratado pelo seu pai. O sr. Reddy é um detetive policial. Claro que nenhum de nós pode passar por cima das leis, mas se você nos contar tudo, talvez possamos ajudá-la.
– Contratado pelo meu pai? – ela perguntou.
– Sim. Quando você e a sua irmã desapareceram, ele me contratou para encontrá-las. Encontramos a sua irmã, e...
Seu rosto, seus olhos e a sua voz ganharam vida.
– Eu não matei a Ruth! – ela gritou. – Os jornais mentiram! Eu não a matei! Eu não sabia que ela estava com o revólver. Eu não sabia! Nós estávamos fugindo para nos escondermos de... de tudo. Paramos no bosque para queimar as... aquelas coisas. Foi quando soube que ela estava com o revólver. Nós havíamos falado em suicídio primeiro, mas eu a havia convencido... achei que a havia convencido... a não ir em frente. Tentei tirar o revólver dela, mas não consegui. Ela se matou quando eu estava tentando tirar a arma da sua mão. Tentei impedi-la. Eu não a matei!
Estávamos indo a algum lugar.
– E então? – eu a encorajei.
– Então eu fui para Sacramento, deixei o carro lá e voltei para São Francisco. A Ruth me contou que havia escrito uma carta para Raymond Elwood. Ela me disse isso antes de eu convencê-la a não se matar... da primeira vez. Tentei pegar a carta com Raymond. Ela havia escrito a ele dizendo que ia se matar. Tentei pegar a carta, mas Raymond disse que a havia entregado a Hador.
– Então eu vim aqui esta noite para pegá-la. Tinha acabado de encontrá-la quando ouvi muito barulho lá em cima. Então Hador entrou e me encontrou. Ele trancou a porta. E... e eu o matei com o revólver que estava no cofre. Eu... eu o matei quando ele se virou, antes que pudesse dizer qualquer coisa. Tinha de ser assim, senão eu não conseguiria.
– Você quer dizer que atirou nele sem ser ameaçada ou atacada por ele? – Pat perguntou.
– Sim. Eu fiquei com medo dele, com medo de deixá-lo falar. Eu o odiava! Não podia evitar. Tinha de ser assim. Se ele tivesse falado, eu não teria conseguido matá-lo. Ele... ele não teria deixado!
– Quem era esse Hador? – perguntei.
Ela desviou o olhar. Olhou para as paredes, o teto, o homenzinho esquisito morto no chão.
– Ele era um... – Limpou a garganta e recomeçou, olhando fixamente para os pés. – Raymond Elwood nos trouxe aqui a primeira vez. Nós achamos divertido, mas Hador era um demônio. Ele dizia coisas, e nós acreditávamos. Não dava para evitar. Ele dizia tudo e nós acreditávamos. Talvez estivéssemos drogadas. Havia sempre um vinho quente azulado. Devia ter alguma droga. Não poderíamos ter feito aquelas coisas se não fosse. Ninguém faria... Ele se autodenominava um sacerdote... um sacerdote de Alzoa. Ele ensinava uma libertação do espírito da carne por...
Sua voz falhou, rouca. Ela estremeceu.
– Era horrível! – ela prosseguiu imediatamente com o silêncio que Pat e eu deixamos para ela. – Mas acreditávamos nele. Isso é tudo. Não dá para compreender nada sem antes compreender isso. As coisas que ele ensinava podiam não ser verdade. Mas ele dizia que eram, e nós acreditávamos que eram. Ou talvez... não sei... talvez nós fingíssemos que acreditávamos porque estávamos loucos e havia droga na nossa corrente sangüínea. Voltamos sem parar, por semanas, meses, antes que a aversão inevitável nos afastasse.
– Paramos de vir, Ruth e eu... e Irma. E então descobrimos o que ele era. Ele exigia dinheiro, mais do que vínhamos pagando quando acreditávamos... ou fingíamos acreditar... em seu culto. Não podíamos dar-lhe o dinheiro que ele estava exigindo. Eu disse que não iríamos pagar. Ele enviou fotos, nossas, tiradas durante... durante o tempo que passamos aqui. Eram... fotos... que... não se pode... explicar. E eram verdadeiras! Sabíamos que eram verdadeiras! O que podíamos fazer? Ele disse que mandaria cópias para o nosso pai, a todos os amigos, a todas as pessoas que conhecíamos. A não ser que pagássemos.
– O que podíamos fazer... além de pagar? Demos um jeito de conseguir o dinheiro. Nós lhe demos dinheiro... mais e mais e mais. E então não tínhamos mais dinheiro... não tínhamos como conseguir. Não sabíamos o que fazer! Não havia nada a fazer além de... Ruth e Irma queriam se matar. Eu também pensei nisso. Mas convenci Ruth a não ir em frente. Disse que iríamos embora. Eu a levaria embora... cuidaria dela. E então... então... aconteceu isso!
Ela parou de falar e continuou olhando fixamente para os pés.
Olhei novamente para o homenzinho morto no chão, esquisito com seu solidéu preto e suas roupas. Não havia mais sangue saindo da sua garganta.
Não foi difícil juntar as peças do quebra-cabeça. Aquele Hador morto, sacerdote auto-ordenado de alguma coisa, patrocinava orgias sob o disfarce de cerimônias religiosas. Elwood, seu cúmplice, levava mulheres de famílias ricas até ele. Um quarto iluminado para fotografias, com uma câmera escondida. Contribuições dos convertidos enquanto fossem fiéis ao culto. Depois, chantagem, com ajuda das fotos.
Olhei de Hador para Pat Reddy. Ele estava fazendo uma careta para o morto. Não se ouvia nada do lado de fora do quarto.
– Você está com a carta que a sua irmã escreveu a Elwood? – perguntei à garota.
Levou a mão aos seios e amassou o papel que estava lá.
– Sim.
– Diz simplesmente que ela pretendia se matar?
– Sim.
– Isso deve livrá-la diante do Condado de Contra Costa – eu disse a Pat.
Ele assentiu com a cabeça machucada.
– Creio que sim – concordou ele. – É pouco provável que eles consigam provas para acusá-la de assassinato mesmo sem a carta. Com a carta, não a levarão a julgamento. É uma aposta segura. Outra é que ela não terá nenhum problema com relação a esta morte. Ela sairá livre do julgamento, e ainda lhe agradecerão pelo acordo.
Myra Banbrock afastou-se de Pat como se ele tivesse batido em seu rosto.
Agora eu era o homem contratado pelo pai dela. Vi o seu lado do caso.
Acendi um cigarro e examinei o que dava para ver do rosto de Pat através do sangue e da sujeira. Pat é um cara correto.
– Escute aqui, Pat – disse eu, tentando agradá-lo, ainda que com um tom de voz que parecia que eu não estava de modo algum tentando agradá-lo. – A srta. Banbrock pode ir a julgamento e sair livre e recebendo agradecimentos, como você disse. Mas, para fazer isso, ela precisará usar tudo o que sabe. Ela precisará de todas as provas que houver. Ela terá de usar todas aquelas fotografias que Hador tirou... ou todas que conseguirmos encontrar.
– Algumas dessas fotos levaram mulheres a cometer suicídio, Pat... pelo menos duas de que sabemos. Se a srta. Banbrock for a julgamento, teremos de tornar públicas fotografias de sabe Deus quantas outras mulheres. Teremos de divulgar coisas que porão a srta. Banbrock – e não se sabe quantas outras mulheres e garotas – numa posição da qual pelo menos duas mulheres se mataram para escapar.
Pat fez uma careta para mim e esfregou o queixo sujo com um polegar ainda mais sujo.
Respirei fundo e joguei meu trunfo.
– Pat, você e eu viemos para interrogar Raymond Elwood depois de segui-lo até aqui. Talvez suspeitássemos que ele estivesse ligado ao bando que assaltou o banco St. Louis no mês passado. Talvez suspeitássemos que ele estivesse mexendo na mercadoria que foi roubada dos carros dos correios naquele assalto perto de Denver na semana retrasada. Enfim, nós estávamos atrás dele, sabendo que ele tinha muito dinheiro que vinha do nada e uma imobiliária que não negociava imóveis.
“Viemos interrogá-lo sobre sua ligação com algum desses casos que eu mencionei. Fomos atacados por dois dos Negros lá de cima quando eles descobriram que éramos detetives. O resto veio a partir disso. Esse negócio de culto religioso foi só uma coisa com a qual nos deparamos e não nos interessava especificamente. Até onde sabemos, todos esses sujeitos nos atacaram apenas por amizade pelo homem que estávamos tentando interrogar. Hador era um deles e, lutando com você, levou um tiro da própria arma, que, é claro, é a arma que a srta. Banbrock encontrou no cofre.”
Reddy não pareceu gostar nem um pouco da minha sugestão. O olhar com que me encarava era absolutamente azedo.
– Você está doido – disse ele, acusando-me. – De quê vai adiantar? Isso não vai manter a srta. Banbrock de fora. Ela está aqui, não está? E o resto virá como um fio de uma meada.
– Mas a srta. Banbrock não estava aqui – expliquei. – Talvez o andar de cima esteja cheio de policiais a esta altura. Talvez não. De qualquer maneira, você vai levar a srta. Banbrock embora daqui e entregá-la a Dick Foley, que a levará para casa. Ela não tem nada a ver com esta festa. Amanhã, ela, o pai, o advogado do pai e eu iremos até Martinez para fechar um acordo com o promotor do condado de Contra Costa. Vamos mostrar como Ruth se matou. Se alguém vier a ligar o Elwood que eu espero que esteja morto lá em cima com o Elwood que conhecia as garotas e a sra. Correll, e daí? Se ficarmos fora do tribunal, que é o que faremos se convencermos o pessoal de Contra Costa que eles não têm como condená-la pelo assassinato da irmã, ficaremos longe dos jornais, e longe dos problemas.
Pat suspendeu o fogo, ainda coçando o queixo com o polegar.
– Lembre-se – pressionei – de que não é apenas pela srta. Banbrock que estamos fazendo isso. É por duas mulheres mortas e uma porção de outras vivas que certamente acabaram envolvidas com Hador de livre e espontânea vontade, mas que não deixaram de ser seres humanos por causa disso.
Pat sacudiu a cabeça teimosamente.
– Sinto muito – eu disse à garota fingindo desesperança. – Fiz tudo o que podia, mas é muito pedir isso ao Reddy. Não sei se o culpo por ter medo de se arriscar...
Pat é irlandês.
– Pode ir com calma – reagiu ele, rispidamente, interrompendo a minha hipocrisia. – Por que tenho de ser eu a matar o Hador? Por que não você?
Ele estava no papo!
– Porque – expliquei – você é da polícia, e eu não. Haverá menos chances de um escorregão se ele foi morto por um autêntico policial da paz, estrelado e intuitivo. Eu matei a maioria daqueles passarinhos lá em cima. Você precisa fazer alguma coisa para mostrar que esteve aqui.
Essa era só parte da verdade. A minha idéia era que, se Pat assumisse o crédito, depois ele não poderia simplesmente se esquivar muito, independentemente do que acontecesse. Pat é um cara correto, e eu confiaria nele em qualquer lugar – mas podemos confiar num homem com a mesma facilidade se o temos bem amarrado.
Pat resmungou e sacudiu a cabeça, mas rosnou:
– Estou acabando comigo, não tenho dúvida. Mas vou fazer isso. Desta vez.
– Grande garoto! – fui pegar o chapéu da garota do canto em que estava largado. – Ficarei esperando aqui até você voltar depois de levá-la até o Dick. – Entreguei o chapéu e dei algumas ordens à garota. – Vá até a sua casa com o homem com quem Reddy vai deixar você. Fique lá até eu chegar, que vai ser o mais rápido que eu conseguir. Não diga nada a ninguém, exceto que eu lhe disse para não dizer nada. Isso inclui o seu pai. Diga que eu lhe disse para não contar nem mesmo onde você me viu, entendeu?
– Sim, e eu...
Gratidão é algo bom em que se pensar depois de tudo, mas toma muito tempo quando se tem trabalho a fazer.
– Vá indo, Pat.
Os dois saíram.
Assim que fiquei sozinho com o morto, passei por cima dele e me ajoelhei diante do cofre. Tirei cartas e papéis do caminho e comecei a procurar fotografias. Não havia nenhuma à vista. Um dos compartimentos do cofre estava trancado.
Revistei o corpo. Nenhuma chave. O compartimento trancado não era muito forte, mas eu também não sou o melhor arrombador de cofres do Oeste. Levei um tempo para abri-lo.
O que eu queria estava lá. Um grosso maço de negativos. Uma pilha de fotos impressas – umas cinqüenta.
Comecei a olhá-las, em busca das fotos das garotas Banbrock. Queria escondê-las antes de Pat voltar. Não sabia quanto mais ele me deixaria ir.
A sorte estava contra mim – e o tempo que eu havia perdido para abrir o compartimento. Ele voltou antes que eu tivesse visto a sexta foto da pilha. Todas as seis eram... muito ruins.
– Tudo feito – Pat rosnou para mim quando entrou no quarto. – Dick está com ela. Elwood está morto, assim como o único dos negros que vi lá em cima. Todos os outros parecem ter dado no pé. Como não apareceu nenhum policial, pedi para enviarem um batalhão.
Fiquei de pé, segurando o maço de negativos numa mão e as fotos impressas na outra.
– O que é tudo isso? – ele perguntou.
Fui atrás dele novamente.
– Fotografias. Pat, você acabou de me fazer um grande favor, e eu não sou egoísta o bastante para pedir mais um. Mas vou botar uma coisa na sua frente, Pat. Vou explicar a situação, e você decidirá.
– Isto aqui – acenei as fotos diante dele – são o ganha-pão de Hador. São as fotos que ele estava colecionando ou com as quais pretendia coletar mais coisas. São fotografias de pessoas, a maioria de mulheres e garotas, e algumas são muito podres, Pat.
“Se os jornais de amanhã informarem que uma porção de fotos foi encontrada nesta casa depois do tiroteio, os jornais do dia seguinte terão uma grande lista de suicídios e uma lista maior ainda de desaparecimentos. Se os jornais não disserem nada a respeito das fotos, as listas poderão ser um pouco menores, mas não muito. Algumas das pessoas que aparecem nessas fotos sabem que elas existem. Ficarão esperando que a polícia vá atrás delas. Sabemos o seguinte sobre as fotografias: duas mulheres se mataram para se livrarem delas. É um punhado de coisas que podem dinamitar muita gente, Pat, e muitas famílias... independentemente de qual das duas informações sair nos jornais.
“Mas, imagine, Pat, se os jornais disserem que pouco antes de você matar Hador ele tenha conseguido queimar um monte de fotos e papéis, incinerando-os sem deixar vestígios. Não é provável, então, que não haja nenhum suicídio? Que alguns dos desaparecimentos dos últimos meses possam se resolver? Aí está, Pat... a decisão é sua.
Lembrando da situação, tenho a impressão de que cheguei o mais perto da eloqüência do que jamais havia chegado na vida.
Mas Pat não me aplaudiu. Ele me xingou. Ele me xingou com afinco, amargamente, e com uma porção de sentimentos que me disseram que eu havia marcado mais um ponto no meu joguinho. Ele me chamou de mais coisas do que eu jamais havia ouvido antes de um homem de carne e osso e que, portanto, podia levar um soco.
Quando ele terminou, levamos os papéis, as fotografias e um caderninho de endereço que encontramos no cofre para o quarto ao lado e os botamos dentro do pequeno fogão de ferro que havia lá. Tudo havia virado cinza antes de ouvirmos a polícia chegando no andar de cima.
– Isso é absolutamente tudo! – declarou Pat quando nos levantamos. – Nunca mais me peça para fazer qualquer coisa nem que você viva mil anos.
– Isso é absolutamente tudo – repeti.
Eu gosto do Pat. Ele é um cara correto. A sexta fotografia na pilha era da mulher dele – a filha impulsiva e de olhos ardentes do importador de café.
Esse negócio de rei
O trem de Belgrado me deixou em Stefania, capital da Morávia, no começo da tarde – uma tarde horrorosa. O vento frio soprou chuva fria no meu rosto e pescoço abaixo quando saí do celeiro de granito que funcionava como estação ferroviária para tomar um táxi.
Inglês não disse nada ao motorista. Francês tampouco. Um bom alemão também teria fracassado. O meu não era bom. Era uma confusão de grunhidos e gargarejos. Esse motorista foi a primeira pessoa que fingiu entender o que eu dizia. Suspeitei que ele estivesse adivinhando, e imaginei que seria levado a algum ponto distante no subúrbio. Talvez ele fosse um bom adivinhador. De qualquer maneira, ele me levou ao Hotel da República.
O hotel era um prédio de seis andares, muito orgulhoso de seus elevadores, seus encanamentos americanos, os banheiros particulares e outros truques modernos. Depois de me refrescar e trocar de roupa, desci até o café para almoçar. Então, abastecido de instruções em inglês, francês e mímica por um porteiro muito bem uniformizado, virei o colarinho da capa de chuva para cima e atravessei a praça enlameada para visitar Roy Scanlan, chargé d’affaires dos Estados Unidos no mais jovem e menor Estado dos Bálcãs.
Era um homem rechonchudo de trinta anos, com cabelos lisos já bastante grisalhos, um rosto flácido nervoso, mãos brancas gorduchas agitadas e roupas muito boas. Apertou a minha mão, indicou-me uma cadeira para eu me sentar, mal olhou para a minha carta de apresentação e ficou olhando fixamente para a minha gravata enquanto dizia:
– Então você é detetive particular em São Francisco?
– Sim.
– E?
– Lionel Grantham.
– Claro que não!
– Sim.
– Mas ele... – O diplomata percebeu que estava olhando nos meus olhos, desviou apressadamente o olhar para os meus cabelos e esqueceu o que tinha começado a dizer.
– Mas ele o quê? – provoquei.
– Ah! – disse ele com um vago movimento da cabeça e das sobrancelhas para cima. – Não é desse tipo.
– Há quanto tempo ele está aqui? – perguntei.
– Há dois meses. Talvez três meses e meio.
– Você o conhece bem?
– Ah, não. De vista, é claro, e de conversas. Ele e eu somos os únicos americanos aqui, de modo que nos conhecemos mais ou menos.
– Sabe o que ele está fazendo aqui?
– Não, não sei. Imagino que tenha simplesmente parado aqui em suas viagens, a menos, é claro, que esteja aqui por algum motivo especial. Não há dúvidas de que tem uma garota no meio – ela é filha do general Radnjak –, embora eu ache que não.
– Como ele passa o tempo?
– Eu realmente não faço idéia. Ele mora no Hotel da República, é um dos preferidos da nossa colônia de estrangeiros, monta um pouco a cavalo, vive a vida normal de um jovem de família rica.
– Está metido com alguém com quem não deveria estar envolvido?
– Não que eu saiba, a não ser pelo fato de eu o ter visto com Mahmoud e Einarson. Os dois são certamente uns patifes, embora, por outro lado, talvez não sejam.
– Quem são eles?
– Nubar Mahmoud é secretário particular do dr. Semich, o presidente. O coronel Einarson é islandês, atualmente o virtual chefe do exército. Não sei nada a respeito de nenhum dos dois.
– Exceto que eles são patifes?
O chargé d’affaires enrugou a testa branca e redonda com uma expressão de dor e me deu um olhar de repreensão.
– De modo algum – disse ele. – Agora, posso perguntar, do que esse Grantham é suspeito?
– De nada.
– Então?
– Há sete meses, no seu aniversário de 21 anos, esse Lionel Grantham pôs as mãos em todo o dinheiro que o pai havia lhe deixado – uma senhora quantia. Até então, o garoto tinha levado uma vida difícil. Sua mãe tinha, e tem, noções de refinamento de classe média altamente desenvolvidas. Seu pai foi um genuíno aristocrata à moda antiga – um indivíduo de alma dura e fala mansa que conseguia o que queria simplesmente pegando para si, com uma predileção por vinhos antigos e mulheres jovens, e muito das duas coisas, e também por cartas, dados e cavalos. E lutas também, quer estivesse participando ou assistindo.
“Enquanto ele viveu, o garoto teve uma educação masculina. A sra. Grantham considerava os gostos do marido baixos, mas ele era um homem que fazia as coisas à sua maneira. Além disso, o sangue dos Grantham era o melhor dos Estados Unidos. Era uma mulher que se impressionava com isso. Há onze anos, quando Lionel era um garoto de dez, o homem morreu. A sra. Grantham trocou a roleta da família por uma caixa de dominós e começou a converter o garoto num cavaleiro de sapatos envernizados.
“Eu nunca o vi, mas ouvi dizer que o trabalho não deu muito certo. Porém, ela o manteve resguardado durante onze anos, sem deixá-lo sequer escapar para a faculdade. E assim foi até o dia em que ele atingiu a maioridade legal e tomou posse da parte que lhe cabia do patrimônio do pai. Naquela manhã, ele deu um beijo na mamãe e lhe disse casualmente que ia sair para dar uma volta ao mundo... sozinho. A mamãe diz e faz tudo o que se esperaria dela, mas não adianta. O sangue Grantham é forte. Lionel promete enviar um cartão postal de vez em quando e parte.
“Ele parece ter se comportado relativamente bem durante as suas andanças. Imagino que simplesmente estar livre tenha lhe dado toda a emoção de que precisava. Mas há algumas semanas, a companhia fiduciária que cuida de seus negócios recebeu dele instruções para transformar algumas ações de ferrovias em dinheiro e enviar a quantia para ele aos cuidados de um banco de Belgrado. Como era uma quantia grande – mais de três milhões –, a companhia fiduciária contou sobre a transação para a sra. Grantham. Ela teve um ataque. Vinha recebendo cartas dele, mas de Paris, sem nenhuma menção a Belgrado.
“A mamãe estava decidida a partir para a Europa imediatamente, mas o irmão dela, o senador Walbourn, convenceu-a do contrário. Passou alguns telegramas e descobriu que Lionel não estava nem em Paris nem em Belgrado, a menos que estivesse escondido. A sra. Grantham arrumou as malas e fez reservas. O senador demoveu-a a da idéia novamente, convencendo-a de que o rapaz se ressentiria da sua interferência e dizendo-lhe que o melhor a fazer seria investigar discretamente. Levou o caso à Agência. Fui a Paris e fiquei sabendo que um amigo de Lionel estava encaminhando a sua correspondência e que Lionel estava aqui, em Stefania. No caminho para cá, parei em Belgrado e descobri que o dinheiro estava sendo enviado a ele para cá – a maior parte do dinheiro já havia sido enviada. Então, aqui estou eu.”
Scanlan sorriu alegremente.
– Não há nada que eu possa fazer – disse ele. – Grantham é maior de idade, e o dinheiro é dele.
– Certo – concordei. – E eu estou com o mesmo problema. Tudo o que posso fazer é investigar, descobrir o que ele está fazendo, tentar salvar a sua grana, se ele estiver sendo enganado. Você não pode nem me dar um palpite? Três milhões de dólares... no quê ele poderia gastar isso?
– Não sei. – O chargé d’affaires se remexeu desconfortavelmente. – Aqui não há nenhum negócio importante. É um país puramente agrícola, dividido entre pequenos proprietários de terra – fazendas de quatro, seis ou oito hectares. Mas há a ligação dele com Einarson e Mahmoud. Os dois certamente o roubariam se tivessem oportunidade. Tenho certeza de que o estão roubando. Mas não acho que o fariam. Talvez ele não os conheça. Provavelmente é uma mulher.
– Bem, quem eu devo procurar? Estou em desvantagem por não conhecer o país nem dominar o idioma. A quem posso contar a minha história para conseguir ajuda?
– Não sei – disse ele, em tom sombrio. Então seu rosto se iluminou. – Vá falar com Vasilije Djudakovich. Ele é o ministro da Polícia. É o homem certo para você! Pode ajudá-lo, e você pode confiar nele. Tem uma digestão no lugar do cérebro. Não vai compreender nada do que você lhe disser. Sim, Djudakovich é o seu homem!
– Obrigado – disse eu, saindo para a rua enlameada.
Encontrei o escritório do ministro da Polícia no Prédio da Administração, uma sombria pilha de concreto ao lado da Residência Executiva na ponta da praça. Num francês que era ainda pior do que o meu alemão, um atendente magro de bigode branco que parecia um Papai Noel tuberculoso, me disse que Sua Excelência não estava. Solenemente, falando num sussurro, repeti que havia sido enviado pelo chargé d’affaires dos Estados Unidos. Essa encenação pareceu impressionar “São Nicolau”. Ele assentiu compreensivamente e saiu arrastando os pés. Voltou no mesmo instante, curvando-se diante da porta, pedindo que eu o acompanhasse.
Segui-o por um corredor escuro até uma porta ampla em que se lia “15”. Ele a abriu, curvou-se ao me dar passagem, sussurrou “Asseyez-vous, s’il vous plaît”4, fechou a porta e me deixou. Eu estava num escritório grande e quadrado. Tudo dentro dele era grande. As quatro janelas eram duplas. As cadeiras eram bancos novos, exceto pela poltrona de couro que ficava na escrivaninha, que podia ser a metade traseira de um carro conversível. Dois homens poderiam dormir em cima da escrivaninha. Vinte comeriam à mesa de reuniões.
A porta em frente àquela pela qual eu havia entrado se abriu, e uma garota entrou, fechando a porta atrás de si, isolando um rugido palpitante, como o de alguma máquina pesada, que ouvi quando a porta estava aberta.
– Sou Romaine Frankl – disse ela em inglês. – Secretária de Sua Excelência. O senhor pode me dizer o que deseja?
Ela podia ter qualquer idade entre vinte e trinta anos, cerca de um metro e meio de altura, magra sem ser ossuda, com cabelos cacheados quase tão escuros quanto podem ser cabelos castanhos, olhos de cílios negros com íris acinzentadas e bordas escuras, um rosto pequeno e de traços delicados e uma voz suave e baixa demais para ser tão bem compreendida como era. Usava um vestido de lã vermelha sem qualquer feitio exceto o formato natural de seu corpo. E quando ela se movia – para caminhar ou levantar uma mão –, era como se não precisasse fazer qualquer esforço, como se outra coisa a movimentasse.
– Gostaria de vê-lo – disse eu, enquanto compilava essas informações.
– Mais tarde, certamente – ela prometeu. – Mas agora é impossível. – Com sua curiosa graça natural, virou-se de volta para a porta, abrindo-a e deixando o rugido palpitante entrar no ambiente mais uma vez. – Está ouvindo? – disse ela. – Ele está cochilando.
Ela fechou a porta, isolando o ronco de Sua Excelência, e flutuou pela sala até a imensa cadeira de couro da escrivaninha.
– Sente-se, por favor – disse ela, balançando um minúsculo indicador para uma cadeira ao lado da escrivaninha. – Vamos poupar tempo se o senhor me disser o que veio tratar aqui, porque, a menos que fale a nossa língua, eu terei de interpretar o que o senhor pretende falar com Sua Excelência.
Contei-lhe a respeito de Lionel Grantham e falei sobre o meu interesse nele, usando praticamente as mesmas palavras que havia usado com Scanlan, concluí:
– Sabe, não há nada que eu possa fazer além de tentar descobrir o que o rapaz está fazendo e lhe dar uma mão, se for preciso. Não posso falar diretamente com ele. Infelizmente, creio que seja Grantham demais para aceitar de bom grado o que ele consideraria coisa de ama-seca. O sr. Scanlan me aconselhou a pedir ajuda ao ministro da Polícia.
– O senhor teve sorte. – Ela parecia querer fazer uma piada sobre o representante do meu país, mas não estava segura quanto à minha reação. – Nem sempre é fácil compreender o seu chargé d’affaires.
– Depois que se pega o jeito, não é muito difícil – eu disse. – Basta desconsiderar todas as declarações que contenham não ou nada.
– É isso! É exatamente isso! – ela se inclinou na minha direção. – Sempre soube que havia algum segredo, mas ninguém havia conseguido descobrir antes. O senhor resolveu o nosso problema nacional.
– Como recompensa, então, eu deveria receber todas as informações que vocês têm a respeito de Grantham.
– Sim, mas terei de falar com Sua Excelência primeiro.
– Você pode me dizer extra-oficialmente o que pensa de Grantham. Você o conhece?
– Sim. Ele é encantador. Um bom garoto, deliciosamente ingênuo e inexperiente, mas realmente encantador.
– Quem são os amigos dele aqui?
Ela sacudiu a cabeça e disse:
– Nada mais até Sua Excelência acordar. O senhor é de São Francisco? Lembro dos divertidos bondinhos, da neblina, da salada logo depois da sopa e do Coffe Dan’s.
– Você já esteve lá?
– Duas vezes. Morei nos Estados Unidos por um ano e meio, no vaudevile, tirando coelhos de cartolas.
Ainda estávamos falando sobre isso meia hora depois, quando a porta se abriu, e o ministro da Polícia entrou.
A mobília de tamanho exagerado imediatamente encolheu ao normal, a garota virou uma anã, e eu me senti como o garotinho de alguém.
O tal Vasilije Djudakovich tinha quase dois metros e quinze de altura, e isso não era nada em comparação com o tamanho da sua cintura. Talvez ele não pesasse mais do que duzentos e cinqüenta quilos, mas, olhando para ele, era difícil não pensar em termos de toneladas. Ele era uma montanha de carne com cabelos e barba loiros vestindo um fraque preto. Como estava de gravata, imagino que tivesse um colarinho, mas este estava escondido em toda a volta pelas dobras vermelhas do seu pescoço. Seu colete branco tinha o tamanho e o formato de uma saia rodada e, apesar disso, todos os botões ficavam esticados. Seus olhos eram quase invisíveis entre as almofadas de carne ao redor deles, e ficavam sob a sombra, numa escuridão sem cor, como água em poço fundo. Sua boca era um oval vermelho distante entre os pêlos amarelos do cavanhaque e do bigode. Ele entrou na sala lenta e pesadamente, e fiquei surpreso que o piso não tenha rangido.
Romaine Frankl ficou me observando atentamente enquanto puxava a grande cadeira de couro e me apresentava ao ministro. Ele me deu um sorriso gordo e sonolento, estendeu uma mão que se parecia com um bebê nu e deixou-se sentar lentamente na cadeira que a garota havia deixado para ele. Ali plantado, abaixou a cabeça até descansá-la nos travesseiros de seus vários queixos, e então pareceu cair no sono.
Peguei outra cadeira para a garota. Ela me dirigiu mais um olhar penetrante – parecia estar à caça de alguma coisa em meu rosto – e começou a conversar com ele no que imagino ser a língua nativa. Ela falou rapidamente por mais ou menos vinte minutos, embora ele não desse qualquer sinal de que estivesse prestando atenção ou mesmo que estivesse acordado.
Quando ela terminou, ele disse “Da”. Ele falou languidamente, mas havia um volume na sílaba que não poderia ter vindo de um lugar menor do que a sua barriga gigantesca. A garota se virou para mim sorrindo.
– Sua Excelência terá prazer em lhe dar toda assistência possível. Oficialmente, é claro, ele não se preocupa em interferir nos negócios de um visitante de outro país, mas percebe a importância de evitar que o sr. Grantham seja explorado enquanto estiver aqui. Se o senhor retornar amanhã à tarde, digamos, às três...
Prometi que faria isso, agradeci, apertei a mão da montanha novamente e saí na chuva.
De volta ao hotel, não tive problemas para descobrir que Lionel Grantham ocupava uma suíte no sexto andar e estava lá naquele momento. Tinha uma fotografia no bolso e sua descrição na cabeça. Passei o que restava da tarde e o começo da noite esperando para dar uma olhada nele. Pouco depois das sete, consegui.
Ele saiu do elevador, um rapaz alto e empertigado, com um corpo flexível que se afilava dos ombros largos aos quadris estreitos, seguia ereto sobre pernas fortes e longas – o tipo de constituição física apreciada por alfaiates. Seu rosto rosado, de traços regulares e muito bonito, exibia uma expressão de superioridade distante que era marcada demais para ser mais do que uma máscara para a timidez da juventude.
Depois de acender um cigarro, ele passou para a rua. A chuva havia parado, embora as nuvens prometessem mais em breve. Saiu pela rua a pé. Fiz o mesmo.
Fomos até um restaurante muito enfeitado a duas quadras do hotel, onde uma orquestra cigana estava tocando num pequeno balcão mal preso no alto de uma parede. Todos os garçons e metade dos clientes pareciam conhecer o garoto. Ele se curvou e sorriu para um lado e outro enquanto percorria o caminho até uma mesa perto da outra ponta do local, onde dois homens estavam esperando por ele.
Um deles era alto e entroncado, com espessos cabelos escuros e um grande bigode escuro. Seu rosto avermelhado, de nariz pequeno, tinha a expressão de um homem que não se incomoda em brigar de vez em quando. Vestia um uniforme militar verde e dourado e botas altas de couro preto muito lustroso. Seu companheiro usava traje a rigor, um homem rechonchudo e moreno, de estatura mediana. Tinha cabelos negros oleosos e um rosto oval e suave.
Enquanto o jovem Grantham se unia a essa dupla, encontrei uma mesa a alguma distância deles. Pedi o jantar e observei os meus vizinhos. O ambiente reunia vários tipos de uniformes, alguns fraques e vestidos de noite, mas a maioria dos clientes vestia roupas comuns do dia-a-dia. Vi dois clientes que provavelmente eram ingleses, um ou dois gregos e alguns turcos. A comida estava boa, e o apetite era grande. Eu estava fumando um cigarro enquanto tomava uma pequena xícara de café muito forte quando Grantham e o grande oficial avermelhado se levantaram e foram embora.
Não conseguiria pedir e pagar a conta a tempo de segui-los sem chamar atenção, de modo que os deixei ir. Então esperei a refeição baixar um pouco e esperei até o homem moreno e rechonchudo que os dois haviam deixado para trás pedir a conta. Estava na rua um minuto antes dele, olhando para cima, na direção da praça com pouca iluminação elétrica com o que deveria ser a expressão de um turista que não sabia exatamente aonde ir em seguida.
Ele passou por mim, subindo a rua enlameada com o passo cauteloso de quem cuida onde põe os pés, típico de um gato.
Um soldado – um homem magricela, vestindo casaco e chapéu de pele de carneiro, com um bigode grisalho eriçado sobre lábios cinzentos e crispados – saiu de uma porta e parou o homem moreno falando em tom de queixa.
O homem moreno ergueu as mãos e os ombros, num gesto tanto de raiva quanto de surpresa.
O soldado se queixou novamente, mas o crispar na sua boca cinzenta ficou mais pronunciado. A voz do homem rechonchudo era baixa, firme e severa, mas ele levou uma mão do bolso ao soldado, e deu para ver o dinheiro marrom da Morávia. O soldado embolsou o dinheiro, ergueu a mão numa saudação e atravessou a rua.
Quando o homem moreno parou de encarar o soldado, segui em direção à esquina na qual o casaco e o chapéu de pele de carneiro haviam desaparecido. Meu soldado estava a uma quadra e meia, andando com a cabeça baixa. Estava com pressa. Fiz muito exercício tentando acompanhá-lo. Nesse instante, a cidade começou a ficar menos concentrada. Quanto mais espaço havia entre uma construção e outra, menos eu gostava daquela expedição. A melhor forma de seguir alguém é à luz do dia, no centro de uma cidade grande conhecida. Aquilo era a pior forma de seguir alguém.
O homem me levou para fora da cidade por uma rua pavimentada cercada por poucas casas. Fiquei o mais distante que pude, de modo que ele era uma sombra fraca e difusa à frente. Ele fez uma curva fechada na rua. Apressei o passo até a curva, com a intenção de diminuir a velocidade novamente assim que virasse. Correndo, quase estraguei tudo.
De repente, o soldado apareceu virando a curva, vindo na minha direção.
Um pouco atrás de mim, uma pequena pilha de madeira à beira da estrada era a única cobertura a uma distância de trinta metros. Estiquei minhas pernas curtas para lá.
As tábuas empilhadas irregularmente formavam uma cavidade rasa numa das pontas da pilha quase do tamanho suficiente para me abrigar. Com os joelhos na lama, agachei-me ali.
O soldado apareceu através de uma rachadura entre as tábuas. Um metal brilhante cintilava em uma de suas mãos. Uma faca, pensei. Mas quando ele parou em frente ao meu abrigo, vi que era um antigo revólver niquelado.
Ele ficou parado, olhando para o meu abrigo, olhando para um lado e outro da rua. Grunhiu e veio na minha direção. Farpas me feriram no rosto quando eu me encolhi ainda mais contra as extremidades das tábuas. A minha arma estava com o meu cassetete de borracha – dentro da minha mala Gladstone no hotel. Um belo lugar para estar tudo aquilo agora! A arma do soldado brilhava em sua mão.
A chuva começou a cair sobre as tábuas e no chão. O soldado levantou a gola do casaco ao se aproximar. Ninguém jamais fez qualquer outra coisa de que eu tenha gostado tanto. Um homem perseguindo outro não teria feito isso. Ele não sabia que eu estava ali. Estava atrás de um lugar para ele próprio se esconder. O jogo estava empatado. Se ele me encontrasse, tinha a arma, mas eu o havia visto primeiro.
Seu casaco de pele de carneiro raspou na madeira quando ele passou por mim, abaixado, ao passar pelo meu canto até a parte de trás da pilha, tão perto que as mesmas gotas de chuva pareciam estar caindo sobre nós dois. Abri os punhos depois disso. Não conseguia vê-lo, mas podia ouvi-lo respirando, coçando-se e até mesmo cantarolando.
Foi como se duas semanas tivessem se passado.
A lama na qual eu estava ajoelhado encharcou as pernas das minhas calcas, molhando os meus joelhos e as minhas canelas. A madeira áspera lixava a pele do meu rosto cada vez que eu respirava. Minha boca estava tão seca como os meus joelhos estavam molhados, porque eu estava respirando por ela para não fazer barulho.
Um automóvel fez a curva e seguiu para a cidade. Ouvi o soldado grunhir baixinho e ouvi o clique da sua arma quando ele a engatilhou. O carro aproximou-se de onde estávamos e seguiu. O soldado suspirou e começou a se coçar e a cantarolar novamente.
Mais duas semanas se passaram.
Vozes de homens vieram pela chuva, primeiro quase inaudíveis, depois mais alto, bem claras. Quatro soldados vestindo casacos e chapéus de pele de carneiro passaram pela rua no sentido em que havíamos vindo. Suas vozes imediatamente deram lugar ao silêncio quando eles desapareceram na curva.
À distância, a buzina de um automóvel berrou duas notas feias. O soldado grunhiu – um grunhido que dizia claramente “Aqui está”. Os pés dele pisaram na lama, e a pilha de madeira rangeu sob o seu peso. Não consegui ver o que ele estava fazendo.
Uma luz branca dançou na curva, e apareceu um automóvel – um carro potente seguindo em direção à cidade numa velocidade que não levava em consideração o fato de que a rua molhada estava escorregadia. A chuva, a noite e a velocidade embaçaram a visão de seus dois ocupantes, que estavam no banco da frente.
Acima da minha cabeça, rugiu um revólver pesado. O soldado estava trabalhando. O carro correndo derrapou enlouquecidamente ao longo do pavimento molhado, cantando os pneus.
Quando o sexto tiro me disse que a arma niquelada estava provavelmente descarregada, saltei do meu esconderijo.
O soldado estava inclinado sobre a pilha de madeira, ainda apontando a arma para o carro que derrapava enquanto tentava enxergar através da chuva.
Virou-se quando o vi, virou a arma na minha direção e resmungou alguma ordem que não entendi. A minha aposta era de que a arma estava descarregada. Levantei as duas mãos bem acima da cabeça, fiz um ar espantado e lhe dei um chute na barriga.
Ele se dobrou sobre mim, enrolando-se em torno da minha perna. Nós dois caímos. Eu estava por baixo, mas a cabeça dele estava contra a minha coxa. Seu chapéu caiu. Agarrei seis cabelos com as duas mãos e usei-os como apoio para me sentar. Seus dentes se cravaram na minha perna. Chamei-o de coisas desagradáveis e enfiei os polegares logo atrás de suas orelhas. Não foi preciso muita pressão para ensinar-lhe que ele não devia morder os outros. Quando ele levantou o rosto para gritar, enfiei o punho direito nele, puxando-o na direção do soco com a mão esquerda que seguia grudada em seus cabelos. Foi um belo e sólido murro.
Empurrei-o para longe da minha perna, levantei-me, agarrei o colarinho do casaco dele e arrastei-o para a rua.
Uma luz branca se derramou sobre nós. Franzindo os olhos, vi o automóvel parado mais adiante, com os faróis virados para mim e meu parceiro de briga. Um homem grande de verde e dourado apareceu diante da luz – era o oficial avermelhado que era um dos acompanhantes de Grantham no restaurante. Tinha uma automática numa das mãos.
Ele caminhou até nós, as pernas duras nas botas altas, ignorou o soldado no chão e me observou cuidadosamente com olhinhos escuros penetrantes:
– Inglês? – perguntou.
– Americano.
Mordeu um canto do bigode e disse, sem querer dizer nada:
– Sim, é melhor.
Seu inglês era gutural, com sotaque alemão.
Lionel Grantham saiu do carro e se aproximou. Seu rosto não estava mais tão rosado como antes.
– O que houve? – perguntou ao oficial, embora olhasse para mim.
– Não sei – eu disse. – Estava dando um passeio depois do jantar e me atrapalhei no caminho. Quando vi que estava aqui, conclui que havia seguido na direção errada. Quando me virei para voltar, vi este sujeito se abaixar atrás da pilha de madeira. Estava com uma arma na mão. Imaginei que fosse um assalto, de modo que brinquei de índio com ele. Assim que o alcancei, ele se levantou e começou a atirar em vocês. Saltei nele a tempo de estragar a sua mira. É amigo de vocês?
– Você é americano – disse o garoto. – Sou Lionel Grantham. Este é o coronel Einarson. Somos muito gratos pelo que fez. – Franziu a testa e olhou para Einarson. – O que você acha?
O oficial encolheu os ombros e rosnou:
– Um dos meus filhos... vamos ver – disse, chutando as costelas do homem no chão.
O chute trouxe o soldado de volta à vida. Ele se sentou, rolou até ficar de joelhos, apoiado nas mãos, e deu início a uma longa e entrecortada súplica, agarrando o uniforme do Coronel com as mãos sujas.
– Ach! – Einarson empurrou as mãos dele para baixo com um golpe do cano da pistola nos nós de seus dedos, olhou com nojo para as marcas de lama no uniforme e rosnou alguma ordem.
O soldado ficou de pé num salto, em posição de sentido, recebeu mais uma ordem, fez posição de sentido e marchou em direção ao automóvel. O coronel Einarson seguiu com as pernas duras atrás dele, apontando a arma automática para as costas do outro. Grantham pôs uma mão em meu braço.
– Venha conosco – disse ele. – Deixe-nos agradecer-lhe adequadamente e vamos nos conhecer melhor depois de darmos um jeito nesse sujeito.
O coronel Einarson sentou-se no lugar do motorista, com o soldado ao lado. Grantham esperou enquanto eu procurava o revólver do soldado. Então sentamo-nos no banco traseiro. O oficial me olhou com ar de dúvida pelo canto dos olhos, mas não disse nada. Dirigiu o carro de volta pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Ele gostava de correr, e não estávamos indo muito longe. Quando ainda estávamos nos acomodando nos lugares, o carro nos levou através de um portão num muro alto de pedra com um sentinela apresentando armas de cada lado. Percorremos um semi-círculo escorregadio numa entrada secundária e paramos bruscamente diante de um edifício quadrado com as paredes caiadas de branco.
Einarson cutucou o soldado para fora. Grantham e eu saímos. À esquerda, uma fileira de edifícios compridos e baixos aparecia como um vulto cinza claro sob a chuva – alojamentos. A porta do edifício quadrado e branco foi aberta por um ordenança barbudo de verde. Entramos. Einarson empurrou o prisioneiro pelo pequeno hall da recepção e pela porta aberta de um quarto. Grantham e eu o seguimos para dentro. O ordenança parou na porta, trocou algumas palavras com Einarson e foi embora, fechando a porta.
O quarto no qual nos encontrávamos parecia uma cela, exceto pelo fato de que não havia barras sobre a única janelinha. Era um quarto estreito, com paredes e tetos nus, caiados de branco. O piso de madeira, esfregado com desinfetante até ficar quase tão branco como as paredes, também era nu. A mobília consistia num catre de ferro preto, três cadeiras dobráveis de madeira e lona e uma cômoda sem pintura com pente, escova e alguns papéis em cima. Era tudo.
– Sentem-se, senhores – disse Einarson, indicando as cadeiras de acampamento. – Vamos tratar desse assunto agora.
O garoto e eu nos sentamos. O oficial deixou a pistola em cima da cômoda, apoiou um cotovelo ao lado da pistola, segurou uma ponta do bigode com uma das grandes mãos vermelhas e dirigiu-se ao soldado. Sua voz era gentil e paternal. O soldado, mantendo-se absolutamente ereto no meio do quarto, respondia, queixando-se, com os olhos fixos nos do oficial, com um olhar inexpressivo.
Os dois falaram por cinco minutos, um pouco mais. A impaciência na voz e nos gestos do Coronel aumentou. O soldado manteve sua postura de inexpressivo servilismo. Einarson rangeu os dentes e olhou com raiva para o garoto e para mim.
– Este porco! – exclamou antes de começar a berrar com o soldado.
O suor brotava do rosto cinzento do soldado, e ele abandonou sua posição de sentido militar. Einarson parou de berrar com ele e berrou duas palavras para a porta, que se abriu. O ordenança barbudo entrou com um chicote de couro curto e grosso. Com um aceno de cabeça de Einarson, ele pôs o chicote ao lado da pistola automática em cima da cômoda e saiu.
O soldado choramingou. Einarson falou laconicamente com ele. O soldado estremeceu e começou a abrir o casaco com os dedos trêmulos, implorando o tempo todo com palavras queixosas, gaguejando. Tirou o casaco, a blusa verde e a camiseta cinza, deixando-os cair no chão, e ficou ali parado, com o corpo peludo e não muito limpo nu da cintura para cima. Juntou os dedos e chorou.
Einarson grunhiu uma palavra. O soldado ficou em posição de sentido, com as mãos nas laterais do corpo, encarando-nos, com o lado esquerdo virado para Einarson.
Lentamente, o coronel Einarson tirou o próprio cinto, desabotoou o uniforme, tirou-o e dobrou-o cuidadosamente e deixou-o sobre o catre. Por baixo, vestia uma camisa branca de algodão. Dobrou as mangas até acima dos cotovelos e pegou o chicote.
– Este porco! – disse novamente.
Lionel Grantham se mexia desconfortavelmente na cadeira. Seu rosto estava pálido, e os olhos, sombrios.
Apoiando novamente o cotovelo esquerdo sobre a cômoda, brincando com a ponta do bigode com a mão esquerda, indolentemente de pé com as pernas cruzadas, Einarson começou a açoitar o soldado. Seu braço direito ergueu o chicote e levou o chicote assoviando até as costas do soldado, levantou-o de novo e abaixou-o de novo. Foi particularmente perverso, porque ele não estava com pressa, não estava se esforçando. Pretendia açoitar o homem até conseguir o que queria, e estava guardando as forças para que pudesse seguir com aquilo pelo tempo que fosse necessário.
Com o primeiro golpe, o horror abandonou os olhos do soldado. Eles se entorpeceram solenemente, e seus lábios pararam de se contorcer. Ele permaneceu estupidamente sob os golpes, olhando fixamente acima da cabeça de Grantham. O rosto do oficial também ficou inexpressivo. A raiva tinha desaparecido. Ele não demonstrava qualquer prazer no trabalho, nem mesmo passava a impressão de estar aliviando os próprios sentimentos. Tinha o ar de um foguista mexendo em carvão, de um carpinteiro serrando uma tábua ou de um estenógrafo passando a limpo uma carta. Ali estava um trabalho a ser feito de um modo técnico, sem pressa, excitação ou esforço desperdiçado, sem entusiasmo ou repulsa. Foi perverso, mas me ensinou a respeitar aquele Coronel Einarson.
Lionel Grantham estava sentando na beirada de sua cadeira dobrável, olhando fixamente para o soldado com olhos esbugalhados. Ofereci a ele um cigarro, fazendo uma complicada operação desnecessária de acender o meu e o dele ao mesmo tempo – para interromper a sua contagem. Estava contando os golpes, e isso não era bom para ele.
O chicote se curvava para cima, descia com força e estalava nas costas nuas – para cima, para baixo, para cima, para baixo. O rosto cinzento do soldado era uma porção de massa. Ele estava de frente para Grantham e para mim. Não podíamos ver as marcas do chicote.
Grantham disse algo a si mesmo num sussurro. Então arquejou:
– Não suporto isso!
Einarson não desviou o olhar do trabalho.
– Não pare agora – murmurei. – Já chegamos até aqui.
O garoto se levantou, vacilante, e foi até a janela, abriu-a e ficou olhando para a noite chuvosa. Einarson não prestou atenção nele. Estava pondo mais pressão nas chicotadas, de pé, com as pernas bem separadas, inclinando-se um pouco para frente, a mão esquerda apoiada no quadril, a direita levando o chicote para cima e para baixo com rapidez crescente.
O soldado balançou no lugar, e um soluço sacudiu seu peito peludo. O chicote cortava... cortava... cortava. Olhei para o relógio. Einarson estava dedicado àquilo havia quarenta minutos e parecia capaz de seguir pelo resto da noite.
O soldado gemeu e se virou para o oficial. Einarson não interrompeu o ritmo dos golpes. O último cortou o ombro do homem. Vi suas costas de relance – carne viva. Einarson falou com severidade. O soldado empertigou-se em posição de sentido novamente, com o lado esquerdo virado para o oficial. O chicote prosseguiu com o trabalho – para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo.
O soldado atirou-se de quatro aos pés de Einarson e começou a pronunciar palavras entrecortadas por soluços. Einarson baixou o olhar para ele e ficou ouvindo atentamente, segurando a ponta do chicote na mão esquerda, o cabo ainda na direita. Quando o homem terminou, Einarson fez perguntas, recebeu respostas, assentiu, e o soldado se levantou. Einarson pôs uma mão amigável no ombro do homem, virou-o, olhou para as suas costas vermelhas feridas e disse algo num tom compassivo. Então chamou o ordenança e lhe deu algumas ordens. Gemendo ao se abaixar, o soldado apanhou as roupas que havia tirado e seguiu o ordenança para fora do quarto.
Einarson atirou o chicote sobre a cômoda e foi até a cama para pegar seu uniforme. Uma carteira de couro caiu de um bolso interno no chão. Quando ele a pegou de volta, um velho recorte de jornal caiu e flutuou até os meus pés. Apanhei-o e devolvi a ele – o retrato de um homem, o xá da Pérsia, conforme a legenda em francês sob a foto.
– Aquele porco! – disse ele, referindo-se ao soldado, não ao xá, enquanto vestia a abotoava o uniforme. – Ele tem um filho, até a semana passada também integrante das minhas tropas. Esse filho bebe muito vinho. Eu o repreendi. Ele é insolente. Que tipo de exército não tem disciplina? Porcos! Eu derrubo esse porco, e ele puxa uma faca. Ach! Em que tipo de exército um soldado pode atacar seus oficiais com uma faca? Depois que eu, pessoalmente, você entende, acabei com esse suíno, levei-o à corte marcial e condenei-o a vinte anos de prisão. Esse porco mais velho, pai dele, não gosta disso. Então ele resolve me matar esta noite. Ach! Que tipo de exército é este?
Lionel Grantham voltou da sua janela. Seu rosto jovem estava abatido. Seus olhos jovens estavam envergonhados do abatimento de seu rosto.
O coronel Einarson curvou-se de modo tenso e fez um formal discurso de agradecimento por eu ter estragado a mira do soldado – o que eu não havia feito – e salvar a sua vida. Então a conversa mudou para a minha presença na Morávia. Eu lhes disse brevemente que ocupara o posto de capitão no departamento de inteligência militar durante a guerra. Isso era verdade, e essa foi toda a verdade que eu lhes disse. Depois da guerra – prosseguiu o meu conto de fadas – eu decidira permanecer na Europa, me desligado das forças armadas e fiquei vagando, fazendo serviços aqui e ali. Fui vago, tentando passar a impressão de que esses serviços nem sempre, ou normalmente, haviam sido refinados. Dei-lhes detalhes mais definidos – embora ainda altamente imaginários – do meu recente emprego num sindicato francês, admitindo que tinha ido parar naquele canto do mundo porque achava melhor não ser visto na Europa Ocidental por mais ou menos um ano.
– Nada que pudesse me levar para a cadeia – eu disse. – Mas as coisas poderiam ficar desconfortáveis. Assim, saí vagando pela Mitteleuropa5, soube que poderia encontrar uma conexão em Belgrado, onde descobri que não passava de um alarme falso, e vim até aqui. Posso arranjar alguma coisa aqui. Amanhã tenho um encontro com o ministro da Polícia. Acho que posso mostrar onde ele pode me usar.
– O nojento do Djudakovich! – disse Einarson com sincero desdém. – Você gostou dele?
– Sem trabalho, sem comida – eu disse.
– Einarson – Grantham começou rapidamente, hesitou um pouco e então disse: – Não poderíamos... você acha... – e não terminou.
O coronel franziu o cenho para ele, viu que eu havia notado, pigarreou e se dirigiu a mim num irritado tom de cordialidade.
– Talvez fosse melhor se você não se envolvesse muito rapidamente com esse ministro gordo. Talvez... haja a possibilidade de conhecermos outro campo no qual os seus talentos possam ser empregados mais a seu gosto... e com mais lucro.
Deixei o assunto em suspenso, sem dizer nem sim nem não.
Voltamos à cidade no carro do oficial. Ele e Grantham sentaram-se atrás. Eu me sentei ao lado do soldado que estava dirigindo. O garoto e eu saltamos no nosso hotel. Einarson disse boa noite e foi levado embora como se estivesse com pressa.
– É cedo – disse Grantham quando entramos. – Venha até o meu quarto.
Parei no meu próprio quarto para lavar a lama que eu havia juntado na pilha de madeira e trocar de roupa e subi. Ele ocupava três quartos no último andar, com vista para a praça.
Pegou uma garrafa de uísque, um sifão, limões, charutos e cigarros e nós bebemos, fumamos e conversamos. Quinze ou vinte minutos da conversa não passaram de amenidades de ambos os lados – comentários sobre as emoções da noite, a nossa opinião a respeito de Stefania, e assim por diante. Ambos tínhamos coisas a dizer um ao outro. Um estava analisando o outro antes de dizer. Resolvi dizer antes.
– O coronel Einarson nos enganou esta noite – eu disse.
– Enganou? – o garoto se endireitou na poltrona, piscando.
– O soldado dele atirou por dinheiro, não por vingança.
– Você quer dizer...? – ele ficou com a boca aberta.
– Quero dizer que o homenzinho moreno com quem vocês comeram deu dinheiro ao soldado.
– Mahmoud! Ora, isso é... Você tem certeza?
– Eu vi.
Ele olhou para os pés, desviando o olhar para longe do meu, como se não quisesse que eu visse que ele achava que eu estava mentindo.
– O soldado pode ter mentido ao Einarson – disse ele imediatamente, ainda tentando evitar que eu soubesse que ele me achava um mentiroso. – Consigo entender um pouco da língua, como é falava por nativos com maior nível de educação, mas não compreendo o dialeto local falado pelo soldado, de modo que não sei o que ele disse, mas ele pode ter mentido, sabe.
– Sem chances – eu disse. – Aposto minhas calças que ele disse a verdade.
Ele continuou olhando fixamente para os pés estendidos, lutando para manter o rosto tranqüilo e indiferente. Parte do que estava pensando escapou em forma de palavras:
– Claro, eu lhe devo tremendamente por nos salvar de...
– Você não me deve nada. Deve, isso sim, à má pontaria daquele soldado. Mas eu só saltei sobre ele depois de a arma estar descarregada.
– Mas... – seus olhos jovens se arregalaram diante de mim, e se eu tivesse sacado uma metralhadora da minha manga ele não teria se surpreendido. Ele suspeitava que eu fosse capaz de tudo. Amaldiçoei a mim mesmo por exagerar no uso das minhas jogadas. Agora não havia nada a fazer além de mostrar as cartas.
– Escute, Grantham. A maior parte do que contei a você e ao Einarson sobre mim é balela. O seu tio, o Senador Walbourn, me mandou para cá. Você deveria estar em Paris. Uma grande quantia da sua grana foi enviada para Belgrado. O senador ficou desconfiado da jogada. Não sabia se você estava fazendo algum jogo ou se alguém estava tentando aplicar-lhe um golpe. Fui até Belgrado, rastreei-o até aqui e vim para cá, para encontrar o que encontrei. Liguei o dinheiro até você e conversei com você. Foi só para isso que fui contratado. O meu trabalho está feito – a menos que haja alguma coisa que eu possa fazer por você agora.
– Absolutamente nada – disse ele, muito calmamente. – Obrigado, mesmo assim. – Levantou-se, bocejando. – Talvez eu veja você novamente antes da sua partida.
– É – não tive dificuldade para fazer a minha voz combinar a sua indiferença. Eu não tinha uma carga de raiva para esconder. – Boa noite.
Desci até o meu quarto, deitei na cama e dormi.
Dormi até tarde da manhã seguinte e tomei café no quarto. Estava no meio da refeição quando alguém bateu na minha porta. Um homem troncudo vestindo um uniforme cinza amarrotado, enfeitado com uma espada curta e larga, entrou, saudou-me, entregou-me um envelope branco quadrado, olhou com raiva para os cigarros americanos sobre a minha mesa, sorriu e pegou um quando ofereci a ele. Saudou-me novamente e saiu.
O envelope quadrado tinha o meu nome escrito em letra cursiva pequena, simples e arredondada, mas não infantil. Dentro, um bilhete escrito com a mesma letra:
O ministro da Polícia lamenta que assuntos do departamento não permitam que o senhor seja recebido nesta tarde.
Estava assinado “Romaine Frankl” e tinha um pós-escrito:
Se for conveniente, o senhor pode me procurar depois das nove da noite, talvez eu possa poupar-lhe algum tempo.
R.F.
Abaixo disso, um endereço.
Pus o bilhete no bolso e disse “Entre” para mais uma batida na porta.
Lionel Grantham entrou. Tinha o rosto pálido e sério.
– Bom dia – eu disse, falando de modo alegre e casual, como se não desse qualquer importância à briga da noite passada. – Já tomou café da manhã? Sente-se e...
– Ah, sim, obrigado. Já comi. – Seu belo rosto rosado estava ficando rosado novamente. – Sobre a noite passada... eu...
– Esqueça! Ninguém gosta de gente se metendo na sua vida.
– Isso é gentil da sua parte – disse ele, amassando o chapéu nas mãos. Limpou a garganta. – Você disse que... ahn... me ajudaria se eu desejasse.
– Sim. Claro. Sente-se.
Ele se sentou, tossiu, passou a língua pelos lábios.
– Você não contou a ninguém sobre o ocorrido ontem com o soldado?
– Não – respondi.
– Não dirá nada?
– Por quê?
Ele olhou para os restos do meu café da manhã e não respondeu. Acendi um cigarro para acompanhar o meu café e esperei. Ele se remexia desconfortavelmente na cadeira. Sem olhar para cima, perguntou:
– Sabia que Mahmoud foi morto na noite passada?
– O homem que estava no restaurante com você e Einarson?
– Sim. Ele foi morto a tiros na frente de casa pouco depois da meia-noite.
– Einarson?
O garoto deu um salto.
– Não! – gritou. – Por que você diz isso?
– Einarson sabia que Mahmoud havia pagado para o soldado eliminá-lo, de modo que ou ele eliminou Mahmoud ou mandou eliminá-lo. Você contou a ele o que eu lhe disse na noite passada?
– Não. – O rapaz corou. – É constrangedor que a minha família tenha enviado um guardião atrás de mim.
Arrisquei um palpite:
– Ele lhe disse para me oferecer o emprego de que falou na noite passada e para me alertar para não falar a respeito do soldado, não foi?
– S...im.
– Bem, vá em frente e faça a oferta.
– Mas ele não sabe que você...
– O que você vai fazer, então? – perguntei. – Se você não me fizer a oferta, terá de lhe dizer por quê.
– Ah, Deus, que bagunça! – disse ele em tom cansado, apoiando os cotovelos nos joelhos, o rosto entre as mãos e me olhando com os olhos angustiados de um garoto que está achando a vida complicada demais.
Ele estava pronto para falar. Sorri, terminei meu café e esperei.
– Você sabe que eu não vou voltar para casa puxado pela orelha – disse ele, com uma súbita explosão de desafio infantil.
– Você sabe que eu não tentarei levá-lo – acalmei-o.
Fizemos mais um pouco de silêncio depois disso. Continuei fumando enquanto ele segurava a cabeça e se preocupava. Depois de um tempo, ele se contorceu na cadeira, sentou-se tenso e ereto, com o rosto absolutamente vermelho, dos cabelos ao colarinho.
– Vou pedir a sua ajuda – disse ele, fingindo não saber que estava ficando vermelho. – Vou lhe contar toda a bobagem. Se você rir, eu... Você não vai rir, vai?
– Se for engraçado, provavelmente, sim, mas isso não precisa me impedir de ajudar você.
– Sim, pode rir! É uma bobagem! Você deve rir! – Respirou fundo. – Você algum dia... algum dia pensou que gostaria de ser um... – ele parou, olhou para mim com um tipo desesperado de timidez, se recompôs, e quase gritou a última palavra – rei?
– Talvez. Pensei em muitas coisas que gostaria de ser, e essa pode ter sido uma delas.
– Conheci Mahmoud num baile da embaixada em Constantinopla – disparou ele a história, dizendo as palavras rapidamente, como se estivesse gostando de se livrar delas. – Ele era secretário do presidente Semich. Nós nos demos muito bem, embora eu não gostasse muito dele. Ele me convenceu a vir para cá e me apresentou ao Coronel Einarson. Então eles... realmente não há dúvidas de que o país é miseravelmente governado. Eu não teria me envolvido nisso se não fosse assim.
“Uma revolução estava sendo preparada. O homem que iria liderá-la havia acabado de morrer. O processo também estava prejudicado pela falta de dinheiro. Acredite, não foi apenas vaidade que fez com que eu me envolvesse. Eu acreditava... ainda acredito... que teria sido... será... pelo bem do país. A oferta que me fizeram foi que, se eu financiasse a revolução, eu poderia ser... poderia ser rei.
“Agora espere! Deus sabe que já está ruim o bastante assim, mas não pense que a bobagem é maior do que é. O dinheiro que tenho iria muito longe neste país pequeno e empobrecido. Então, com um governante americano, seria mais fácil, teria de ser, para o país pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos ou a Inglaterra. E há ainda a questão política. A Morávia é cercada por quatro países, todos suficientemente fortes para anexá-la, se quiserem. A Morávia permanece independente até hoje apenas por causa da inveja entre seus vizinhos mais fortes e porque não tem porto de mar.
“Mas, com um governante americano, e se saírem os empréstimos dos Estados Unidos e da Inglaterra para investirmos o capital deles aqui, a situação mudaria. A Morávia estaria numa posição mais forte, teria ao menos um pequeno direito de exigir algo na amizade com forças mais potentes. Isso bastaria para os vizinhos ficarem mais cautelosos.
“Logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Albânia pensou na mesma coisa e ofereceu a sua coroa a um dos ricos Bonaparte americanos. Ele não a quis. Era um homem mais velho e já tinha feito sua carreira. Eu quis a minha chance, quando ela veio. Já houve” – parte do constrangimento que havia sumido durante a conversa voltou – “houve reis na linhagem dos Grantham. Somos descendentes de James IV da Escócia. Eu queria... foi bom pensar em levar a linhagem de volta a uma coroa.
“Não estávamos planejando uma revolução violenta. Einarson domina o exército. Simplesmente teríamos de usar o exército para forçar os deputados, os que ainda não estavam conosco, a mudarem a forma de governo e me elegerem rei. Minha ascendência tornaria isso mais fácil do que se o candidato não tivesse sangue real. Isso me daria uma certa estatura, apesar... apesar de eu ser jovem, e... e as pessoas realmente desejam um rei, principalmente os camponeses. Eles não acham que podem se considerar uma nação sem um rei. Um presidente não significa nada para eles... é apenas um homem comum, como eles. Então, você vê, eu... Foi... Vá em frente, ria! Você já ouviu o bastante para saber como é uma bobagem!” – Sua voz estava aguda e áspera. – “Ria! Por que você não ri?”
– Por quê? – perguntei. – Deus sabe que é maluco, mas não é uma bobagem. Sua capacidade de julgamento foi péssima, mas a sua coragem está certa. Você está falando como se tudo estivesse morto e enterrado. O projeto fracassou?
– Não, não fracassou – disse ele lentamente, franzindo a testa –, mas eu fico pensando que sim. A morte de Mahmoud não deverá mudar a situação, embora eu tenha uma sensação de que tudo está terminado.
– Muito do seu dinheiro já se foi?
– Não me importo com isso. Mas... bem... imagine se os jornais americanos ficarem sabendo da história. E provavelmente ficarão. Você sabe como podem ridicularizá-la. E os outros que ficarem sabendo a respeito, a minha mãe, o tio e a companhia fiduciária. Não vou fingir que não tenho vergonha de encará-los. E então... – o rosto dele ficou vermelho e brilhoso. – E então a Valeska, a srta. Radnjak, cujo pai deveria ter liderado a revolução. E ele realmente a liderou... até ser assassinado. Ela é... eu jamais conseguiria ser bom o bastante para ela. – Ele disse isso num estranho tom de admiração idiota. – Mas eu esperava que, talvez, ao levar adiante o trabalho do pai dela, e se eu tivesse algo mais além de apenas dinheiro para lhe oferecer... se eu tivesse feito alguma coisa... construído algo sozinho... talvez ela... você sabe.
– Arrã – respondi.
– O que eu devo fazer? – perguntou ele, muito sério. – Não posso fugir. Preciso ir até o final por ela e manter a minha auto-estima. Mas tenho a sensação de que tudo terminou. Você se ofereceu para me ajudar. Ajude-me. Diga o que eu devo fazer!
– Você vai fazer o que eu disser... se eu prometer que vou tirá-lo disso com a cara limpa? – perguntei, como se orientar milionários descendentes de reis escoceses envolvidos em tramas nos Bálcãs fosse algo que eu conhecesse bem, só uma parte do meu trabalho diário.
– Sim!
– Qual é o próximo passo do programa revolucionário?
– Há uma reunião hoje à noite. Devo levar você.
– A que horas?
– Meia-noite.
– Eu me encontro com você às onze e meia. O quanto eu devo saber?
– Eu deveria lhe contar sobre o plano e oferecer quaisquer que fossem os incentivos necessários para atraí-lo. Não houve um acerto definitivo sobre quanto eu deveria ou não lhe dizer.
Às nove e meia daquela noite, um táxi me deixou em frente ao endereço que a secretária do ministro de Polícia havia me informado no bilhete. Era uma casa pequena de dois andares numa rua mal pavimentada no extremo leste da cidade. Uma mulher de meia idade vestindo roupas muito limpas, absolutamente engomadas e mal ajustadas abriu a porta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Romaine Frankl, num vestido de cetim sem mangas, flutuou atrás da mulher, sorrindo e estendendo uma mão pequena para mim.
– Não sabia se você viria – disse ela.
– Por quê? – perguntei, demonstrando uma grande surpresa à idéia de que qualquer homem pudesse ignorar um convite dela, enquanto a criada fechava a porta e pegava o meu casaco e o meu chapéu.
Estávamos numa sala revestida de papel de parede rosa-pálido, decorada e acarpetada com riqueza oriental. Havia um ponto discordante no ambiente – uma imensa poltrona de couro.
– Vamos lá para cima – disse a garota, dirigindo-se à criada com palavras que não significaram coisa alguma para mim, exceto o nome Marya. – Ou você – virou-se para mim novamente falando inglês – prefere cerveja a vinho?
Respondi que não, e subimos. A garota seguiu à frente com sua aparência natural de que estava sendo carregada. Levou-me para um ambiente decorado em preto, branco e cinza, mobiliado com muito bom gosto e o mínimo de peças possível, com a atmosfera de outra forma perfeitamente feminina prejudicada pela presença de outra das enormes poltronas estofadas.
A garota se sentou num sofá cinza, empurrando uma pilha de revistas francesas e austríacas para abrir espaço para que eu me acomodasse ao seu lado. Por uma porta aberta, pude ver o pé pintado de uma cama espanhola, uma pequena colcha púrpura e metade de uma janela com cortina da mesma cor.
– Sua Excelência sentiu muito – começou a dizer, mas parou.
Eu estava olhando – não fixamente – para a grande poltrona de couro. Sabia que ela tinha parado de falar por causa disso, de modo que não desviei o olhar.
– Vasilije – disse ela, mais claramente do que seria realmente necessário – sentiu muito ter de adiar o compromisso desta tarde. O assassinato do secretário do presidente – você ouviu falar? – obrigou-nos a deixar tudo o mais de lado por ora.
– Ah, sim, aquele sujeito chamado Mahmoud... – desviei lentamente o olhar da poltrona para ela. – Vocês descobriram quem o matou?
Seus olhos escuros de pupilas negras pareceram me estudar à distância enquanto ela sacudia a cabeça, balançando os cachos quase negros.
– Provavelmente Einarson – eu disse.
– Você não perdeu tempo. – Seus cílios inferiores levantavam quando ela sorria, dando aos olhos um efeito cintilante.
A criada Marya entrou com vinho e frutas, que pôs sobre uma mesinha ao lado do sofá, e saiu. A garota serviu vinho e me ofereceu cigarros de uma caixa de prata. Agradeci e preferi um dos meus. Ela fumou um cigarro egípcio king-size – grande como um charuto. Ele acentuou a pequenez do rosto e da mão dela – o que é provavelmente o motivo pelo qual ela prefere este tamanho.
– Que tipo de revolução eles venderam ao meu garoto? – perguntei.
– Uma que era muito boa até morrer.
– Por que morreu?
– Ela... você sabe alguma coisa sobre a nossa história?
– Não.
– Bem, a Morávia passou a existir como resultado do medo e da inveja de quatro países. Os quatorze ou dezesseis mil quilômetros quadrados que fazem este país não são de terra muito valiosa. Há poucas coisas aqui que qualquer um desses quatro países quisesse particularmente, mas nenhum dos três concordava em deixá-las para o quarto. O único jeito de acertar as coisas foi fazendo um país separado. Isso foi feito em 1923.
“O dr. Semich foi eleito o primeiro presidente, para um mandato de dez anos. Ele não é um estadista nem um político, e jamais será. Mas como era o único cidadão da Morávia de quem se ouvira falar fora da própria cidade, pensou-se que a eleição daria algum prestígio ao novo país. Além disso, era uma honraria adequada ao único grande homem da Morávia. Ele não deveria passar de uma fachada. O governo de verdade seria do general Danilo Radnjak, que foi eleito vice-presidente, o que, aqui, é mais do que o equivalente ao cargo de primeiro-ministro. O general Radnjak era um homem capaz. O exército o idolatrava, os camponeses confiavam nele, e a nossa bourgeoisie sabia que era um homem honesto, conservador, inteligente e tão bom administrador de negócios quanto militar.
“O dr. Semich era um intelectual idoso muito gentil, sem qualquer conhecimento de qualquer assunto mundano. Pode-se compreendê-lo pelo seguinte: ele é facilmente o maior dos bacteriologistas vivos, mas, se tiver intimidade com você, será capaz de lhe dizer que não acredita nem um pouco no valor da bacteriologia. ‘A humanidade deve aprender a conviver com as bactérias como se convive com amigos’, dirá ele. ‘Os nossos organismos devem se adaptar às doenças, para que haja pouca diferença entre ter tuberculose, por exemplo, ou não ter. É nisso que reside a vitória. Essa guerra contra as bactérias é um negócio inútil. Inútil, mas interessante. Por isso nós a realizamos. Isso de ficarmos investigando em laboratórios é absolutamente inútil, mas nos diverte.’
“Quando esse encantador velhinho sonhador foi honrado com a presidência por seus compatriotas, ele assumiu a posição da pior maneira possível. Resolveu demonstrar sua gratidão fechando o laboratório e aplicando-se de corpo e alma a governar o país. Por um tempo, conseguiu controlar a situação, e tudo correu bem.
“Mas Mahmoud tinha seus próprios objetivos. Era o secretário do dr. Semich e tinha a sua confiança. Começou a chamar a atenção do presidente para várias invasões de Radnjak nos poderes presidenciais. Numa tentativa de manter Mahmoud fora do controle, Radnjak cometeu um erro terrível. Procurou o dr. Semich e lhe disse franca e honestamente que ninguém esperava que ele, o presidente, desse todo o seu tempo àquele trabalho executivo, e que a intenção de seus compatriotas havia sido dar-lhe mais a honra de ser o primeiro presidente do que os deveres do cargo.
“Radnjak entregara-se às mãos de Mahmoud. O secretário tornou-se o governo de fato. O dr. Semich ficou então fortemente convencido de que Radnjak estava tentando roubar a sua autoridade. Daquele dia em diante, Radnjak ficou de mãos atadas. O dr. Semich insistiu em controlar ele próprio cada detalhe governamental, o que significava que Mahmoud os controlava, porque o Presidente sabe tanto sobre estadismo hoje quanto sabia quando assumiu o cargo. Reclamações, independentemente da origem, não serviam para nada. O dr. Semich considerava cada cidadão insatisfeito um conspirador cúmplice de Radnjak. Quanto mais Mahmoud era criticado na Câmara dos Deputados, mais o dr. Semich confiava nele. No ano passado, a situação tornou-se intolerável, e a revolução começou a tomar forma.
“Radnjak liderou-a, é claro, e pelo menos noventa por cento dos homens influentes de Morávia estavam envolvidos. A atitude das pessoas como um todo é difícil de julgar. Eles são em sua maioria camponeses, pequenos proprietários de terra, que apenas querem ser deixados em paz. Mas não há dúvida de que eles prefeririam ter um rei a um presidente, de modo que a forma teria de mudar para agradá-los. O exército, que idolatrava Radnjak, estava envolvido. A revolução amadureceu lentamente. O general Radnjak era um homem cauteloso e cuidadoso, e, como não somos um país rico, não havia muito dinheiro disponível.
“Dois meses antes da data marcada para o estouro da revolução, Radnjak foi assassinado. E a revolução se despedaçou, dividida em meia dúzia de facções. Não havia outro homem forte o bastante para mantê-las juntas. Alguns desses grupos ainda se reúnem e conspiram, mas não exercem uma influência geral, não têm um propósito real. E foi essa a revolução que venderam a Lionel Grantham. Teremos mais informação em um ou dois dias, mas o que soubemos até agora foi que Mahmoud, que passou um mês de férias em Constantinopla, trouxe Grantham para cá com ele e uniu forças com Einarson para aplicar um golpe no garoto.
“Claro que Mahmoud estava absolutamente fora da revolução, já que ela o tinha como alvo. Mas Einarson estivera envolvido com seu superior, Radnjak. Desde a morte de Radnjak, Einarson conseguiu transferir para si muito da lealdade que os soldados dedicavam ao general morto. Eles não amam o islandês como amavam Radnjak, mas Einarson é espetacular, teatral – tem todas as qualidades que os homens simples gostam de ver em seus líderes. Então Einarson tinha o exército e conseguiu dominar bastante do maquinário da falecida revolução para impressionar Grantham. Por dinheiro, ele a faria. Então ele e Mahmoud montaram um espetáculo para o seu garoto. Também usaram Valeska Radnjak, a filha do general. Acredito que ela também tenha sido feita de boba. Ouvi que o garoto e ela estão planejando ser rei e rainha. Quanto ele investiu nesta farsa?”
– Talvez o equivalente a três milhões de dólares americanos.
Romaine Frankl assoviou baixinho e serviu mais vinho.
– Qual era o posicionamento do ministro de Polícia quando a revolução ainda estava viva? – perguntei.
–Vasilije – disse ela, tomando goles de vinho entre uma frase e outra – é um homem peculiar, original. Não se interessa por nada além do próprio conforto. Conforto para ele são enormes quantidades de comida e bebida e pelo menos dezesseis horas de sono por dia, e não ter que se mover muito nas oito horas que passa acordado. Além disso, não se importa com nada. Para proteger seu conforto, fez do departamento de polícia um modelo. O trabalho deve ser feito com cuidado e eficácia. Se não, os crimes ficarão impunes, as pessoas reclamarão, e essas reclamações poderão perturbar Sua Excelência. Ele pode até precisar encurtar seu cochilo da tarde para participar de uma reunião. Isso não seria bom. Assim, ele insiste numa organização que mantenha o crime num nível mínimo e pegue quem cometer esses crimes mínimos. E consegue.
– Pegaram o assassino de Radnjak?
– Foi morto resistindo à prisão dez minutos depois do assassinato.
– Um dos homens de Mahmoud?
A garota esvaziou o copo, franzindo a testa para mim, com os cílios inferiores levantados emprestando um brilho ao franzir da testa.
– Você não é nada mau – disse, lentamente –, mas agora é a minha vez de perguntar. Por que você disse que Einarson matou Mahmoud?
– Einarson sabia que Mahmoud havia tentado matar Grantham e ele um pouco antes.
– É mesmo?
– Vi um soldado aceitar dinheiro de Mahmoud, emboscar Einarson e Grantham e errar a pontaria de seis tiros contra eles.
Ficou batendo com uma unha nos dentes.
– Isso não parece coisa de Mahmoud – protestou ela. – Ser visto pagando por seus assassinatos.
– Provavelmente não – concordei. – Mas suponha que o contratado tenha resolvido pedir mais dinheiro, ou talvez tivesse recebido apenas parte do pagamento. Que jeito melhor de receber do que aparecer do nada e pedir pelo restante no meio da rua alguns minutos antes da hora marcada para o serviço?
Ela assentiu com a cabeça e disse, como se estivesse pensando em voz alta:
– Então eles conseguiram tudo o que esperavam obter com Grantham, e ambos estavam tentando ficar com toda a quantia, eliminando o outro.
– O seu erro – eu lhe disse – é pensar que a revolução está morta.
– Mas nem por três milhões de dólares Mahmoud conspiraria para tirar a si mesmo do poder.
– Certo! Mahmoud pensava que estava fazendo teatro para o garoto. Quando soube que não era apenas um teatro, descobrindo que Einarson estava fazendo tudo a sério, tentou eliminá-lo.
– Talvez – disse ela, encolhendo os ombros nus. – Mas agora você está especulando.
– Ah é? Einarson carrega com ele uma foto do xá da Pérsia. Está gasta, como se ele a tivesse manipulado muito. O xá da Pérsia é um soldado russo que foi para lá depois da guerra, trabalhou muito até ter o exército em suas mãos, tornou-se ditador e então xá. Corrija-me se eu estiver enganado. Einarson é um soldado islandês que chegou aqui depois da guerra e trabalhou muito até ter o exército nas mãos. Se carrega uma foto do xá e olha para ela freqüentemente o bastante para que fique gasta pelo manuseio, quer dizer que ele espera seguir seu exemplo? Ou não?
Romaine Frankl levantou-se e começou a andar pela sala, mudou uma cadeira de posição alguns centímetros, arrumou um enfeite, ajeitou uma cortina, fingiu que um quadro estava torto na parede, indo de um lugar a outro com a aparência de estar sendo carregada – uma garota pequena e graciosa num vestido de cetim cor-de-rosa.
Parou diante de um espelho, foi um pouco para o lado para ver o meu reflexo e mexeu nos cachos ao dizer em tom quase distraído:
– Muito bem, Einarson quer uma revolução. O que o seu garoto irá fazer?
– O que eu mandar.
– O que você mandar?
– O que pagar melhor. Quero levá-lo de volta para casa com todo o seu dinheiro.
Ela saiu da frente do espelho e se aproximou de mim, mexeu nos meus cabelos, beijou a minha boca e sentou-se nos meus joelhos, segurando meu rosto entre suas mãos pequenas e quentes.
– Dê-me uma revolução, bom homem! – Seus olhos estavam negros de excitação, sua voz estava rouca, a boca ria, o corpo tremia. – Eu detesto Einarson. Use-o e destrua-o para mim. Mas dê-me uma revolução.
Dei uma risada, beijei-a, e virei-a no colo, de modo que sua cabeça se encaixasse em meu ombro.
– Vamos ver – prometi. – Vou encontrá-los à meia-noite. Talvez eu os conheça.
– Você volta depois da reunião?
– Tente manter-me longe!
Voltei para o hotel às onze e meia, carreguei os quadris com a arma e o cassetete de borracha e subi até a suíte de Grantham. Ele estava sozinho, mas disse que estava esperando por Einarson. Pareceu contente em me ver.
– Diga-me, Mahmoud foi a alguma das reuniões? – perguntei.
– Não. A sua participação na revolução era escondida até mesmo da maioria dos envolvidos. Havia motivos pelos quais ele não podia aparecer.
– Havia. O principal era que todos sabiam que ele não queria nenhuma revolta. Só queria dinheiro.
Grantham mordeu o lábio inferior e disse:
– Ah, Deus, que bagunça!
O coronel Einarson chegou vestindo um traje a rigor, mas ainda um soldado, um homem de ação. Seu aperto de mão era mais forte do que precisava ser. Seus pequenos olhos escuros eram duros e brilhantes.
– Estão prontos, senhores? – dirigiu-se ao garoto e a mim como se fôssemos uma multidão. – Excelente! Devemos ir. Teremos dificuldades esta noite. Mahmoud está morto. Alguns de nossos amigos perguntarão “Por que fazermos uma revolução agora? Ach!” – Levantou um canto do bigode escuro. – Responderei a isso. Boas almas, os nossos confrades, mas dados à timidez. Não há timidez sob uma liderança capaz. Vocês verão! – E levantou o bigode novamente. Aquele cavalheiro militar parecia estar se sentindo napoleônico. Mas eu não o menosprezaria como um revolucionário de comédia musical. Lembrei do que ele havia feito ao soldado.
Deixamos o hotel, entramos num carro, andamos por sete quadras e entramos num pequeno hotel, numa rua lateral. O porteiro curvou-se até a cintura quando abriu a porta para Einarson. Grantham e eu seguimos o oficial por um lance de escada acima, até um corredor mal iluminado. Um homem gordo e seboso de aproximadamente cinqüenta anos veio ao nosso encontro curvando-se e estalando a língua. Einarson apresentou-me para ele – o proprietário do hotel. Levou-nos até um ambiente de teto baixo onde trinta ou quarenta homens se levantaram das cadeiras e nos olharam através da fumaça de tabaco.
Einarson fez um discurso curto e muito formal que não consegui entender, apresentando-me ao grupo. Abaixei a cabeça numa saudação e peguei um lugar ao lado de Grantham. Einarson sentou-se do outro lado. Todos sentaram-se novamente, sem uma ordem especial.
O coronel Einarson acarinhou o bigode e começou a falar com um e outro, gritando acima do clamor das outras vozes quando necessário. Em voz baixa, Lionel Grantham indicou os conspiradores mais importantes para mim – mais ou menos uma dúzia de membros da Câmara dos Deputados, um banqueiro, um irmão do ministro das Finanças (que o estaria representando), meia dúzia de oficiais (todos vestindo roupas civis naquela noite), três professores da universidade, o presidente de um sindicato de trabalhadores, um proprietário de jornal e seu editor, o secretário de um clube de estudantes, um político de fora do país e um punhado de pequenos negociantes.
O banqueiro, um gordo de barba branca, de sessenta anos, levantou-se e começou um discurso, encarando Einarson atentamente. Ele falou baixo e deliberadamente, mas com um ar levemente desafiador. O coronel não permitiu que fosse muito longe.
– Ach! – gritou Einarson, levantando-se. Nada do que ele disse significou qualquer coisa para mim, mas as palavras tiraram a aparência rosada do rosto do banqueiro e provocaram desconforto nos olhares ao nosso redor.
– Eles querem cancelar tudo – Grantham sussurrou no meu ouvido. – Não levarão o plano adiante. Sei que não.
O clima da reunião ficou pesado. Muitas pessoas gritavam ao mesmo tempo, mas ninguém abafava a voz de Einarson. Todos estavam de pé, com o rosto ou muito vermelho ou muito branco. Sacudiam punhos, dedos e cabeças. O irmão do ministro das Finanças – um homem esguio e elegantemente vestido, com um rosto comprido e inteligente – tirou os óculos num gesto tão irritado que os quebrou na metade, berrou para Einarson, girou nos calcanhares e se dirigiu para a saída.
Abriu a porta e parou.
O corredor estava cheio de uniformes verdes. Soldados apoiados na parede, agachados, reuniam-se em pequenos grupos. Não tinham armas – apenas baionetas embainhadas ao lado. O irmão do ministro das Finanças ficou imóvel na porta, olhando para os soldados.
Um homem grande e moreno, de bigode castanho, vestindo roupas grosseiras e botas pesadas, olhou com olhos injetados dos soldados para Einarson e deu dois passos pesados em direção ao coronel. Era o político do país. Einarson apertou os lábios e deu um passo à frente para encontrá-lo. Os que estavam entre os dois se afastaram.
Einarson rugiu, e o camponês rugiu. Einarson fez mais barulho, mas isso não fez o camponês parar.
O coronel Einarson gritou “Ach!” e cuspiu no rosto do camponês.
O camponês recuou um passo, e pôs uma das mãos enormes sob o casaco marrom. Contornei Einarson e enfiei o cano da minha arma nas costelas do homem.
Einarson riu e chamou dois soldados na sala. Eles seguraram o sujeito pelos braços e o levaram para fora. Alguém fechou a porta. Todos se sentaram. Einarson fez outro discurso. Ninguém o interrompeu. O banqueiro de bigode branco fez outro discurso. O irmão do ministro das Finanças se levantou para dizer meia dúzia de palavras educadas, encarando Einarson com olhos míopes, segurando cada metade dos óculos numa das mãos delgadas. A um comando de Einarson, Grantham levantou-se e falou. Todos escutaram muito respeitosamente.
Einarson falou novamente. Todos se emocionaram. Todos falaram ao mesmo tempo. Isso prosseguiu por um longo tempo. Grantham me explicou que a revolução começaria no começo da manhã de quinta-feira – estávamos no começo da manhã de quarta-feira – e que naquele momento os detalhes estavam sendo repassados pela última vez. Duvidei que alguém fosse saber alguma coisa a respeito dos detalhes, com toda aquela confusão. Seguiram com aquilo até as três e meia. As últimas duas horas, passei cochilando numa cadeira, apoiado num canto da parede.
Grantham e eu voltamos caminhando para o hotel depois da reunião. Ele me disse que deveríamos nos reunir na praça às quatro horas da manhã seguinte. Às seis já seria dia e, a essa altura, os edifícios do governo, o presidente, a maioria das autoridades e dos deputados que não estavam do nosso lado estaria nas nossas mãos. A Câmara dos Deputados faria uma sessão sob o olhar das tropas de Einarson, e tudo seria feito o mais rápida e regularmente possível.
Eu deveria acompanhar Grantham como uma espécie de guarda-costas, o que significava, imagino, que nós dois seríamos mantidos ao máximo fora do caminho. Para mim não era um problema.
Deixei Grantham no quinto andar, fui para o meu quarto, joguei água fria no rosto e nas mãos e saí do hotel novamente. Não havia a menor chance de conseguir um táxi àquela hora, de modo que segui a pé para a casa de Romaine Frankl. Senti uma certa excitação no caminho.
Enquanto eu andava, um vento batia no meu rosto. Parei e virei-me contra ele para acender um cigarro. Uma sombra esgueirou-se para a sombra de um edifício mais adiante na rua. Eu estava sendo seguido, e sem muita habilidade. Terminei de acender o cigarro e continuei no caminho até chegar a uma rua suficientemente escura. Entrando nela, parei numa porta de entrada escura ao nível da rua.
Um homem apareceu ofegante na esquina. Meu primeiro golpe deu errado – o cassetete atingiu-o muito à frente, na bochecha. O segundo atingiu-o bem atrás da orelha. Deixei-o dormindo ali e fui para a casa de Romaine Frankl.
A criada Marya, num roupão de lã cinza, abriu a porta e me mandou para o quarto preto, branco e cinza, onde a secretária do ministro, ainda com o vestido cor-de-rosa, estava apoiada entre as almofadas do sofá. Um cinzeiro cheio de pontas de cigarro mostrava como ela vinha passando o tempo.
– E então? – perguntou, enquanto eu me aproximava para me sentar ao seu lado.
– Quinta-feira, às quatro, faremos a revolução.
– Eu sabia disso – disse ela, dando tapinhas na minha mão.
– Ela se fez sozinha, embora tenha havido alguns minutos em que eu poderia ter interrompido tudo simplesmente dando um soco atrás da orelha do coronel e deixando que os outros acabassem com ele. Isso me lembra... alguém contratou um homem para me seguir até aqui hoje à noite.
– Que tipo de homem?
– Baixo, atarracado, quarenta anos... mais ou menos o meu tamanho e a minha idade.
– Mas ele não conseguiu?
– Dei-lhe um soco e deixei-o dormindo no caminho.
Ela riu e puxou a minha orelha.
– Era Gopchek, o nosso melhor detetive. Vai ficar furioso.
– Bem, não coloque mais nenhum deles atrás de mim. Pode dizer que eu sinto muito por ter tido de bater duas vezes, mas a culpa foi dele mesmo. Ele não deveria ter sacudido a cabeça da primeira vez.
Ela riu e franziu a testa em seguida, finalmente assumindo uma expressão que tinha um pouco de cada.
– Fale sobre a reunião – ordenou.
Disse-lhe o que sabia. Quando terminei, ela puxou a minha cabeça para me beijar e segurou-a para sussurrar:
– Você confia em mim, não é, querido?
– Claro. Tanto quanto você confia em mim.
– Isso está longe de ser o bastante – disse ela, empurrando o meu rosto para longe.
Marya entrou com uma bandeja de comida. Puxamos a mesa para a frente do sofá e comemos.
– Não entendo você muito bem – disse Romaine enquanto mastigava um talo de aspargo. – Se não confia em mim, porque me conta coisas? Até onde sei, não mentiu muito para mim. Por que me dizer a verdade se não acredita em mim?
– É a minha natureza suscetível – expliquei. – Estou tão impressionado pela sua beleza e o seu encanto, que não consigo recusar nada.
– Não! – exclamou ela, subitamente séria. – Capitalizei esta beleza e este encanto em metade dos países do mundo. Nunca mais diga esse tipo de coisa de novo. Fico magoada, porque... porque... – empurrou o prato, começou a procurar um cigarro, parou a mão no meio do caminho e olho para mim com olhos irritados. – Eu te amo – disse.
Segurei a mão que estava parada no ar, beijei-a e perguntei:
– Você me ama mais do que qualquer outra coisa no mundo?
Puxou a mão da minha.
– Você é contador? – perguntou. – Precisa de quantias, pesos e medidas para tudo?
Sorri e tentei continuar a minha refeição. Estava com fome antes. Agora, embora tivesse dado apenas duas garfadas, não tinha mais apetite. Tentei fingir que ainda sentia a fome que havia perdido, mas não deu. A comida não queria ser engolida. Desisti da tentativa e acendi um cigarro.
Ela usou a mão esquerda para abanar a fumaça de entre nós.
– Você não confia em mim – insistiu. – Então por que se coloca nas minhas mãos?
– Por que não? Você pode transformar a revolução num fracasso. Isso não significa nada para mim. A festa não é minha, e seu fracasso não significa que eu não possa tirar o garoto do país com o dinheiro dele.
– Você não se importa em ser preso, executado, talvez?
– Vou me arriscar – respondi. Mas o que eu estava pensando era que, se depois de vinte anos de tramas e malandragens em cidades grandes eu me deixasse ficar preso naquela cidadezinha na encosta, seria bem feito.
– E você não tem nenhum sentimento por mim?
– Não seja boba. – Acenei com o cigarro para a minha refeição intocada. – Não como nada desde as oito da noite de ontem.
Ela riu, pôs a mão na minha boca e disse:
– Eu entendo. Você me ama, mas não o suficiente para me deixa interferir nos seus planos. Não gosto disso. É efeminado.
– Você vai aderir à revolução? – perguntei.
– Não vou correr pelas ruas atirando bombas, se é o que quer saber.
– E Djudakovich?
– Ele dorme até as onze da manhã. Se começarem às quatro, têm pelo menos sete horas antes de ele acordar. – Ela disse tudo isso absolutamente séria. – Façam a revolução nesse período, ou ele pode resolver parar com tudo.
– Ah é? Eu tinha a impressão de que ele queria a revolução.
– Vasilije quer apenas paz e tranqüilidade.
– Mas, veja bem, querida – protestei. – Se o seu Vasilije for minimamente bom, não terá como não saber da revolução antes da hora. Einarson e seu exército são a revolução. Os banqueiros, deputados e outros do tipo que ele está carregando junto para dar uma aparência responsável à coisa toda são um bando de conspiradores de cinema. Olhe para eles! Fazem as reuniões à meia-noite, e todas essas bobagens. Agora que estão realmente comprometidos a fazer alguma coisa, não conseguirão deixar de espalhar a notícia. Passarão o dia tremendo e cochichando juntos em cantos estranhos.
– Eles estão fazendo isso há meses – disse ela. – Ninguém mais presta atenção neles. E eu prometo que Vasilije não ouvirá nada de novo. Eu certamente não lhe contarei nada, e ele nunca escuta nada do que qualquer outra pessoa diz.
– Tudo bem. – Eu não tinha certeza de que estava tudo bem, mas poderia estar. – Agora essa briga vai até o fim... se o exército seguir Einarson?
– Sim, e o exército irá seguir Einarson.
– Então, depois que terminar, começa o nosso trabalho de verdade?
Ela esfregou um floco de cinza de cigarro na toalha da mesa com um dedinho e não disse nada.
– Einarson precisa ser derrubado – continuei.
– Precisaremos matá-lo – disse ela, pensativa. – É melhor que você mesmo o faça.
Encontrei-me com Einarson e Grantham naquela noite e passei várias horas com eles. O garoto estava agitado, nervoso, sem confiança no sucesso da revolução, embora tentasse fingir que acompanhava tudo com naturalidade. Einarson tinha muito discurso. Deu-nos todos os detalhes dos planos para o dia seguinte. Eu estava mais interessado nele do que no que ele dizia. Pensei que ele era capaz de fazer a revolução com sucesso, e estava disposto a deixar isso por sua conta. Então, enquanto ele falava, eu o estudava, procurando atentamente por seus pontos fracos.
Primeiro observei-o fisicamente – um homem alto e corpulento, no auge, não tão veloz como poderia ter sido, mas forte e durão. Tinha um maxilar amplo e um rosto avermelhado de nariz pequeno que um punho não seria capaz de afetar muito. Não era gordo, mas comia e bebia demais para estar em forma, e um homem avermelhado como ele raramente agüenta muitos golpes na altura do cinto. E isso me bastava em relação ao corpo do homem.
Mentalmente, não era um peso-pesado. Sua revolução era primária. Conseguiria levá-la a cabo porque não havia muita oposição. Eu imaginava que ele tivesse muita força de vontade, mas não apostava muito só nisso. Pessoas sem muito cérebro precisam desenvolver força de vontade para chegar a qualquer lugar. Não sabia se ele tinha coragem ou não, mas, diante de uma platéia, achei que faria uma grande exibição, e a maior parte desse ato seria diante de uma platéia. Num canto escuro, imaginava que ele se acovardaria. Acreditava em si mesmo – absolutamente. Isso é noventa por cento da liderança, de modo que não havia uma falha nesse ponto. Não confiava em mim. Havia me aceitado porque, do modo como as coisas aconteceram, era mais fácil fazer isso do que fechar a porta na minha cara.
Continuou falando sobre seus planos. Estava tudo decidido. Ele traria seus soldados para a cidade no começo da manhã e tomaria o governo. Era todo o plano necessário. O resto era a alface em torno do prato, mas essa parte da alface era a única parte que podíamos discutir. Estava entediado.
Às onze horas, Einarson parou de falar e nos deixou, fazendo o seguinte tipo de discurso:
– Até as quatro horas, senhores, quando a história da Morávia começa. – Pôs uma mão no meu ombro e ordenou: – Guarde Sua Majestade!
Respondi “Arrã” e imediatamente mandei Sua Majestade para a cama. Ele não iria dormir, mas era jovem demais para admitir isso, de modo que foi para a cama relativamente de boa vontade. Peguei um táxi e fui para a casa de Romaine.
Ela estava como uma criança na noite anterior a um piquenique. Beijou-me e beijou a criada Marya. Sentou-se nos meus joelhos, ao meu lado, no chão, em todas as cadeiras, mudando de posição a cada meio minuto. Ria e falava sem parar, sobre a revolução, sobre mim, sobre ela mesma, sobre absolutamente nada. Quase se asfixiou tentando falar enquanto engolia vinho. Acendeu seus grandes cigarros e se esqueceu de fumá-los ou se esqueceu de parar de fumá-los até eles queimarem seus lábios. Cantou versos de canções em meia dúzia de línguas.
Deixei-a às três horas. Ela desceu até a porta comigo e puxou a minha cabeça para baixo para beijar-me os olhos e a boca.
– Se alguma coisa der errado – disse ela –, venha para a prisão. – Vamos controlá-la até...
– Se der bem errado, eu serei levado para lá – prometi.
Então parou de brincar.
– Estou indo para lá agora – disse ela. – Temo que Einarson tenha a minha casa em sua lista.
– Boa idéia – disse eu. – Se você encontrar algum problema, mande me avisar.
Voltei para o hotel caminhando pelas ruas escuras – as luzes eram apagadas à meia-noite – sem ver uma única pessoa, nem mesmo um dos policiais de uniforme cinza. Quando cheguei, a chuva caía, constante.
No meu quarto, vesti roupas e sapatos mais pesados, peguei uma arma extra – uma automática – na minha mala e guardei-a num coldre de ombro. Então enchi os bolsos com munição suficiente para me deixar com as pernas arqueadas, peguei o chapéu e a capa de chuva e subi até a suíte de Lionel Grantham.
– São dez para as quatro – eu disse. – Podemos descer para a praça. É melhor pôr uma arma no bolso.
Ele não havia dormido. Seu jovem rosto bonito estava tão calmo, rosado e composto como da primeira vez que eu o vira, embora seus olhos estivessem mais iluminados agora. Vestiu um sobretudo, e descemos.
A chuva caía sobre os nossos rostos conforme nos dirigíamos para o centro da praça escura. Outros vultos se moviam ao nosso redor, embora ninguém se aproximasse. Paramos ao pé de uma estátua de ferro de alguém montado num cavalo.
Um jovem pálido de uma magreza extraordinária se aproximou e começou a falar rapidamente, gesticulando com as duas mãos, fungando de vez em quando, como se estivesse resfriado. Não consegui entender uma única palavra do que ele disse.
O murmúrio de vozes começou a concorrer com o barulho da chuva. O rosto gordo com bigode branco do banqueiro que estivera na reunião apareceu subitamente do meio da escuridão e voltou para ela com a mesma rapidez, como se não quisesse ser reconhecido. Homens que eu não tinha visto antes se reuniram ao nosso redor, saudando Grantham com uma espécie de respeito acanhado. Um homenzinho vestindo uma capa muito grande correu e começou a nos dizer alguma coisa numa voz rachada e entrecortada. Um homem magro e encurvado, com óculos respingados de gotas de chuva, traduziu a história do homenzinho para o inglês.
– Ele está dizendo que a artilharia nos traiu e que há armas sendo montadas nos edifícios do governo para varrerem a praça ao nascer do dia. – Havia um estranho tipo de esperança na sua voz. Ele acrescentou: – Neste caso, naturalmente, não podemos fazer nada.
– Podemos morrer – disse Lionel Grantham, num tom gentil.
Aquela resposta não fazia nenhum sentido. Ninguém estava ali para morrer. Todos estavam ali porque era muito improvável que alguém tivesse que morrer, exceto, talvez, alguns dos soldados de Einarson. Esta é a visão sensata do discurso do garoto. Mas juro por Deus que até mesmo eu – um detetive de meia-idade que havia esquecido como era acreditar em contos de fada – me senti repentinamente aquecido em minhas roupas molhadas. E, se alguém me dissesse “Este garoto é um rei de verdade”, eu não discutiria.
Um silêncio abrupto surgiu do murmúrio ao nosso redor, deixando-nos apenas com o barulho da chuva e o ritmo compassado da marcha ordeira pela rua – os homens de Einarson. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, felizes, cheios de expectativa, animados pela aproximação daqueles que fariam o trabalho pesado.
Um oficial vestindo um impermeável reluzente abriu caminho na multidão – um garoto pequeno e elegante, com uma espada grande demais. Saudou Grantham de forma elaborada e disse, num inglês do qual parecia sentir orgulho:
– Os respeitos do coronel Einarson, Senhor, e este progresso se afina.
Fiquei imaginando o que aquilo significava.
Grantham sorriu e respondeu:
– Transmita meus agradecimentos ao coronel Einarson.
O banqueiro reapareceu, com coragem suficiente para se unir a nós. Outros que haviam estado na reunião também apareceram. Formamos um grupo interno em torno da estátua, com a multidão ao nosso redor – agora mais facilmente visível, à luminosidade cinzenta do começo da manhã. Não vi o camponês em cujo rosto Einarson havia cuspido.
A chuva nos encharcava. Mudávamos o pé de apoio, tremíamos e conversávamos. A luz do dia surgiu lentamente, mostrando cada vez mais quem estava ao nosso redor, molhado e com a expressão curiosa. Na borda da multidão, homens explodiram em saudações. O restante fez coro. Esqueceram-se da tristeza molhada e começaram a rir e dançar, abraçaram-se e beijaram-se. Um homem de barba vestindo um casaco de couro se aproximou, curvou-se para Grantham e explicou que o regimento de Einarson pôde ser visto ocupando o Prédio da Administração.
O dia raiou completamente. A multidão ao nosso redor abriu caminho para um automóvel que estava cercado por um esquadrão de cavalaria. O veículo parou diante de nós. Empunhando uma espada, o coronel Einarson saiu do carro, fez ima saudação e segurou a porta aberta para Grantham e eu. Seguiu-nos, cheirando a vitória, como uma corista cheira a perfume Coty. Os cavaleiros se aproximaram do carro novamente, e fomos levados para o Prédio da Administração através de uma multidão que gritava e corria com o rosto vermelho de alegria atrás de nós. Foi tudo muito teatral.
– A cidade é nossa – disse Einarson, inclinando-se em seu assento, com a ponta da espada no chão do carro. – O presidente, os deputados, quase todos os detentores de cargos importantes estão dominados. Nenhum tiro foi disparado, nenhuma janela foi quebrada!
Estava orgulhoso da sua revolução, e eu não o culpava por isso. Não tinha mais tanta certeza de que ele podia não ter cabeça, afinal. Ele tinha tido noção suficiente para manter seus partidários civis na praça até que os soldados tivessem terminado o trabalho deles.
Descemos no Prédio da Administração, subimos a escada entre fileiras de homens de infantaria apresentando armas. A chuva cintilava em suas baionetas. Mais soldados de uniforme verde apresentaram armas ao longo dos corredores. Entramos numa sala de jantar cuidadosamente mobiliada, onde quinze ou vinte oficiais se levantaram para nos receber. Houve muitos discursos. Todos estavam triunfantes. Durante todo o café da manhã, houve muita conversa. Eu não entendi nada.
Depois da refeição, fomos à Câmara dos Deputados, um salão grande e oval com fileiras curvas de mesas e cadeiras diante de uma plataforma mais alta. Além das três mesas da plataforma, cerca de vinte cadeiras haviam sido colocadas ali, de frente para as fileiras curvas. O grupo do nosso café da manhã ocupou essas cadeiras. Percebi que Grantham e eu éramos os únicos civis na plataforma. Nenhum dos nossos companheiros conspiradores estava lá, exceto pelos que pertenciam ao exército de Einarson. Não gostei muito disso.
Grantham sentou-se na primeira fileira de cadeiras, entre Einarson e eu. Víamos os deputados abaixo de nós. Havia mais ou menos cem deles distribuídos nos assentos, claramente divididos em dois grupos. A metade do lado direito do salão era de revolucionários. Todos se levantaram e nos saudaram com vivas. A outra metade, à esquerda, era de prisioneiros. A maioria parecia ter se vestido às pressas.
Em volta do salão, soldados de Einarson estavam postados ombro a ombro contra a parede, exceto na plataforma e nas portas.
Um velho entrou entre dois soldados – um senhor de olhos gentis, careca, encurvado, com um rosto enrugado, barbeado e ar de intelectual.
– Dr. Semich – sussurrou Grantham.
Os guardas do presidente levaram-no para o centro de uma das três mesas sobre a plataforma. Ele não prestou atenção nos que estavam sentados na plataforma e não se sentou.
Um deputado ruivo – pertencente ao grupo revolucionário – levantou-se e falou. Seus companheiros festejaram-no quando ele terminou. O presidente falou – três palavras numa voz muito seca e muito calma – e deixou a plataforma, saindo pelo mesmo caminho que entrara, acompanhado pelos dois soldados.
– Recusou-se a renunciar – informou-me Grantham.
O deputado ruivo subiu na plataforma e sentou-se à mesa central. A máquina legislativa começou a funcionar. Alguns homens falaram brevemente, aparentemente indo direto ao ponto – revolucionários. Nenhum dos deputados prisioneiros se manifestou. Houve uma votação. Alguns dos contrários à revolução não votaram. A maioria pareceu votar com os favoráveis.
– Revogaram a constituição – sussurrou Grantham.
Os deputados comemoraram novamente – os que estavam lá voluntariamente. Einarson inclinou-se e cochichou para Grantham e eu:
– É até onde podemos ir com segurança hoje. Deixe tudo em nossas mãos.
– Está na hora de ouvir uma sugestão? – perguntei.
– Sim.
– Pode me dar licença por um instante? – perguntei a Grantham antes de me levantar e ir até um dos cantos de trás da plataforma.
Einarson me seguiu, franzindo a testa com desconfiança.
– Por que não dar a coroa a Grantham agora? – perguntei, quando estávamos juntos no canto, de pé, meu ombro direito tocando seu ombro esquerdo, meio de frente um para o outro, meio de frente para o canto, de costas para os oficiais sentados na plataforma. O mais próximo a menos de três metros de distância. – Vá até o fim. Você pode fazer isso. Claro que haverá protestos. Amanhã, como uma concessão a esses protestos, você o faz abdicar. Terá crédito por isso. Ficará cinqüenta por cento mais forte diante do povo. Então estará na posição de fazer parecer com que a revolução foi invenção dele e de você, o patriota que evitou que esse recém-chegado tomasse o trono. Enquanto isso, você será ditador e o que mais quiser quando chegar a hora. Está me entendendo? Deixe-o suportar o peso. Você pega o seu no rebote.
Ele gostou da idéia, mas não gostou do fato de que tinha partido de mim. Seus olhinhos escuros se cravaram nos meus.
– Por que você está me sugerindo isso? – perguntou.
– Que importância tem isso? Prometo que ele abdicará em 24 horas.
Ele sorriu embaixo do bigode e levantou a cabeça. Conhecia um major da Força Aérea Americana que sempre levantava a cabeça dessa maneira quando ia dar uma ordem desagradável. Falei rapidamente.
– A minha capa de chuva... está vendo que está dobrada sobre o meu braço esquerdo?
Ele não disse nada, mas semicerrou as pálpebras.
– Você pode ver a minha mão esquerda – prossegui.
Seus olhos estavam quase fechados, mas ele não disse nada.
– Estou segurando uma automática – concluí.
– E? – perguntou ele, com desdém.
– Nada, só... faça alguma gracinha, e eu estouro as suas tripas.
– Ach! – ele não me levou a sério. – E depois disso?
– Não sei. Pense nisso com cuidado, Einarson. Eu me pus deliberadamente numa posição em que terei de ir em frente se você não ceder. Posso matar você antes que consiga fazer alguma coisa. E vou matar se você não der a coroa a Grantham agora. Está entendendo? Preciso ir. Talvez, é muito provável, que os seus rapazes me peguem depois, mas você estaria morto. Se eu recuar agora, você certamente vai mandar me matarem. Então eu não posso recuar. Se nenhum de nós dois recuar, nós dois daremos o salto. Eu fui longe demais para enfraquecer agora. Você terá de ceder. Pense no caso.
Ele pensou. A cor fugiu do seu rosto, e um leve movimento ondulatório surgiu em seu queixo. Pressionei-o, movendo a capa de chuva o suficiente para que ele visse o cano da arma que realmente estava na minha mão esquerda. Eu estava armado – ele não tinha coragem suficiente para correr o risco de morrer em seu momento de vitória.
Atravessou a plataforma até a mesa na qual estava o deputado ruivo, que afastou com um resmungo e um gesto, inclinou-se sobre a mesa e berrou para a câmara. Fiquei um pouco mais ao lado dele, um pouco para trás, de modo que ninguém pudesse ficar entre nós.
Nenhum deputado fez qualquer som durante um longo minuto depois do berro do Coronel. Então um dos anti-revolucionários saltou de pé e falou alto, num tom amargo. Einarson apontou um dedo marrom para ele. Dois soldados deixaram seus postos perto da parede, agarraram o deputado com força pelo pescoço e os braços e o arrastaram para fora. Outro deputado se levantou, falou, e foi retirado. Depois do quinto parlamentar sair arrastado, tudo ficou tranqüilo. Einarson apresentou um questionamento e recebeu uma resposta unânime.
Virou-se para mim, com o olhar indo e vindo do meu rosto para a minha capa de chuva e disse:
– Está feito.
– Vamos fazer a coroação agora – ordenei.
Perdi a maior parte da cerimônia. Estava ocupado mantendo o oficial de rosto vermelho sob controle, mas, finalmente, Lionel Grantham foi oficialmente coroado como Lionel Primeiro, rei da Morávia. Einarson e eu o cumprimentamos, ou o que quer que fosse, juntos. Então puxei o oficial para o lado.
– Vamos dar uma caminhada – eu disse. – Não tente nenhuma bobagem. Leve-me para fora por uma saída lateral.
Eu o tinha dominado, quase sem precisar da arma. Ele teria de lidar silenciosamente com Grantham e eu – matar-nos sem qualquer publicidade – se não quisesse ser alvo de chacota – aquele homem que se deixara ser roubado de um trono no meio do próprio exército.
Contornamos o Prédio da Administração até o Hotel da República sem cruzarmos com ninguém que nos conhecesse. Toda a população estava na praça. Encontramos o hotel deserto. Fiz com que levasse o elevador até o meu andar e conduzi-o até o meu quarto.
Tentei abrir a porta, que estava destrancada, soltei a maçaneta e disse-lhe para entrar. Ele empurrou a porta e parou.
Romaine Frankl estava sentada de pernas cruzadas no meio da minha cama, costurando um botão em um dos meus ternos.
Empurrei Einarson para dentro do quarto e fechei a porta. Romaine olhou para ele, e agora a automática estava descoberta em minha mão. Representando uma decepção burlesca, ela disse:
– Ah, você ainda não o matou!
O coronel Einarson ficou tenso. Agora tinha uma platéia – para assistir à sua humilhação. Era provável que fizesse alguma coisa. Eu teria de lidar com ele de luvas ou... talvez a outra maneira fosse melhor. Chutei-lhe o tornozelo e resmungou:
– Vá para o canto e sente-se!
Ele girou para mim. Bati com o cano da pistola em seu rosto, prendendo seu lábio entre a arma e os dentes. Quando sua cabeça caiu para trás, atingi-o na barriga com o outro punho. Ele tentou respirar com a boca aberta. Empurrei-o para uma cadeira num canto.
Romaine riu e sacudiu o dedo para mim, dizendo:
– Você é um arruaceiro!
– O que mais eu posso fazer? – protestei, principalmente por causa do meu prisioneiro. – Quando alguém o está observando, ele tem a impressão de ser um herói. Eu o dominei e o fiz coroar o garoto rei. Mas este passarinho ainda tem o exército, que é o governo. Não posso soltá-lo, ou tanto Lionel Primeiro quanto eu levaremos chumbo. Dói mais em mim ter que ficar batendo nele, mas não posso evitar. Preciso mantê-lo sensato.
– Você não está sendo correto em relação a ele – ela respondeu. – Você não tem o direito de maltratá-lo. A única coisa educada a fazer é cortar a garganta dele de modo cavalheiresco.
– Ach! – os pulmões de Einarson estavam funcionando de novo.
– Cale a boca – gritei para ele – ou eu acabo com você.
Ele olhou com raiva para mim, e eu perguntei à garota:
– O que vamos fazer com ele? Eu gostaria de cortar-lhe a garganta, mas o problema é que seu exército pode vingá-lo, e não sou o tipo de cara que gosta de ter atrás de si o exército de alguém em busca de vingança.
– Vamos entregá-lo a Vasilije – disse ela, jogando as pernas para o lado da cama e ficando de pé. – Ele saberá o que fazer.
– Onde está ele?
– Lá em cima, na suíte de Grantham, terminando o cochilo da manhã.
Então ela falou com naturalidade, casualmente, como se não estivesse pensando seriamente no assunto:
– Então você fez o garoto ser coroado?
– Fiz. Você quer a coroa para o seu Vasilije? Ótimo! Queremos cinco milhões de dólares americanos pela abdicação. Grantham deu três para financiar a coisa toda e merece um lucro. Ele foi regularmente eleito pelos deputados. Ele não tem apoio real aqui, mas pode obter apoio com os vizinhos. Não se esqueça disso. Há uns dois países não muito distantes que mandariam de bom grado um exército para apoiar um rei legítimo em troca de quaisquer concessões que desejassem. Mas Lionel Primeiro é um homem razoável. Ele acha que seria melhor o país ter um governante nativo. Tudo o que pede é uma provisão decente do governo. Cinco milhões é um valor baixo o suficiente, e ele abdicará amanhã. Diga isso ao seu Vasilije.
Ela deu a volta para evitar passar entre a minha arma e seu alvo, ficou nas pontas dos pés para beijar a minha orelha e disse:
– Você e o seu rei são dois bandoleiros. Voltarei em alguns minutos.
Ela saiu.
– Dez milhões – disse o coronel Einarson.
– Não posso confiar em você – respondi. – Você nos pagaria diante de um pelotão de fuzilamento.
– E pode confiar nesse porco do Djudakovich?
– Ele não tem motivo para nos odiar.
– Mas terá, se souber sobre você e sua Romaine.
Dei uma risada.
– Além disso, como ele poderá ser rei? Ach! De que serve sua promessa de pagar se ele não pode estar na posição de pagar? Mesmo considerando que eu estivesse morto. O que ele fará com o meu exército? Ach! Você viu aquele porco! Que tipo de rei é ele?
– Não sei – respondi sinceramente. – Disseram-me que ele foi um bom ministro de Polícia porque a ineficiência atrapalharia seu conforto. Talvez ele fosse um bom rei pelo mesmo motivo. Eu o vi uma vez. É uma montanha balofa, mas não há nada de ridículo em relação a ele. Ele pesa uma tonelada e se move sem chacoalhar o chão. Eu teria medo de tentar fazer com ele o que fiz com você.
Esse insulto fez o soldado se levantar, muito alto e ereto. Seus olhos me fuzilaram enquanto a boca se transformava numa linha fina. Ele ia me dar trabalho antes que me livrasse dele.
A porta se abriu, e Vasilije Djudakovich entrou, seguido pela garota. Sorri para o ministro gordo. Ele assentiu sem sorrir. Seus olhinhos escuros desviaram friamente de mim para Einarson.
A garota disse:
– O governo dará a Lionel Primeiro uma ordem de saque de quatro milhões de dólares, americanos, num banco de Viena ou de Atenas, em troca de sua abdicação. – Deixou o tom oficial e acrescentou: – Foram todos os centavos que consegui tirar dele.
– Você e o seu Vasilije são uma dupla de pechincheiros de última categoria – reclamei. – Mas aceitaremos. Precisaremos de um trem especial para Salônica... um trem que nos leve para o outro lado da fronteira antes que a abdicação passe a ter valor.
– Isso será arranjado – ela prometeu.
– Ótimo! Agora façam tudo o que esse seu Vasilije precisa fazer para tirar o exército de Einarson. Ele pode fazer isso?
– Ach! – O coronel Einarson ergueu a cabeça e inchou o peito amplo. – Isso é precisamente o que ele tem que fazer!
O gordo resmungou sonolento através da barba amarelada. Romaine aproximou-se e pôs a mão no meu braço.
– Vasilije quer conversar em particular com Einarson. Deixe com ele.
Concordei e ofereci a minha automática a Djudakovich, que não prestou atenção nem à arma nem a mim. Estava olhando com uma espécie de paciência viscosa para o oficial. Saí com a garota e fechei a porta. No pé da escada, segurei-a pelos ombros.
– Posso confiar no seu Vasilije? – perguntei.
– Ah, meu querido, ele daria conta de meia dúzia de Einarsons.
– Não quis dizer nesse sentido. Ele não vai tentar me dar um golpe?
– Por que começar a se preocupar com isso agora?
– Ele não me parece ser uma pessoa exatamente amistosa.
Ela riu e virou o rosto para morder uma das minhas mãos.
– Ele tem ideais, ela explicou. – Ele despreza você e o seu rei como uma dupla de aventureiros que estão lucrando com os problemas deste país. Por isso faz tanta cara feia. Mas manterá a sua palavra.
Talvez fosse manter, pensei, mas ele não tinha me dado a sua palavra – ela tinha.
– Vou dar uma olhada em Sua Majestade – eu disse. – Não vou demorar muito. Depois vou me unir a vocês na suíte dele. Por que a costura? Eu não tinha nenhum botão solto.
– Tinha sim – disse ela, remexendo meus bolsos atrás de cigarros. – Arranquei um quando um dos nossos homens me disse que você e Einarson estavam a caminho. Achei que daria uma aparência doméstica.
Encontrei meu rei numa sala decorada em vinho e dourado na Residência Executiva, cercado por ambiciosos sociais e políticos da Morávia. Os uniformes ainda eram a maioria, mas alguns civis haviam chegado até ele, afinal, junto com as mulheres e as filhas. Ele esteve ocupado demais para me ver por alguns minutos, de modo que fiquei por perto, olhando para as pessoas. Para uma delas em particular – uma garota alta de preto que estava afastada dos demais, perto de uma janela.
Notei-a primeiro porque era bonita de rosto e de corpo, e então observei-a mais atentamente por causa da expressão dos olhos castanhos com que olhava para o novo rei. Se alguém parecia orgulhoso de outra pessoa, era essa menina de Grantham. A forma como ela estava ali parada, sozinha perto da janela, olhando para ele... ele teria de ser ao menos uma combinação de Apolo, Sócrates e Alexandre para merecer metade daquilo. Valeska Radnjak, supus.
Olhei para o garoto. Seu rosto estava orgulhoso e corado, e a cada dois segundos ele se virava para a garota perto da janela enquanto ouvia o tagarelar do grupo que o idolatrava ao seu redor. Eu sabia que ele não era nenhum Apolo-Sócrates-Alexandre, mas ele tinha conseguido se parecer com isso. Havia encontrado um lugar no mundo de que gostava. Eu lamentava um pouco que ele não pudesse manter aquilo, mas os meus arrependimentos não me impediram de concluir que eu já havia perdido tempo suficiente.
Forcei a passagem em meio às pessoas na sua direção. Ele me reconheceu com os olhos de um mendigo de parque que era despertado de bons sonhos por um cassetete batendo nas solas dos sapatos. Pediu licença aos demais e me levou por um corredor até uma peça com janelas de vidraças manchadas e mobília de escritório ricamente entalhada.
– Este era o gabinete do dr. Semich – disse-me ele. – Eu...
– Você estará na Grécia amanhã – eu disse, bruscamente.
Ele fechou a cara olhando para os pés, numa expressão teimosa.
– Você deve saber que não pode continuar – argumentei. – Você pode achar que tudo está indo tranqüilamente. Se sim, você é surdo, tolo e cego. Eu consegui que você fosse coroado com o cano de uma arma apontado para o fígado de Einarson. Consegui mantê-lo esse tempo todo seqüestrando-o. Fiz um acordo com Djudakovich – o único homem forte que vi aqui. Cabe a ele lidar com o Einarson. Eu não consigo mais contê-lo. Djudakovich dará um bom rei, se quiser. Ele lhe promete quatro milhões de dólares, um trem especial e salvo-conduto até Salônica. Você sai de cabeça erguida. Você foi rei. Tirou um país de mãos ruins e o deixou em mãos boas – esse gordo é real. E conseguiu um lucro de um milhão.
– Não. Vá você. Eu devo ficar até o fim. Essas pessoas confiaram em mim, e eu...
– Meu Deus, isso é uma fala do velho dr. Semich! Essas pessoas não confiaram e você... nem um pouquinho. Eu sou a pessoa que confiou em você. Eu fiz de você um rei, entendeu? Fiz de você um rei para que você pudesse ir para casa com o queixo erguido... não para que ficasse aqui fazendo papel de idiota! Comprei ajuda com promessas. Uma delas foi de que você sairia em 24 horas. Você precisa manter as promessas que eu fiz no seu nome. Essas pessoas confiaram em você, é? Você foi enfiado goela abaixo deles, meu filho! E fui eu que enfiei! Agora, preciso desenfiá-lo. Se for ruim para o seu romance... se a sua Valeska não aceitar nada menos do que o trono deste paisinho...
– Chega. – Sua voz veio de algum ponto pelo menos quinze metros acima de mim. – Você terá a sua abdicação. Não quero o dinheiro. Você me avisará sobre quando o trem estiver pronto.
– Escreva a abdicação agora – ordenei.
Ele foi até a mesa, pegou uma folha de papel e, com a mão firme, escreveu que, ao deixar a Morávia, ele renunciava do trono e de todos os poderes relacionados a ele. Assinou o papel com Lionel Rex e entregou-o a mim. Enfiei-o no bolso e comecei a dizer, em tom compreensivo:
– Entendo os seus sentimentos, e sinto que...
Virou-se de costas para mim e saiu. Voltei ao hotel.
No quinto andar, saí do elevador e fui caminhando calmamente até a porta do meu quarto. Não ouvi nenhum som. Tentei abrir a porta, estava destrancada, e entrei. Vazio. Até mesmo as minhas roupas e bagagens não estavam mais lá. Subi para a suíte de Grantham.
Djudakovich, Romaine, Einarson e metade da força policial estavam lá.
O Coronel Einarson estava sentado muito ereto numa poltrona no meio do quarto. Os cabelos e o bigode escuros pareciam arrepiados. Estava com o queixo para fora, com todos os músculos de rosto avermelhado muito tensos. Tinha os olhos faiscantes – estava num de seus melhores humores de briga. Era o resultado de lhe dar uma platéia.
Fiz uma careta para Djudakovich, que estava de pé com as pernas de gigante abertas, de costas para uma janela. Por que o idiota gordo não tinha atinado isolar Einarson num canto solitário, onde poderia ser dominado?
Romaine deu a volta flutuando e passou pelos policiais que ocupavam todo o ambiente, em pé e sentados, e foi até onde eu estava, perto da porta.
– Você tomou todas as providências? – perguntou.
– Estou com a abdicação no bolso.
– Entregue-a para mim.
– Ainda não – eu disse. – Primeiro preciso saber se o seu Vasilije é tão grande como aparenta. Einarson não me parece silenciado. O seu gorducho deveria saber que ele iria desabrochar diante de uma platéia.
– Não há como dizer o que Vasilije está planejando – disse ela superficialmente –, exceto que será adequado.
Eu não estava tão seguro disso como ela. Djudakovich murmurou uma pergunta para ela, e ela lhe deu uma resposta rápida. Ele murmurou mais alguma coisa – para os policiais. Eles começaram a se afastar de nós, sozinhos, em pares, em grupos. Quando o último policial havia saído, o gordo disse alguma coisa para Einarson através do bigode amarelado. Einarson levantou-se, com o peito para fora, os ombros para trás, sorrindo confiante por baixo do bigode escuro.
– O que foi agora? – perguntei à garota.
– Venha junto e você verá – ela disse.
Nós quatro descemos e saímos pela porta da frente do hotel. A chuva havia parado. Na praça, estava reunida a maior parte da população de Stefania, principalmente diante do Prédio da Administração e da Residência Executiva. Acima de suas cabeças, podia-se ver os chapéus de pele de carneiro do regimento de Einarson, ainda em volta dos edifícios onde ele os havia deixado.
Nós – ou pelo menos Einarson – fomos reconhecidos e saudados enquanto atravessávamos a praça. Einarson e Djudakovich foram lado a lado em frente, o soldado marchando, o gigante gordo andando com seus passos dez-para-as-duas. Romaine e eu fomos logo atrás dos dois. Seguimos diretamente para o Prédio da Administração.
– O que ele tem em mente? – perguntei, irritado.
Ela bateu de leve no meu braço, sorriu excitada e disse:
– Espere, e verá.
Não parecia haver mais nada a fazer – além de me preocupar.
Chegamos ao pé da escadaria de pedra do Prédio da Administração. As baionetas apresentaram um desconfortável brilho frio à luz do anoitecer quando as tropas de Einarson apresentaram as armas. Subimos os degraus. No último degrau, Einarson e Djudakovich se viraram de frente para os soldados e os cidadãos abaixo. A garota e eu demos a volta e ficamos atrás da dupla. Embora seus dentes estivessem rangendo e seus dedos fincados em meu braço, seus olhos e lábios sorriam impulsivamente.
Os soldados que se encontravam ao redor da Residência Executiva vieram se unir aos que já estavam diante de nós, empurrando os cidadãos para conseguirem espaço. Mais um destacamento surgiu. Einarson ergueu a mão, berrou uma dúzia de palavras, rosnou para Djudakovich e deu um passo para trás.
Djudakovich falou. Um rugido natural e sonolento que podia ser ouvido até o hotel. Enquanto falava, tirou um papel do bolso e segurou-o diante de si. Não havia nada de teatral no tom de sua voz ou em seus gestos. Ele poderia estar falando sobre qualquer coisa sem muita importância. Mas... quem olhava para a platéia sabia que era importante.
Os soldados haviam saído de forma para se aproximarem. Seus rostos iam ficando vermelhos, um fuzil de baioneta era sacudido no alto aqui e ali. Atrás deles, os cidadãos se entreolhavam com expressões assustadas, empurrando-se, alguns tentando chegar mais perto, alguns tentando se afastar.
Djudakovich continuou falando. O tumulto aumentou. Um soldado abriu caminho entre os companheiros e começou a subir a escada, seguido de perto por outros.
Einarson interrompeu o discurso do gordo, indo até a beirada do último degrau, berrando para os rostos voltados para cima, com a voz de um homem acostumado a ser obedecido.
Os soldados na escada recuaram. Einarson berrou novamente. As fileiras se rearranjaram, e armas erguidas foram baixadas. Einarson ficou em silêncio por um instante, olhando furioso para suas tropas, e então deu início a um discurso. Eu não entendia o que ele dizia, tanto quanto não compreendera o que dissera o gordo, mas não havia como questionar a força da impressão que causava. E não havia dúvidas de que a raiva estava abandonando as expressões de quem estava abaixo dele.
Olhei para Romaine. Ela tremia e não estava mais sorrindo. Olhei para Djudakovich. Ele estava imóvel e tão impassível como a montanha que parecia ser.
Queria saber do que tudo aquilo se tratava para saber se era melhor atirar em Einarson e me esconder no edifício aparentemente vazio atrás de nós ou não. Podia adivinhar que o papel na mão de Djudakovich era algum tipo de prova contra o coronel, uma prova que teria enfurecido os soldados a ponto de atacá-lo se não estivessem tão acostumados a obedecê-lo.
Enquanto eu desejava e adivinhava, Einarson encerrou seu discurso, deu um passo para o lado, apontou um dedo para Djudakovich e berrou uma ordem.
Abaixo, os rostos dos soldados estavam indecisos e inquietos, mas quatro deles saíram rapidamente à ordem de seu coronel e subiram a escada. “Então”, pensei, “meu candidato gordo perdeu! Bom, ele pode ficar com seu pelotão de fuzilamento. Eu fico com a porta dos fundos.” Fazia um bom tempo que a minha mão estava segurando a arma no bolso do meu casaco. Mantive-a lá enquanto dava um grande passo para trás, levando a garota comigo.
– Mexa-se quando eu disser – sussurrei.
– Espere! – ela arquejou. – Olhe!
O gigante gordo, com os olhos mais sonolentos do que nunca, estendeu uma pata enorme e agarrou o pulso da mão com que Einarson apontava para ele. Puxou Einarson para baixo. Soltou o pulso e agarrou o ombro do coronel. Ergueu-o do chão com a mão que lhe segurava o ombro. Sacudiu-o para os soldados abaixo. Sacudiu Einarson para eles com uma mão. Sacudiu o pedaço de papel – o que quer que fosse – para eles com a outra. E sou capaz de apostar que um braço não estava fazendo mais esforço do que o outro.
Enquanto os sacudia – o homem e o papel –, ele rugiu sonolento. E quando parou de rugir, ele atirou os dois punhados sobre as tropas de olhos arregalados. Atirou-os com um gesto que dizia: “Aqui está o homem, e aqui está a prova contra ele. Façam o que quiserem.”
E os soldados que haviam retomado a formação das fileiras ao comando de Einarson quando ele estava altivo e dominador acima deles fizeram o que seria de se esperar quando ele foi atirado em sua direção.
Partiram-no em pedaços – literalmente – pedaço por pedaço. Soltaram as armas e brigaram para chegar até ele. Os que estavam mais longe subiram nos mais próximos, sufocando-os, atropelando-os. Eles ondeavam para frente e para trás nos degraus, uma matilha insana de homens transformados em lobos, lutando com selvageria para destruir um homem que devia estar morto menos de meio minuto depois de ter caído no chão.
Tirei a mão da garota do meu braço e fui confrontar Djudakovich.
– A Morávia é sua – eu disse. – Não quero nada além da nossa ordem de saque e do nosso trem. Aqui está a abdicação.
Romaine traduziu rapidamente as minhas palavras e, em seguida, as de Djudakovich:
– O trem está pronto. A ordem de saque será entregue lá. Você deseja buscar Grantham?
– Não. Mandem-no para lá. Como encontrarei o trem?
– Eu posso levar você – disse ela. – Atravessaremos o prédio e sairemos por uma porta lateral.
Um dos detetives de Djudakovich estava sentado na direção de um carro em frente ao hotel. Romaine e eu embarcamos. Do outro lado da praça, o tumulto ainda fervia. Nenhum de nós disse qualquer coisa enquanto o carro nos conduzia velozmente pelas ruas que eram tomadas pela escuridão da noite.
Nesse momento, ela perguntou bem baixinho:
– E agora você me despreza?
– Não – aproximei-me dela. – Mas eu detesto multidões, linchamentos... fico transtornado. Não interessa o quão ruim seja o homem, se há uma multidão contra ele, estou do ao lado dele. A única coisa que peço a Deus é por uma chance de algum dia estar atrás de uma metralhadora com um grupo de linchadores diante de mim. Eu não tinha nenhuma utilidade para Einarson, mas não teria lhe dado aquilo! Bem, o que está feito está feito. O que era aquele documento?
– Uma carta de Mahmoud. Ele a deixara para um amigo entregar a Vasilije se alguma coisa viesse a lhe acontecer. Aparentemente, ele conhecia Einarson e preparou sua vingança. A carta confessava a sua participação, de Mahmoud, no assassinato do general Radnjak e dizia que Einarson também estava envolvido. O exército idolatrava Radnjak, e Einarson queria o exército.
– O seu Vasilije poderia ter usado isso para afugentar Einarson, sem atirá-lo aos lobos – reclamei.
– Vasilije estava certo. Por pior que tenha sido, aquela era a forma de lidar com a questão. Está encerrada, resolvida para sempre, com Vasilije no poder. Einarson vivo e um exército sem saber que ele havia matado seu ídolo... seria muito arriscado. Até o fim, Einarson pensou que tinha poder suficiente para controlar as tropas, independentemente do que elas soubessem. Ele...
– Tudo bem... está feito. E estou feliz de ter terminado com esse negócio de rei. Me dê um beijo.
Ela me beijou e sussurrou:
– Quando Vasilije morrer... e ele não deve viver muito, do jeito que come... irei a São Francisco.
– Você é uma safada de sangue frio – disse eu.
Lionel Grantham, ex-rei da Morávia, estava apenas cinco minutos antes de nós para pegar o trem. Não estava sozinho. Valeska Radnjak, tão parecida com a rainha de alguma coisa como se realmente o tivesse sido, estava com ele. Ela não parecia estar muito abalada pela perda do trono.
O garoto foi suficientemente agradável e educado comigo durante a nossa viagem sacolejante até Salônica, mas evidentemente não parecia muito confortável na minha companhia. Sua futura noiva não tomava conhecimento da existência de ninguém além do garoto, a menos que calhasse de encontrar alguém diretamente diante dela. Assim, não esperei pelo casamento dos dois, mas fui embora de Salônica num barco que zarpou poucas horas depois da nossa chegada.
Deixei a ordem de saque com eles, é claro. Eles resolveram pegar os três milhões de Lionel e devolver o quarto milhão à Morávia. Enquanto isso, voltei a São Francisco para discutir com meu chefe por causa de itens de cinco e dez dólares da minha prestação de contas os quais ele considerara supérfluos.
4 Sente-se, por favor. (N.E.)
5 Europa central. (N.E.)
O caso Gatewood
Harvey Gatewood havia ordenado que minha entrada fosse liberada assim que eu chegasse, de modo que levei um pouco menos de quinze minutos para passar pelos porteiros, os office-boys e as secretárias que preenchiam a maior parte do espaço entre a porta da frente da Companhia Madeireira Gatewood e o escritório particular do presidente. Sua sala era grande, toda em mogno, bronze e estofados verdes, com uma mesa de mogno grande como uma cama no centro do ambiente.
Inclinado sobre a mesa, Gatewood começou a gritar comigo assim que o obsequioso atendente que me havia feito entrar com uma reverência saísse com uma reverência.
– Minha filha foi seqüestrada ontem à noite! Quero pegar o bando que fez isso, nem que me custe cada centavo que tenho!
– Fale mais sobre o que houve – sugeri.
Mas, aparentemente, ele queria resultados, não perguntas. Então, perdi quase uma hora para obter informações que ele poderia ter me dado em quinze minutos.
Ele era um homenzarrão forte, algo em torno de cem quilos de músculos. Um verdadeiro czar do topo de sua cabeça redonda até a ponta dos sapatos, que deviam ser pelo menos número 48, se não tivessem sido feitos sob medida.
Havia feito seus muitos milhões esmagando todos os que se atravessaram em seu caminho. A raiva que o fazia ferver naquele momento não tornava mais fácil lidar com ele.
Seu maxilar quadrado projetava-se para frente como um pedaço de granito, e seus olhos estavam injetados de sangue – encontrava-se numa encantadora disposição de espírito. Por um tempo, parecia que a Agência de Detetives Continental ia perder um cliente, porque decidi que se ele não me dissesse tudo o que eu queria saber, não aceitaria o trabalho.
Mas acabei conseguindo tirar a história dele, afinal.
Sua filha Audrey havia saído de casa, na Clay Street, mais ou menos às sete horas da noite anterior, dizendo à empregada que ia dar uma caminhada. Ela não voltou naquela noite – embora Gatewood só tenha ficado sabendo disso depois de ler a carta que chegou pela manhã.
A carta era de alguém que dizia que ela havia sido seqüestrada. Exigia 50 mil dólares para sua libertação e instruía Gatewood a aprontar o dinheiro em notas de cem dólares – para que não houvesse demora depois que ele recebesse instruções sobre como pagar os seqüestradores da filha. Como prova de que aquilo não era um trote, foram incluídos um cacho dos cabelos da garota, um anel que ela sempre usava e um bilhete escrito por ela, pedindo para que o pai atendesse as exigências.
Gatewood havia recebido a carta em seu escritório e telefonado para casa imediatamente. Disseram-lhe que a cama da garota estava intacta desde a noite e que nenhum dos criados a vira desde que ela saíra para dar a caminhada. Ele então avisara a polícia, entregando-lhes a carta. Alguns minutos depois, decidira acionar detetives particulares também.
– Agora – explodiu, depois que eu tinha conseguido arrancar essas coisas dele e ele havia me informado que não sabia nada sobre relacionamentos ou hábitos da filha – vá em frente e faça alguma coisa! Não estou lhe pagando para ficar sentado conversando sobre o assunto!
– O que o senhor vai fazer? – perguntei.
– Eu? Vou botar esses... atrás das grades nem que me custe cada centavo que tenho nesta vida.
– Claro! Mas, antes, apronte os 50 mil dólares, para que o senhor possa entregar quando lhe forem exigidos.
Ele cerrou as mandíbulas e aproximou o rosto do meu.
– Eu nunca fui forçado a fazer nada na vida! E estou muito velho para começar agora! – disse ele. – Vou pagar para ver o blefe dessa gente!
– Isso será ótimo para a sua filha. Mas, além do que vai provocar nela, é a jogada errada. Cinqüenta mil não são muito para o senhor, e pagá-los nos dará duas chances que não temos agora. Uma quando o pagamento for feito: uma chance de pegar quem quer que venha buscá-lo, ou pelo menos conseguir uma pista em relação a eles. E a outra quando a sua filha for devolvida. Por mais cuidadosos que eles sejam, é certo que ela conseguirá nos dizer alguma coisa que nos ajudará a apanhá-los.
Ele sacudiu a cabeça com raiva, e eu estava cansado de discutir. Assim, fui embora, esperando que ele enxergasse a sabedoria do plano que eu havia proposto antes que fosse tarde demais.
Na residência de Gatewood, encontrei mordomos, copeiros, motoristas, cozinheiras, arrumadeiras, criadas e mais uma porção de diferentes tipos de lacaios – ele tinha empregados suficientes para administrar um hotel.
O que eles me disseram se resumia ao seguinte: a garota não havia recebido nenhum telefonema, bilhete ou telegrama – os recursos consagrados para atrair uma vítima para um assassinato ou um seqüestro – antes de sair de casa. Havia dito à empregada que voltaria em uma ou duas horas. Mas a empregada não havia se preocupado quando a jovem não voltou naquela noite.
Audrey era filha única e, desde a morte da mãe, ela ia e vinha conforme desejava. Ela e o pai não se davam muito bem – tinham gênios muito parecidos, imaginei –, e ele nunca sabia onde ela estava. Não havia nada de atípico no fato de ela passar a noite fora. Ela raramente se preocupava em avisar que ia passar a noite na casa de amigas.
Estava com dezenove anos de idade, mas parecia muitos anos mais velha, tinha mais ou menos um metro e 65 de altura e era esguia. Tinha olhos azuis, cabelos castanhos – muito fartos e longos –, era pálida e muito nervosa. Suas fotografias, das quais peguei um punhado, mostravam que tinha olhos grandes, nariz pequeno e o queixo pontudo.
Não era linda, mas na única fotografia em que um sorriso havia apagado o mau humor de sua boca, estava pelo menos bonita.
Quando saiu de casa estava vestindo uma saia leve de tweed e um casaco com a etiqueta de um alfaiate de Londres, uma blusa amarela com listras um tom mais escuro, meias de lã marrons, sapatos de salto baixo marrons e um chapéu de feltro cinza simples.
Subi até os quartos dela – eram três, no terceiro andar – e vasculhei todas as suas coisas. Encontrei uma enorme quantidade de fotografias de homens, meninos e meninas e uma grande pilha de cartas de variados graus de intimidade assinadas com uma ampla variedade de nomes e apelidos. Anotei todos os endereços que encontrei.
Nada em seus quartos parecia ter qualquer relação com o seu rapto, mas havia uma chance de um dos nomes e endereços ser de alguém que tivesse servido como isca. Além disso, algum de seus amigos poderia nos dizer algo de valor.
Passei na Agência e distribuí os nomes e endereços entre os três detetives que estavam disponíveis e mandei-os ver o que podiam desencavar.
Então falei com os investigadores da polícia que estavam trabalhando no caso – O’Gar e Thode – por telefone e fui até a central de polícia para me encontrar com eles. Lusk, um inspetor dos correios, também estava lá. Demos várias voltas no caso, olhando de todos os ângulos, mas sem ir muito longe. Todos concordávamos, porém, que não podíamos correr riscos com qualquer publicidade nem trabalhar abertamente até a garota estar a salvo.
Eles haviam tido mais problemas com Gatewood do que eu – ele queria botar tudo nos jornais, com oferta de recompensa, fotografias e tudo o mais. Claro que Gatewood tinha razão ao argumentar que essa era a forma mais eficiente de apanhar os seqüestradores – mas teria sido difícil para a sua filha, se os seqüestradores fossem pessoas de caráter suficientemente insensível. E, via de regra, seqüestradores não são carneirinhos.
Olhei para a carta que haviam enviado. Havia sido escrita a lápis em papel pautado do tipo que é vendido em blocos em qualquer papelaria do mundo. O envelope era igualmente comum, também preenchido a lápis e com o carimbo dos correios de São Francisco, 20 de Setembro, 21h. A noite em que ela havia sido capturada.
A carta dizia:
Senhor:
Estamos com a sua encantadora filha e lhe atribuímos o valor de US$ 50 mil. O senhor deve aprontar o dinheiro em notas de US$ 100 imediatamente, para que não haja atraso quando lhe dissermos como ele deve nos ser entregue.
Podemos assegurar-lhe que as coisas irão mal com a sua filha se o senhor não fizer como mandarmos ou envolver a polícia ou fizer qualquer coisa idiota.
US$ 50 mil é apenas uma pequena fração do que o senhor roubou enquanto estávamos vivendo no meio da lama e do sangue pelo senhor, e pretendemos obter essa quantia, senão...
Três.
Um bilhete peculiar sob diversos aspectos. Eles normalmente são escritos com uma grande imitação de semi-analfabetismo. Quase sempre há uma tentativa de desviar as suspeitas. Talvez aquela coisa de ex-serviço estivesse ali por esse motivo – ou talvez não.
Então havia um pós-escrito:
Conhecemos alguém que a comprará mesmo depois de termos acabado com ela – caso o senhor não ouça a razão.
A carta da garota foi escrita com letra trêmula no mesmo tipo de papel, aparentemente com o mesmo lápis.
Papai:
Por favor, faça o que eles estão pedindo! Estou com muito medo...
Audrey
Uma porta do outro lado da sala se abriu, e uma cabeça apareceu.
– O’Gar! Thode! Gatewood acabou de ligar. Vão para o escritório dele imediatamente!
Nós quatro saímos da central de polícia e entramos num carro da polícia.
Gatewood estava andando de um lado para o outro em sua sala como um maníaco quando empurramos um número suficiente de empregados para chegar até ele. Seu rosto estava vermelho, e os olhos tinham um brilho insano.
– Ela acabou de me ligar! – gritou ele, quando nos viu.
Levou um ou dois minutos até que ele se acalmasse o bastante para nos contar sobre o telefonema.
– Ela me ligou. Disse “Ah, Papai! Faça alguma coisa! Não agüento mais... eles vão me matar!” Perguntei se ela sabia onde estava, e ela disse: “Não, mas posso ver os Twin Peaks daqui. São três homens e uma mulher, e...” Então ouvi um homem xingar, um barulho como se ele tivesse batido nela, e o telefone ficou mudo. Tentei conseguir o número com a central telefônica, mas ela não conseguiu! É um ultraje a forma como o sistema de telefonia é administrado. Deus sabe o quanto pagamos pelo serviço, e...
O’Gar coçou a cabeça e se virou de costas para Gatewood.
– Com vista para os Twin Peaks! Há centenas de casas com vista para eles!
Enquanto isso, Gatewood tinha terminado sua denúncia contra a companhia telefônica e estava batendo na mesa com um peso de papel para chamar a nossa atenção.
– Vocês fizeram alguma coisa, pelo menos? – perguntou.
Respondi com outra pergunta:
– O senhor já aprontou o dinheiro?
– Não – disse ele. – Não serei assaltado por ninguém!
Mas ele disse isso mecanicamente, sem a convicção habitual – a conversa com a filha havia feito com que abandonasse parte de sua teimosia. Agora estava pensando um pouco na segurança dela em vez de apenas em seu espírito combativo.
Partimos para cima dele com todos os argumentos por alguns minutos. Depois de um tempo, ele mandou um funcionário buscar o dinheiro.
Então dividimos as tarefas. Thode levaria alguns homens da central para ver o que conseguia descobrir perto dos Twin Peaks. Mas não estávamos muito otimistas quanto às possibilidades lá – era uma área grande demais.
Lusk e O’Gar deveriam marcar cuidadosamente as notas que o funcionário trouxe do banco e ficar o mais perto possível de Gatewood sem chamar atenção. Eu iria para a casa de Gatewood e ficaria lá.
Os seqüestradores haviam simplesmente instruído Gatewood a aprontar o dinheiro imediatamente para que pudessem recebê-lo em curto prazo – sem lhe dar tempo de se comunicar com ninguém nem fazer planos.
Gatewood deveria entrar em contato com os jornais, contando-lhes toda a história, com a recompensa de 10 mil dólares que estava oferecendo pela captura dos seqüestradores, para ser publicada assim que a garota estivesse a salvo – para que tivéssemos a ajuda da publicidade o quanto antes, sem prejudicar a garota.
A polícia de todas as cidades vizinhas já havia sido avisada do caso – isso havia sido feito antes que o telefonema da garota nos certificasse de que ela estava sendo mantida em São Francisco.
Não aconteceu nada na residência de Gatewood durante toda aquela noite. Harvey Gatewood chegou em casa cedo e, depois do jantar, ficou andando de um lado para o outro na biblioteca e tomando uísque até a hora de dormir, exigindo a cada poucos minutos que nós, os detetives encarregados do caso, fizéssemos alguma coisa além de ficarmos sentados como um bando de malditas múmias. O’Gar, Lusk e Thode estavam na rua, de olho na casa e na vizinhança.
À meia-noite, Harvey Gatewood foi para a cama. Em vez de uma cama, preferi o sofá da biblioteca, que arrastei até o lado do telefone, uma extensão do que ficava no quarto de Gatewood.
Às duas e meia, o telefone tocou. Fiquei escutando enquanto Gatewood falava da cama.
Uma voz de homem, áspera e seca:
– Gatewood?
– Sim.
– Está com a grana?
– Sim.
A voz de Gatewood estava grave e pastosa – pude imaginar tudo o que estava ocorrendo dentro dele.
– Ótimo! – disse a voz enérgica. – Enrole num pedaço de papel e saia de casa com ela imediatamente! Siga pela Clay Street, pelo lado da sua casa. Não caminhe muito rápido, e siga em frente. Se tudo estiver certo, e não houver ninguém seguindo você, alguém aparecerá entre a sua casa e a beira-mar. Levantará um lenço no rosto por um instante e o deixará cair no chão.
“Quando vir isso, deixe o dinheiro no chão, vire-se e volte caminhando para casa. Se o dinheiro não estiver marcado e você não tentar nenhuma gracinha, terá a sua filha de volta em uma ou duas horas. Se tentar fazer alguma coisa... lembre-se do que escrevemos! Entendeu tudo?
Gatewood balbuciou alguma coisa que era para ser uma afirmativa, e o telefone silenciou.
Não perdi nada do meu precioso tempo tentando rastrear a ligação – sabia que devia ter sido feita de um telefone público –, mas gritei para Gatewood, no andar de cima:
– Faça o que eles mandaram, e não tente nenhuma besteira!
Então saí de madrugada atrás dos detetives policiais e do inspetor dos correios.
Eles estavam com dois homens à paisana e tinham dois automóveis à espera. Contei-lhes qual era a situação, e fizemos planos apressados.
O’Gar deveria levar um dos carros até a Sacramento Street, e Thode, no outro carro, deveria ir até a Washington Street. As duas eram paralelas à Clay, uma de cada lado. Deveriam dirigir devagar, acompanhando Gatewood e parando a cada cruzamento para ver se ele havia passado.
Quando ele não passasse depois de um certo tempo, eles deveriam voltar para a Clay Street – e suas ações dali por diante teriam de ser guiadas pela sorte e por suas próprias idéias.
Lusk deveria andar por uma ou duas quadras à frente de Gatewood pelo outro lado da rua, fingindo estar levemente embriagado.
Eu iria seguir Gatewood pela rua, com um dos homens à paisana atrás de mim. O outro homem à paisana iria pedir que a central mandasse todos os homens disponíveis até a City Street. Eles chegariam tarde demais, é claro, e provavelmente levariam algum tempo para nos encontrarem. Mas não tínhamos como saber o que ia acontecer antes de a noite estar terminada.
Nosso plano era bastante superficial, mas foi o melhor que conseguimos fazer – estávamos com medo de apanhar quem quer que pegasse o dinheiro de Gatewood. A conversa da garota com o pai naquela tarde tinha dado muito a impressão de que seus seqüestradores estavam desesperados para que corrêssemos quaisquer riscos indo atrás deles abertamente até ela estar fora das suas mãos.
Mal havíamos terminado nosso planejamento quando Gatewood, vestindo um sobretudo, saiu de casa e começou a descer a rua.
Mais abaixo, Lusk. Andando em ziguezague, falando sozinho, estava quase invisível na escuridão. Não havia mais ninguém à vista. Isso significava que eu precisava dar pelo menos duas quadras de vantagem a Gatewood para que o homem que fosse pegar o dinheiro não me notasse. Um dos homens à paisana estava meia quadra atrás de mim, do outro lado da rua.
Descemos duas quadras, e então apareceu um homem atarracado de cartola. Passou por Gatewood, por mim e seguiu.
Mais três quadras.
Um carro conversível grande, preto, com motor potente e cortinas fechadas veio de trás, passou por nós e seguiu. Era possivelmente um batedor. Rabisquei o número da placa no meu bloco sem tirar a mão do bolso do sobretudo.
Outras três quadras.
Um policial passou, fazendo a ronda sem saber do jogo que estava ocorrendo debaixo do seu nariz. E então veio um táxi com um único passageiro. Anotei a placa.
Quatro quadras sem ninguém à vista além de Gatewood – não conseguia mais ver Lusk.
Logo à frente de Gatewood, um homem saiu de uma porta escura, virou-se para cima e gritou para alguém descer e abrir a porta para ele.
Seguimos em frente.
Surgida do nada, uma mulher estava de pé na calçada quinze metros à frente de Gatewood com um lenço no rosto. O lenço flutuou até o chão.
Gatewood parou, tenso. Pude vê-lo levantando a mão direita e levantando o lado do sobretudo em cujo bolso estivera enfiada – e compreendi que sua mão segurava uma pistola.
Por mais ou menos meio minuto, ele ficou parado como uma estátua. Então tirou a mão esquerda do bolso, e o pacote de dinheiro caiu na calçada diante dele, formando uma mancha clara na escuridão. Gatewood virou-se abruptamente e começou a refazer o caminho para casa.
A mulher recolheu o lenço e correu até o pacote. Apanhou-o e fugiu até a entrada escura de um beco a alguns metros de distância. Era uma mulher bastante alta, encurvada, vestindo roupas escuras da cabeça aos pés.
Na boca escura do beco, desapareceu.
Eu havia sido obrigado a diminuir a velocidade quando Gatewood e a mulher estavam frente a frente, de modo que estava a mais de uma quadra de distância. Assim que a mulher desapareceu, arrisquei-me e comecei a bater as solas de borracha no chão.
O beco estava vazio quando cheguei lá.
Ia até a próxima rua, mas eu sabia que a mulher não teria alcançado a outra ponta antes de eu ter chegado ali. Ando muito pesado, mas ainda posso percorrer uma ou duas quadras num tempo razoável. Ao longo de ambos os lados do beco havia os fundos de edifícios de apartamento, cada um com as portas de serviço me olhando secreta e impassivelmente.
O homem à paisana que vinha atrás de mim apareceu, seguido por O’Gar e Thode em seus carros. Logo foi a vez de Lusk. O’Gar e Thode saíram imediatamente para percorrer as ruas da vizinhança atrás da mulher. Lusk e os homens à paisana se plantaram cada um numa esquina da qual duas das ruas em torno da quadra podia ser observadas.
Atravessei o beco, procurando em vão por uma porta destrancada, uma janela aberta, uma saída de incêndio que tivesse sido usada recentemente – qualquer sinal que uma saída apressada de um beco pode deixar.
Nada!
O’Gar voltou em seguida com reforços da central que havia apanhado e Gatewood.
Gatewood estava fervendo.
– Estragaram a maldita coisa de novo! Não vou pagar um centavo à sua agência e farei com que alguns desses supostos detetives voltem a vestir uniformes e a fazer rondas nas ruas!
– Como era a mulher? – perguntei a ele.
– Eu não sei! Achei que você estivesse por perto para cuidar dela! Era velha e encurvada, mais ou menos, acho, mas não consegui ver seu rosto por causa do véu. Não sei! Que diabos vocês estavam fazendo? É um maldito ultraje a forma...
Finalmente consegui acalmá-lo e levá-lo para casa, deixando os policiais responsáveis por manter a vizinhança sob vigilância. A essa altura, havia quatorze ou quinze homens envolvidos no caso, e em cada sombra havia pelo menos um.
A garota iria para casa assim que fosse libertada, e eu queria estar lá para interrogá-la. Havia uma ótima chance de pegarmos os seqüestradores antes de irem muito longe se ela pudesse nos dizer alguma coisa sobre eles.
Em casa, Gatewood buscou a garrafa de uísque novamente enquanto eu mantinha um ouvido atento ao telefone e o outro à porta da frente. O’Gar e Thode ligavam a cada meia hora mais ou menos para perguntar se tínhamos recebido notícias da garota.
Ainda não haviam descoberto nada.
Às nove horas, chegaram à casa com Lusk. A mulher de preto era um homem e havia fugido.
Nos fundos de um dos edifícios residenciais que terminavam no beco – a menos de trinta centímetros da porta –, encontraram uma saia, um casaco feminino comprido, um chapéu e um véu, tudo preto. Ao investigarem os ocupantes da casa, ficaram sabendo que um apartamento havia sido alugado para um rapaz chamado Leighton três dias antes.
Leighton não estava em casa quando chegaram ao apartamento. O lugar tinha um monte de pontas de cigarro, uma garrafa vazia e nem um item além do que já estava no apartamento quando foi alugado.
A dedução era clara: ele havia alugado o apartamento para poder ter acesso ao prédio. Vestindo roupas femininas sobre as próprias roupas, tinha saído pela porta dos fundos – deixando-a destrancada atrás dele – para se encontrar com Gatewood. Então havia corrido de volta ao edifício, dispensado o disfarce e se apressado pelo edifício, saindo pela porta da frente e dando no pé antes que tivéssemos montado a nossa frágil rede ao redor do quarteirão – talvez escondendo-se em portas escuras aqui e ali para evitar O’Gar e Thode em seus carros.
Aparentemente, Leighton era um homem de mais ou menos trinta anos, esguio, com altura entre um metro e setenta e um e 75, cabelos e olhos escuros, bem apessoado e bem vestido nas duas ocasiões em que os moradores do prédio o haviam visto, com um terno marrom e um chapéu de feltro marrom claro.
Tanto segundo o investigador quanto conforme o inspetor dos correios, não havia possibilidade de a garota ter sido mantida, mesmo que temporariamente, no apartamento de Leighton.
Deram dez horas, e nada da garota.
A essa altura, Gatewood havia perdido sua teimosia dominadora e estava desmoronando. O suspense o estava atingindo, e a bebida que havia consumido não estava ajudando. Não gostava dele nem pessoalmente nem por reputação, mas, naquela manhã, tive pena do homem.
Falei com a Agência pelo telefone e peguei os relatórios dos detetives que estavam conferindo os amigos de Audrey. A última pessoa a vê-la tinha sido Agnes Dangerfield, que a vira caminhando pela Market Street, perto da Sixth, sozinha, na noite do seu seqüestro – em algum momento entre as 20h15 e as 20h45. Audrey tinha passado longe demais da garota Dangerfield para falar com ela.
Quanto ao resto, os rapazes não haviam descoberto nada além do fato de que Audrey era uma jovem selvagem e mimada que não havia demonstrado muito cuidado na escolha dos amigos – exatamente o tipo de garota que poderia cair facilmente nas mãos de um bando de seqüestradores.
Deu meio-dia. Nenhum sinal da garota. Liberamos os jornais para publicarem a história, com os desenvolvimentos extras das últimas horas.
Gatewood estava arrasado. Ficava sentado com a cabeça nas mãos, olhando para o nada. Pouco antes de eu sair para seguir um palpite meu, ele olhou para mim, e eu jamais o teria reconhecido se não tivesse visto a mudança ocorrer.
– Por que você acha que ela ainda não voltou? – perguntou.
Não tive coragem de dizer o que tinha todos os motivos para suspeitar, depois de o dinheiro ter sido entregue e ela não ter aparecido. Então enrolei com algumas certezas vagas e saí.
Peguei um táxi e saltei no distrito comercial. Visitei as cinco maiores lojas de departamento, passando por todos os departamentos de roupas femininas, dos sapatos aos chapéus, tentando descobrir se um homem – talvez um que correspondesse à descrição de Leighton – havia comprado nos últimos dias roupas que servissem em Audrey Gatewood.
Sem conseguir nenhum resultado, deixei o restante das lojas locais para um dos rapazes da Agência e atravessei a baía para averiguar as lojas de Oakland.
Na primeira delas já consegui alguma coisa. Um homem que poderia facilmente ser Leighton havia estado lá no dia anterior, comprando roupas do tamanho de Audrey. Havia comprado montes de roupas, de lingerie a um casaco, e – a minha sorte estava a pleno vapor – havia pedido para as mercadorias serem entregues a T. Offord, num endereço na Fourteenth Street.
No endereço da Fourteenth Street, um prédio de apartamentos, encontrei os nomes do sr. e da sra. Offord no vestíbulo do apartamento 202.
Tinha acabado de encontrar o número do apartamento quando a porta da frente se abriu e saiu uma mulher gorda de meia idade vestindo um vestido caseiro de algodão. Ela olhou para mim com uma certa curiosidade, de modo que perguntei:
– A senhora sabe onde posso encontrar o zelador?
– Eu sou a zeladora – respondeu ela.
Entreguei-lhe um cartão e entrei no apartamento com ela.
– Sou do departamento de fianças da Companhia de Seguros North American – uma repetição da mentira que estava impressa no cartão que eu havia lhe dado –, e solicitaram uma fiança para o sr. Offord. Ele está bem, até onde a senhora tem conhecimento? – Disse isso com o ar levemente apologético de alguém que está cumprindo uma formalidade necessária mas não muito importante.
– Uma fiança? Que engraçado! Ele está indo embora amanhã.
– Bem, não sei para que é a fiança – disse eu, casualmente. – Nós, investigadores, recebemos apenas o nome e o endereço. Deve ser para seu empregador atual, ou talvez o homem para quem ele vai trabalhar a tenha solicitado. Algumas empresas fazem investigar possíveis funcionários antes de contratá-los, só por segurança.
– Até onde sei, o sr. Offord é um jovem muito bom – disse ela. – Mas ele está aqui há apenas uma semana.
– Não vai ficar por muito tempo, então?
– Não. Eles vieram de Denver com a pretensão de ficar, mas como a baixa altitude não está fazendo bem à sra. Offord, eles irão embora.
– A senhora tem certeza de que eles são de Denver?
– Bem, eles me disseram que são – respondeu ela.
– Quantas pessoas moram no apartamento?
– Só os dois. São jovens.
– Bem, e qual a impressão que a senhora tem deles? – perguntei, tentando passar a impressão de que a considerava uma mulher de capacidade de julgamento perspicaz.
– Os dois parecem um jovem casal muito bom. Mal se percebe que estão no apartamento na maior parte do tempo, de tão quietos que são. Sinto muito que não possam ficar.
– Eles saem muito?
– Eu realmente não sei. Eles têm as próprias chaves. E a menos que eu cruzasse com eles chegando ou saindo, nunca os via.
– Então, na verdade a senhora não saberia dizer se eles passaram alguma noite inteira fora. Saberia?
Ele me olhou com ar de dúvida – eu estava ultrapassando o meu pretexto, mas não acho que tivesse importância – e sacudiu a cabeça.
– Não, não saberia.
– Eles recebem muitas visitas?
– Não sei. O sr. Offord não é...
Ela parou de falar quando um homem entrou em silêncio, passou por mim e começou a subir a escada que levava para o segundo andar.
– Ah, Deus! – sussurrou ela. – Espero que ele não tenha me ouvido falando nele. Aquele é o sr. Offord.
Um homem magro de marrom, com um chapéu marrom claro – Leighton, talvez.
Eu não havia visto nada além de suas costas, e ele, as minhas. Observei-o subindo a escada. Se tivesse ouvido a mulher mencionar o seu nome, aproveitaria a volta no topo da escada para olhar para mim.
Foi o que fez.
Mantive o rosto impassível, mas o reconheci.
Era “Penny” Quayle, um vigarista que estava agindo na Costa Leste quatro ou cinco anos antes.
Seu rosto ficou tão inexpressivo como o meu. Mas ele me conhecia.
Uma porta se fechou no segundo andar. Deixei a mulher e fui até a escada.
– Acho que vou subir para falar com ele – disse a ela.
Aproximando-me silenciosamente do apartamento 202, fiquei escutando. Nenhum barulho. Não era um momento para hesitação. Apertei a campainha.
Tão próximos como o bater de três teclas sob os dedos de um datilógrafo experiente, mas mil vezes mais cruéis, vieram três tiros de pistola. Na altura da cintura da porta do apartamento 202, três buracos de bala.
As três balas estariam na minha carcaça gorda se eu não tivesse aprendido, anos antes, a ficar ao lado de portas estranhas ao fazer visitas inesperadas.
De dentro do apartamento veio a voz de um homem, severa, controladora.
– Pare com isso, garota! Pelo amor de Deus, não isso!
A voz de uma mulher, aguda, vingativa, blasfemou aos berros.
Mais duas balas atravessaram a porta.
– Pare! Não! Não! – a voz do homem agora tinha um tom de medo.
A voz da mulher seguia xingando intensamente. Ouvi barulho de briga. Um tiro que não atingiu a porta.
Soltei o pé na porta, perto da maçaneta, e a fechadura quebrou.
No chão da sala, um homem – Quayle – e uma mulher estavam lutando. Ele estava dobrado por cima dela, segurando seus pulsos, tentando mantê-la no chão. Ela tinha uma pistola fumegante na mão. Peguei-a num salto e tirei-lhe a arma.
– Já chega! – gritei, já de pé. – Levantem-se e recebam a visita.
Quayle soltou os pulsos da antagonista, que no instante seguinte atingiu seus olhos com dedos de unhas afiadas, rasgando-lhe a bochecha. Ele se afastou dela de quatro, e os dois se levantaram.
Ele se sentou imediatamente numa cadeira, ofegante, limpando o sangue da bochecha com um lenço.
Ela se levantou, as mãos na cintura, e ficou no meio da sala, olhando para mim com raiva.
– Imagino que você esteja se considerando o máximo! – disse ela, furiosa.
Dei uma risada. Minha posição me permitia fazer isso.
– Se o seu pai estiver em seu juízo perfeito – disse a ela –, lhe dará uma surra quando você estiver em casa novamente. Uma bela peça essa que você escolheu pregar nele!
– Se você estivesse amarrado a ele o tempo que eu estou e tivesse suportado as intimidações e a dominação tanto quanto eu, acho que você faria qualquer coisa para conseguir dinheiro o suficiente para ir embora e viver sua própria vida.
Não respondi nada. Ao lembrar de alguns dos métodos de negócios que Harvey Gatewood havia usado – principalmente alguns de seus contratos de guerra que o Departamento de Justiça ainda estava investigando –, imaginei que o pior que se podia dizer a respeito de Audrey era que era filha do pai dela.
– Como você descobriu tudo? – perguntou Quayle, educadamente.
– De várias maneiras – eu disse. – Primeiro, uma das amigas de Audrey disse que a viu na Market Street entre as 20h15 e as 20h45 da noite em que ela desapareceu, e a sua carta para Gatewood estava com carimbo das nove da noite. Um trabalho muito rápido. Vocês deveriam ter esperando um pouco antes de postá-la. Imagino que ela a tenha deixado no correio no caminho para cá?
Quayle assentiu com a cabeça.
– Segundo – prossegui –, houve aquele telefonema dela. Ela sabia que levaria de dez a quinze minutos até conseguir falar com o pai pela linha no escritório. Se ela tivesse tido acesso a um telefone enquanto estivesse aprisionada, o tempo seria tão valioso que ela teria contado o que estava lhe acontecendo à primeira pessoa com quem tivesse contato – muito provavelmente com a telefonista. Então isso fez parecer que, além de dar aquela informação sobre os Twin Peaks, ela queria forçar o velho a abandonar sua teimosia.
“Quando ela não apareceu depois de o pagamento ter sido feito, achei que era uma aposta certa que ela havia seqüestrado a si mesma. Eu sabia que se ela voltasse para casa depois de fingir isso tudo, descobriríamos depois de ouvi-la por não muito tempo. Imaginei que ela também soubesse disso e fosse ficar afastada.
“O resto foi fácil. Tive alguns bons golpes de sorte. Sabíamos que um homem estava trabalhando com ela depois que encontramos as roupas femininas que você deixou para trás, e arrisquei que não haveria ninguém mais envolvido. Então conclui que ela precisaria de roupas, pois não poderia ter levado nada de casa sem levantar suspeitas, e havia uma boa chance de ela não ter preparado um estoque com antecedência. Ela tem muitas amigas que fazem muitas compras, para correr o risco de aparecer em lojas. Talvez, então, o homem fosse comprar o que ela precisava. Acontece que ele realmente comprou, e que ele foi preguiçoso demais para carregar as mercadorias, ou talvez fosse muita coisa, de modo que ele mandou entregá-las. E esta é a história.”
Quayle assentiu novamente.
– Fui muito descuidado – disse ele. Então, apontando um polegar desdenhoso para a garota, continuou: – Mas o que você poderia esperar? Ela está dopada desde que começamos. Gastei todo meu tempo e atenção evitando que ela se descontrolasse e estragasse a história toda. O que aconteceu há pouco foi uma amostra. Eu disse a ela que você estava subindo, e ela enlouqueceu e tentou acrescentar o seu cadáver às ruínas!
A reunião com Gatewood ocorreu na sala do capitão dos inspetores no segundo andar da prefeitura de Oakland e foi uma alegre festinha.
Até ter se passado uma hora, não sabíamos se Harvey Gatewood morreria de apoplexia, estrangularia a filha ou a mandaria para o reformatório estadual até a maioridade. Mas Audrey o derrotou. Além de ser feita do mesmo material que o pai, ela era jovem o bastante para não se importar com as conseqüências, enquanto que seu pai, apesar de toda sua teimosia, havia sido forçado a adotar certa cautela.
O trunfo que ela usou contra ele foi uma ameaça de contar tudo o que sabia sobre ele aos jornais, e pelo menos um dos jornais de São Francisco estava tentando pegá-lo fazia anos.
Não sei o que ela sabia sobre ele, e não acho que ele próprio tivesse alguma certeza quanto a isso, mas com seus contratos de guerra ainda sendo investigados pelo Departamento de Justiça, ele não podia se dar o luxo de se arriscar. Não havia dúvida alguma de que ela teria cumprido a ameaça.
Assim, juntos, os dois foram para casa, transpirando ódio mútuo por todos os poros.
Levamos Quayle para o andar de cima e o pusemos numa cela, mas ele era experiente demais para se preocupar com isso. Sabia que, se a garota fosse poupada, ele próprio não poderia ser facilmente condenado por nada.
Fiquei feliz que tudo tivesse terminado. Foi um caso difícil.
Mulheres amarelas mortas
Ela estava sentada ereta e tensa numa das cadeiras do Velho quando ele me chamou até a sua sala – uma garota alta de mais ou menos 24 anos, ombros largos, peito volumoso, vestindo roupas masculinas em tons de cinza. O fato de que era oriental aparecia apenas no brilho negro dos cabelos curtos, no amarelo pálido da pele sem maquiagem e no formato de suas pálpebras superiores, meio escondidas pelos aros escuros de seus óculos. Mas seus olhos não eram puxados, seu nariz era quase aquilino, e ela tinha mais queixo do que os mongóis costumam ter. Era uma sino-americana moderna, dos saltos baixos dos sapatos cor de canela ao topo de seu chapéu de feltro simples.
Eu a reconheci antes que o Velho a apresentasse. Fazia uns dois dias que os jornais de São Francisco estavam cheios de histórias relacionadas a ela. Haviam publicado fotografias e gráficos, entrevistas, editoriais e opiniões mais ou menos especializadas de várias fontes. Haviam voltado a 1912 para lembrar a briga teimosa dos chineses locais – principalmente de Fokien e Kwangtung, onde as idéias democráticas e o ódio pelos manchus caminham juntos – para que o pai dela fosse mantido fora dos Estados Unidos, para onde ele havia fugido quando o reinado manchu foi derrubado. Os jornais recordaram a excitação que tomou conta de Chinatown quando Shan Fang recebeu permissão para desembarcar – cartazes ofensivos foram pendurados nas ruas, e uma recepção desagradável foi planejada.
Mas Shan Fang havia enganado os cantoneses. Chinatown nunca o viu. Ele havia levado sua filha e seu ouro – supostamente os lucros acumulados ao longo de uma vida de mau governo de uma província – até o distrito de San Mateo, onde construíra o que descreveram como um palácio à beira do Pacífico. Lá, havia vivido e morrido como um Ta Jen e um milionário.
É o suficiente em relação ao pai. Quanto à filha, essa jovem que me estudava friamente enquanto eu sentava do outro lado da mesa, ela era Ai Ho, uma menininha muito chinesa de dez anos de idade, quando seu pai a trouxe para a Califórnia. Tudo o que tinha agora de oriental eram os traços que já mencionei e o dinheiro que o pai lhe deixou. Seu nome, traduzido para o inglês, havia se tornado Lírio D’Água e, a seguir, Lillian. Foi como Lillian Shan que ela freqüentou uma universidade da Costa Leste, recebeu vários diplomas, venceu algum tipo de campeonato de tênis em 1919 e publicou um livro sobre a natureza e o significado dos fetiches, o que quer que seja tudo isso.
Com a morte do pai, em 1921, ela passou a morar com seus quatro criados chineses na casa à beira-mar, onde escreveu o primeiro livro e estava agora trabalhando em outro. Há duas semanas, disse que havia se descoberto num impasse – chegara a um beco sem saída. Havia, dizia ela, um certo manuscrito cabalístico antigo na Biblioteca Arsenal, em Paris, que ela acreditava ser capaz de resolver seus problemas. Assim, fez as malas e, acompanhada da empregada, uma chinesa chamada Wang Ma, pegara um trem para Nova York, deixando os outros três criados cuidando da casa durante a sua ausência. A decisão de ir à França para dar uma olhada no manuscrito foi tomada pela manhã, e ela estava dentro do trem antes do anoitecer do mesmo dia.
No trem, entre Chicago e Nova York, a chave para o problema que a estava intrigando apareceu repentinamente em sua cabeça. Sem fazer uma pausa sequer para descansar uma noite em Nova York, retornara para São Francisco. No ferry, tentara ligar para que o motorista fosse buscá-la. Ninguém atendeu. Um taxista levou-a, junto com a empregada, para casa. Tocou a campainha, mas, nada.
Quando enfiou a chave na fechadura, a porta foi subitamente aberta por um jovem chinês – um estranho para ela. Ele se recusou a deixá-la entrar até que ela lhe disse quem era. Ele resmungou uma explicação ininteligível enquanto ela e a empregada entravam no hall. As duas foram cuidadosamente amarradas em cortinas.
Duas horas depois, Lillian Shan conseguiu se soltar – num armário de roupas de cama no segundo andar. Depois de acender a luz, começou a desamarrar a empregada. Parou. Wang Ma estava morta. A corda em torno de seu pescoço tinha sido apertada demais.
Lillian Shan saiu para a casa vazia e ligou para o xerife em Redwood City.
Dois assistentes do xerife foram até a casa, ouviram a sua história, investigaram um pouco e encontraram outro corpo chinês – outra mulher estrangulada – enterrado no porão. Aparentemente, ela estava morta havia uma semana ou dez dias. A umidade do local impossibilitara uma determinação mais precisa da data da morte. Lillian Shan identificou-a como sendo outra das empregadas – Wan Lan, a cozinheira.
Os outros empregados – Hoo Lun e Yin Hung – haviam desaparecido. Das muitas centenas de milhares de dólares em antigüidades que Shan Fang havia posto na casa durante a vida, nem um centavo havia sido retirado. Não havia sinais de luta. Tudo estava em ordem. A casa vizinha mais próxima ficava a quase um quilômetro de distância. Os vizinhos não haviam visto nada, não sabiam de nada.
Foi esta a história sobre a qual os jornais deram manchetes, e foi esta a história que aquela garota, muito ereta em sua cadeira, falando com energia profissional, pronunciando cada palavra como se estivesse impressa em preto, contou ao Velho e a mim.
– Não estou nem um pouco satisfeita com os esforços das autoridades do distrito de San Mateo para prender o assassino ou os assassinos – concluiu. – Gostaria de contratar a sua agência.
O Velho bateu na mesa com a ponta de seu inevitável lápis amarelo e fez um sinal com a cabeça para mim.
– A senhorita tem alguma idéia de quem possam ser os assassinos, srta. Shan?
– Não.
– O que sabe sobre os empregados, tanto os que desapareceram quanto as que morreram?
– Sei pouco ou nada a respeito deles. – Ela não parecia muito interessada. – Wang Ma era a mais recente, e estava comigo havia quase sete anos. Meu pai os contratou, e imagino que soubesse algo a respeito deles.
– Não sabe de onde eles vieram? Se têm familiares? Se têm amigos? O que faziam quando não estavam trabalhando?
– Não – disse ela. – Eu não interferia em suas vidas.
– Os dois que desapareceram... como eram fisicamente?
– Hoo Lun é um velho com muitos cabelos brancos, magro e encurvado. Era o responsável pelos trabalhos da casa. Yin Hung, que era meu motorista e jardineiro, é mais jovem, tem mais ou menos trinta anos, eu acho. É bem baixo, mesmo para um cantonês, mas é robusto. Quebrou o nariz uma vez e não o arrumou direito; ficou bem achatado, com uma curva acentuada no meio.
– A senhorita acredita que os dois, ou algum deles, pode ter matado as mulheres?
– Acho que não foram eles.
– O chinês mais jovem, o estranho que a deixou entrar em casa, como ele era?
– Era bem magro, e não tinha mais do que vinte, 21 anos de idade. Tinha grandes obturações de ouro nos dentes da frente. Acho que ele era bem moreno.
– A senhorita pode me dizer exatamente por que está insatisfeita com o que o delegado está fazendo, srta. Shan?
– Em primeiro lugar, não estou segura quanto à competência deles. Os que vi certamente não me impressionaram pela inteligência.
– E em segundo lugar?
– Por favor – começou ela, friamente –, é realmente necessário passar por todo o meu processo mental?
– Sim, é.
Ela olhou para o Velho, que lhe sorriu seu sorriso educado e inexpressivo – uma máscara através da qual não se pode ler coisa alguma.
Por um instante, ela suspendeu o fogo. Depois disse:
– Acho que eles não estão procurando nos lugares mais prováveis. Parecem passar a maior parte do tempo na vizinhança da casa. É absurdo pensar que os assassinos irão voltar.
Pensei um pouco sobre o assunto.
– Srta. Shan, a senhorita não acha que eles podem estar suspeitando de você? – perguntei.
Seus olhos castanhos me fuzilaram através dos óculos na minha direção e, se fosse possível, ela teria ficado ainda mais ereta na cadeira.
– Que ridículo!
– Isto não vem ao caso – insisti. – Eles suspeitam?
– Não sou capaz de penetrar na mente da polícia – replicou ela. – Você é?
– Não sei nada a respeito deste caso além do que li e do que a senhorita acabou de me dizer. Preciso de mais base do que isso para suspeitar de alguém. Mas posso compreender por que o gabinete do delegado ficaria um pouco em dúvida. Você saiu apressada. Eles têm a sua palavra sobre quando partiu e quando voltou, e a sua palavra é tudo o que têm. A mulher encontrada no porão tanto pode ter sido morta pouco antes de a senhorita partir quanto logo depois de voltar. Wang Ma, que poderia dizer alguma coisa, está morta. Os outros empregados estão desaparecidos. Nada foi roubado. São indícios suficientes para que o delegado pense na senhorita!
– Você suspeita de mim? – perguntou ela novamente.
– Não – respondi sinceramente. – Mas isso não prova nada.
Ela se virou para o Velho, erguendo o queixo, como se estivesse falando por cima da minha cabeça.
– O senhor aceita fazer este trabalho para mim?
– Teremos muita satisfação em fazer o máximo possível – disse ele, voltando-se depois para mim, assim que chegaram ao acordo e enquanto ela preenchia um cheque:
– Cuide disso. Use todos os homens de que precisar.
– Primeiro quero ir até a casa para conferir o lugar – eu disse.
Lillian Shan estava guardando o talão de cheques.
– Muito bem. Estou voltando para casa agora. Posso levá-lo.
Foi um trajeto sossegado. Nem eu nem a garota desperdiçamos energia com conversa. Minha cliente e eu não parecíamos gostar muito um do outro. Ela dirigia bem.
*
A casa dos Shan era uma grande construção de arenito localizada entre gramados. A propriedade tinha cercas vivas que iam até a altura dos ombros em três lados. O quarto limite do terreno era o mar, no ponto em que o oceano escavara uma fenda entre duas rochas.
A casa era cheia de quadros, tapetes, pinturas, e assim por diante – uma mistura de coisas americanas, européias e asiáticas. Não passei muito tempo lá dentro. Depois de dar uma olhada no armário de roupa de cama, na cova ainda aberta do porão e na pálida e corpulenta dinamarquesa que estava tomando conta da casa enquanto Lillian Shan providenciava um novo grupo de empregados, saí novamente. Examinei os gramados por alguns minutos, enfiei a cabeça na garagem, onde dois carros, além daquele no qual havíamos vindo da cidade, ficavam guardados e saí para passar o resto da tarde conversando com os vizinhos da garota. Nenhum deles sabia de nada. Como estávamos em lados opostos do jogo, não procurei os homens do delegado.
Ao fim do dia, eu estava de volta à cidade, a caminho do edifício residencial em que morei durante o meu primeiro ano em São Francisco. Encontrei o sujeito que queria em seu cubículo, enfiando o corpo pequeno numa camisa de seda cor de cereja que era qualquer coisa de se olhar. Cipriano era o garoto filipino de rosto iluminado que cuidava da entrada do prédio durante o dia. À noite, como todos os filipinos em São Francisco, podia ser encontrado na Kearny Street, logo depois de Chinatown, exceto quando estava numa casa de jogatina chinesa passando seu dinheiro para as mãos dos irmãos chineses.
Um dia, meio que brincando, eu havia prometido lhe dar a chance de bancar o detetive se algum dia surgisse uma oportunidade. Pensei que poderia usá-lo agora.
– Entre, senhor!
Arrastou uma cadeira de um canto para mim, curvando-se e sorrindo. O que quer que seja que os espanhóis façam para os povos que governam, faz deles pessoas educadas.
– O que anda acontecendo em Chinatown por estes dias? – perguntei, enquanto ele continuava se arrumando.
– Ganhei onze dólares no jogo ontem à noite – disse ele, dando-me um sorriso de dentes brancos.
– E está se arrumando para levá-los de volta hoje?
– Não tudo, senhor! Cinco dólares eu gastei nesta camisa.
– É isso aí. – Aplaudi sua sabedoria em investir parte de seus lucros de jogo. – O que mais anda acontecendo por lá?
– Nada diferente. O senhor quer descobrir alguma coisa?
– Quero. Ouviu falar alguma coisa sobre os assassinatos fora da cidade na semana passada? As duas mulheres chinesas?
– Não, senhor. Os chinas não falam muito sobre coisas desse tipo. Não são como nós, americanos. Li sobre essas coisas nos jornais, mas não ouvi nada.
– Há muitos estranhos em Chinatown ultimamente?
– Tem estranhos o tempo todo, senhor. Mas acho que talvez tenha alguns novos chinas. Ou talvez não.
– Você gostaria de fazer um servicinho para mim?
– Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! – ele disse ainda mais vezes, mas isso já lhes dá uma idéia da coisa. Enquanto dizia, ajoelhou-se e tirou uma valise de debaixo da cama. De dentro da valise, tirou um soco-inglês e um revólver reluzente.
– Ei! Eu quero algumas informações. Não quero que mate ninguém para mim.
– Eu não mato ninguém – ele me garantiu, enfiando as armas nos bolsos das calças. – Só levo isso comigo... caso precise.
– Eis o que quero. Dois dos empregados desapareceram da casa. – Descrevi Yin Hung e Hoo Lun. – Quero encontrá-los. Quero descobrir o que qualquer um em Chinatown sabe sobre os assassinatos. Quero descobrir quem são os amigos e parentes das mulheres mortas, de onde elas vieram, e a mesma coisa dos dois homens. Quero saber sobre aqueles estranhos chineses – onde passam o tempo, onde dormem, o que estão planejando.
– Agora, não tente descobrir tudo isso numa única noite. Você vai estar se saindo muito bem se conseguir qualquer dessas coisas em uma semana. Aqui estão vinte dólares. Cinco deles são o pagamento pela noite. Você pode usar o resto para ir de um lugar a outro. Não seja bobo de meter o nariz em encrencas. Vá com calma e veja o que consegue descobrir para mim. Passarei aqui de novo amanhã.
Do quarto do filipino, fui para o escritório. Todo mundo, exceto Fiske, o plantonista da noite, tinha ido embora, mas Fiske achava que o Velho passaria por ali mais tarde.
Fumei, fingi escutar o relato de Fiske sobre todas as piadas que estavam no Orpheum naquela semana e fiquei remoendo meu caso. Eu era muito conhecido para conseguir qualquer coisa discretamente em Chinatown. Não tinha certeza se o Cipriano seria de grande valia. Precisava de alguém que estivesse lá mesmo.
Essa linha de pensamento me fez pensar no Dummy6 Uhl. Uhl era um falso surdo-mudo que havia perdido o negócio. Cinco anos antes, estava no topo do mundo. Qualquer dia em que seu rosto triste, sua caixa de alfinetes e a sua placa Sou surdo e mudo não tirasse vinte dólares dos edifícios comerciais ao longo de sua rota era um dia imprestável. Seu grande trunfo era a sua capacidade de bancar a estátua quando pessoas céticas gritavam ou faziam barulhos repentinos atrás dele. Quando estava bem, uma arma sendo disparada ao lado de seu ouvido não o faria piscar. Mas o excesso de heroína deixou seus nervos num estado tal que até um sussurro podia fazê-lo pular. Abandonou os alfinetes e a placa – mais um homem arruinado pela vida social.
Desde então, Dummy havia se tornado um garoto de recados para quem quer que lhe pagasse o preço de sua cocaína necessária. Ele dormia em algum lugar em Chinatown, e não se importava muito com como fazia o jogo. Eu o tinha usado para conseguir algumas informações sobre a quebra de uma vitrine seis meses antes. Resolvi procurá-lo novamente.
Liguei para o bar de Loop Pigatti – uma espelunca na Pacific Street, onde Chinatown faz limite com o Bairro Latino. Loop é um cidadão durão, que administra um buraco da pesada e cuida da própria vida e está lucrando com seu negócio. Para Loop, todo mundo é igual. Quer você seja um arrombador, um dedo-duro, um detetive ou um operário, receberá o mesmo tratamento de Loop, e nada mais. Mas pode ter certeza de que, a menos que seja alguma coisa que possa prejudicar seu negócio, qualquer coisa que você disser a Loop não seguirá em frente. E qualquer coisa que ele lhe disser é muito provável que esteja certa.
Ele mesmo atendeu o telefone.
– Você consegue encontrar Dummy Uhl para mim? – perguntei depois de dizer quem estava falando.
– Talvez.
– Obrigado. Gostaria de vê-lo hoje à noite.
– Não tem nada contra dele?
– Não, Loop, e espero não ter. Quero que ele consiga uma coisa para mim.
– Tudo bem. Onde você quer encontrá-lo?
– Mande-o para a minha casa. Vou esperar por ele lá.
– Se ele for – prometeu Loop e desligou.
Pedi que Fiske dissesse para o Velho me ligar quando passasse por lá e fui para casa esperar pelo meu informante.
Ele chegou um pouco depois das dez – um homem baixo, atarracado e de rosto pálido de mais ou menos quarenta anos, com cabelos cor de rato com mechas branco-amareladas.
– O Loop disse que você tem uma coisa pra mim.
– Tenho – respondi, apontando para uma cadeira e fechando a porta. – Estou comprando informações.
Ele mexeu no chapéu, começou a cuspir no chão, mudou de idéia, lambeu os lábios e ergueu o olhar para mim.
– Que tipo de notícia? Num sei de nada.
Fiquei intrigado. Os olhos amarelados do Dummy deviam ter as pupilas pequenas dos viciados em heroína. Não tinham. Suas pupilas estavam normais. Isso não queria dizer que ele não estava mais usando a droga – ele havia usado beladona para que elas voltassem ao normal. O que me intrigava era... por quê? Ele não costumava se preocupar o suficiente com a aparência para ter esse trabalho.
– Você ficou sabendo dos assassinatos das chinesas na praia na semana passada? – perguntei.
– Não.
– Bem – eu disse, sem levar a negativa em consideração. – Estou atrás de uma dupla de amarelos que desapareceu: Hoo Lun e Yin Hung. Você sabe alguma coisa sobre eles?
– Não.
– Se encontrar algum dos dois, pode ganhar duzentos dólares. Mais duzentos se descobrir alguma coisa sobre os assassinatos. E outros duzentos se encontrar o jovem chinês magro com dentes de ouro que abriu a porta para a garota Shan e a empregada dela.
– Não sei nada sobre essas coisas – ele disse.
Mas disse isso automaticamente, enquanto contava mentalmente as centenas de dólares que eu havia balançado diante dele. Imagino que sua cabeça prejudicada pelas drogas tenha chegado a uma quantia perto dos milhares. Deu um salto.
– Vou ver o que dá pra fazer. Acho que dá pra você me dar cem agora, por conta.
Ele não me pegou nessa.
– Você recebe quando me der o que pedi.
Tivemos de discutir em cima disso, mas ele finalmente saiu, resmungando e rosnando, atrás das minhas informações.
Voltei para o escritório. O Velho ainda não estava lá. Já era quase meia-noite quando chegou.
– Estou usando Dummy Uhl de novo – disse a ele. – E pus um garoto filipino lá também. Tenho outro plano, mas não sei de ninguém que possa cuidar dele. Acho que se oferecêssemos os empregos do motorista e do criado desaparecidos em algum lugar remoto no interior, talvez eles caíssem nessa. Você sabe de alguém que possa fazer isso para nós?
– O que exatamente você tem mente?
– Deve ser alguém com uma casa no interior, quanto mais longe, melhor, quanto mais isolado, melhor. Essa pessoa ligaria para um desses escritórios chineses de empregos dizendo que precisa de três empregados: um cozinheiro, um criado e um motorista. Acrescentamos o cozinheiro por garantia, para disfarçar a jogada. Tudo precisa estar perfeito na outra ponta e, se queremos pegar nosso peixe, precisamos dar-lhes tempo para investigar. De modo que quem quer que o faça precisa ter alguns empregados e precisa armar um blefe, em sua própria vizinhança, de que irão embora, e os empregados devem estar envolvidos também. E teremos de esperar uns dois dias para que os nossos amigos daqui tenham tempo para investigar. Acho que é melhor usarmos a agência de empregos de Fong Yick, na Washington Street.
“Quem quer que faça isso poderia ligar para Fong Yick amanhã de manhã e dizer que estaria lá na quinta de manhã para conferir os candidatos. Estamos na segunda, acho que será o suficiente. O nosso aliado chegará à agência de empregos às dez da manhã de quinta-feira. A srta. Shan e eu chegaremos num táxi dez minutos depois, quando ele estará no meio das entrevistas com os candidatos. Saltarei do táxi e entrarei no escritório de Fong Yick e pegarei que um que se pareça com um dos nossos empregados desaparecidos. A srta. Shan chegará um ou dois minutos depois de mim para conferir, de modo que não haja nenhuma confusão com prisões equivocadas.
O Velho assentiu com aprovação.
– Muito bem – disse ele. – Acho que posso arrumar isso. Falo com você amanhã.
Fui para casa e para a cama. Assim terminou o primeiro dia.
Às nove da manhã seguinte, terça-feira, eu estava conversando com Cipriano no saguão do edifício em que ele trabalha. Seus olhos estavam como gotas de tinta preta em pires brancos. Achou que tinha alguma coisa.
– Sim, senhor. Tem alguns chinas estranhos na cidade. Dormem numa casa em Waverly Place, no lado oeste, a quatro casas da casa de Jair Quon, onde eu às vezes jogo dados. E tem mais... conversei com um homem branco que sabe que eles são assassinos profissionais de Portland, Eureka e Sacramento. São homens de Hip Sing... uma guerra deve começar. Muito em breve, talvez.
– Você acha que esses passarinhos parecem pistoleiros?
Cipriano coçou a cabeça.
– Não, senhor. Talvez não. Mas às vezes uma pessoa pode matar alguém mesmo sem parecer capaz disso. Esse sujeito me disse que eles são homens de Hip Sing.
– Quem é esse homem branco?
– Não sei o nome, mas ele mora lá. Um baixinho viciado.
– Cabelos grisalhos, olhos amarelados?
– Sim, senhor.
Aquele, provavelmente, devia ser Dummy Uhl. Um dos meus homens estava enganando o outro. A coisa da língua não tinha me parecido muito certa, de qualquer maneira. De vez em quando eles misturam as coisas, mas normalmente são responsabilizados pelos crimes de outros. A maioria dos assassinatos em massa em Chinatown é resultado de rixas entre famílias ou clãs, como os dos “Quatro Irmãos”.
– Você sabe alguma coisa sobre essa casa em que acha que os estranhos estão morando?
– Não, senhor. Mas talvez dê para ir por ela até a casa de Chang Li Ching na outra rua... a travessa Spofford.
– E? Quem é esse Chang Li Ching?
– Não sei, senhor. Mas ele está lá. Ninguém o vê, mas todos os chinas dizem que é um grande homem.
– E? A casa dele fica na travessa Spofford?
– Sim, senhor, uma casa com porta e escada vermelhas. Vai encontrar fácil, mas é melhor não brincar com Chang Li Ching.
Não entendi se era um conselho ou apenas uma observação genérica.
– Uma arma grande, é? – sondei.
Mas o meu filipino não sabia realmente nada sobre esse Chang Li Ching. Estava baseando sua opinião sobre a grandeza do chinês na atitude dos compatriotas dele quando falavam nele.
– Ficou sabendo alguma coisa sobre os dois chineses? – perguntei, depois de ter confirmado as outras coisas.
– Não, senhor, mas ficarei... pode apostar!
Elogiei o que ele havia feito, disse-lhe para tentar novamente naquela noite e voltei para casa para esperar por Dummy Uhl, que tinha prometido ir até lá às dez e meia. Ainda não eram dez horas quando cheguei lá, de modo que usei parte do tempo livre para ligar para o escritório. Como o Velho disse que Dick Foley – o melhor em seguir pessoas – estava disponível, eu o peguei emprestado. Então arrumei a minha arma e me sentei para esperar pelo meu informante.
Ele tocou a campainha às onze horas. Entrou fazendo uma incrível careta.
– Não sei que diabos pensar disso tudo, garoto – disse ele em tom importante enquanto enrolava um cigarro. – Tem alguma coisa acontecendo por lá, e isso é um fato. Mas as coisas não andam calmas desde que os japas começaram a comprar lojas nas ruas dos chinas, e talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Mas não tem chinas estranhos na cidade. Nem unzinho! Recebi uma dica de que os seus homens foram para Los Angeles, mas espero saber mais certo esta noite. Tenho um china preparado para descobrir tudo. Se eu fosse você, botaria alguém vigiando os barcos em San Pedro. Talvez aqueles sujeitos troquem de lugar com uma dupla de marinheiros chinas que queiram ficar por aqui.
– E não tem estranhos na cidade?
– Nenhum.
– Dummy – disse eu, em tom amargo –, você é um mentiroso e um idiota, e nós estamos fazendo você de bobo. Você estava envolvido naqueles assassinatos, assim como os seus amigos, e eu vou mandar você para a cadeia, com os seus amigos em cima de você!
Mostrei minha arma, perto de seu rosto cinzento e assustado.
– Fique parado enquanto faço um telefonema!
Tateei pelo telefone com a mão livre, mantendo um olho em Dummy.
Não foi o bastante. A arma estava perto demais.
Ele a arrancou da minha mão, e eu saltei em cima dele.
A arma se virou em seus dedos. Agarrei-a – tarde demais. Ela disparou, com o cano da arma a menos de trinta centímetros da minha barriga. Senti o fogo no meu corpo.
Agarrando a arma com as duas mãos, dobrei-me no chão. Dummy saiu, deixando a porta aberta.
Com uma das mãos na minha barriga em fogo, fui até a janela e acenei para Dick Foley, que estava parado numa esquina logo abaixo. Então fui até o banheiro e olhei o ferimento. Uma bala de festim dói de verdade se atinge muito de perto!
O colete, a camisa e o terno estavam arruinados, e eu tinha uma feia queimadura no corpo. Passei pomada, prendi uma gaze por cima, troquei de roupa, recarreguei a arma e fui para o escritório esperar Dick. O primeiro truque do jogo parecia ter dado certo para mim. Com ou sem heroína, Dummy Uhl não teria me atacado se o meu palpite – baseado no trabalho que ele estava tendo para fazer seus olhos parecerem bem e na mentira que ele havia me aplicado sobre não haver estranhos em Chinatown – não tivesse se aproximado do alvo.
Dick não demorou muito para chegar.
– Boa colheita! – disse ele, quando entrou. O pequeno canadense fala como um telegrama de pão-duro. – Correu ao telefone. Ligou para o Hotel Irvington. Cabine... não consegui pegar nada além do número. Deve ser suficiente. Então Chinatown. Entrou em porão no lado oeste de Waverly Place. Não consegui ficar perto o bastante para identificar local. Medo de arriscar ficando por lá. Que tal?
– Tudo bem. Vamos conferir os registros de O Whistler.7
Um funcionário do arquivo nos levou os registros – um envelope volumoso do tamanho de uma maleta, atulhado de memorandos, recortes e cartas. A biografia do cavalheiro, conforme o que tínhamos, era a seguinte:
Neil Conyers, vulgo O Whistler, nasceu na Filadélfia – em Whiskey Hill – em 1883. Em 94, aos onze anos, foi detido pela polícia de Washington. Havia ido até lá para se unir ao Exército de Coxey. Mandaram-no para casa. Em 98, foi preso em sua cidade natal por esfaquear outro sujeito numa briga por causa de uma fogueira de noite de eleição. Desta vez, foi libertado sob a custódia dos pais. Em 1901, a polícia da Filadélfia pegou-o de novo, acusando-o de ser o líder da primeira quadrilha organizada de roubo de automóveis. Foi libertado sem julgamento por falta de provas. Mas o promotor de justiça perdeu o emprego devido ao escândalo. Em 1908, Conyers apareceu na Costa do Pacífico – em Seattle, Portland, São Francisco e Los Angeles – na companhia de um vigarista conhecido como “Duster” Hughes. Hughes foi morto no ano seguinte por um homem que havia enganado num negócio falso de fabricação de aviões. Conyers foi preso por causa da mesma negociata. Dois jurados discordaram, e ele foi libertado. Em 1910, a famosa batida do Departamento de Correios contra vigaristas o apanhou. Mais uma vez, não houve provas suficientes para prendê-lo. Em 1915, a lei obteve uma vitória pela primeira vez. Ele foi para San Quentin por passar a perna em alguns visitantes da Exposição Internacional Panamá-Pacífico. Ficou preso por três anos. Em 1919, ele e um japa chamado Hasegawa aplicaram um golpe de vinte mil dólares na colônia japonesa de Seattle, com Conyers posando como um americano que havia servido numa comissão no exército japonês durante a última guerra. Tinha uma medalha falsa da Ordem do Sol Nascente que lhe teria sido entregue pelo imperador. Quando o golpe foi descoberto, a família de Hasegawa cobriu os vinte mil – Conyers saiu da história com um bom lucro e nenhuma publicidade ruim. A coisa toda havia sido abafada. Voltou a São Francisco depois disso, comprou o Hotel Irvington, e agora morava lá fazia cinco anos, sem que ninguém pudesse acrescentar mais uma palavra sequer em sua ficha criminal. Ele estava planejando alguma coisa, mas ninguém conseguia descobrir o quê. Não havia a menor chance do mundo de hospedar um detetive em seu hotel. Aparentemente, o lugar estava sempre lotado. Era tão exclusivo como o Clube Pacific-Union.
Este, então, era o proprietário do hotel para o quem Dummy Uhl havia telefonado antes de voltar ao seu buraco em Chinatown. Eu nunca havia visto Conyers. O Dick também não. Tinha duas fotografias no seu envelope. Uma era o retrato de frente e de perfil da polícia local, tirado quando ele foi preso no caso que o levou a San Quentin. A outra era uma foto de grupo: todo elegante em roupa de festa, com a medalha japonesa falsa no peito, ele aparecia de pé entre meia dúzia de japas de Seattle que havia enganado – uma foto tirada enquanto ele os levava para o matadouro.
Essas fotos o mostravam como um homem alto, corpulento, de aparência pomposa, com um queixo forte e quadrado e olhos espertos.
– Acha que consegue pegá-lo? – perguntei a Dick.
– Claro.
– Quem sabe você vai lá e tenta conseguir um quarto ou um apartamento na vizinhança, de onde possa vigiar o hotel? Talvez consiga segui-lo de vez em quando.
Pus as fotos no bolso, para o caso de elas virem a ser úteis, devolvi o resto das coisas ao envelope e subi para o escritório do Velho.
– Arrumei aquele estratagema da agência de empregos – disse ele. – Frank Paul, que tem um rancho depois de Martinez, estará no escritório de Fong Yick às dez da manhã de quinta-feira para cumprir a sua parte.
– Está ótimo! Vou para Chinatown agora. Se não souber de mim por dois dias, você pede para os varredores de rua cuidarem o que estão varrendo?
Ele respondeu que sim.
A Chinatown de São Francisco brota do distrito comercial na Califórnia Street e segue para o norte até o Bairro Latino – uma faixa de duas quadras de largura por seis de comprimento. Antes do incêndio, quase 25 mil chineses moravam naquela dúzia de quadras. Não acredito que a população agora chegue a um terço disso.
A Grant Avenue, principal rua e espinha dorsal dessa faixa, é, na maior parte de sua extensão, uma rua de lojas enfeitadas e restaurantes chineses para turistas, onde o som das orquestras de jazz americanas supera o guincho ocasional de uma flauta chinesa. Mais adiante, não há mais tanta pintura e dourados, e é possível captar o verdadeiro cheiro chinês de temperos, vinagre e coisas secas. Se você deixar as vias e as atrações turísticas principais e começar a se meter em becos e cantos escuros e nada lhe acontecer, há grandes chances de que encontre coisas interessantes – embora provavelmente não vá gostar de algumas delas.
Eu, entretanto, não estava passeando quando virei na Grant Avenue na altura da Clay Street e subi até a Travessa Spofford atrás da casa com escada e porta vermelhas que Cipriano havia dito pertencer a Chang Li Ching. Fiz uma pausa de alguns segundos para olhar para o Waverly Place quando passei por ele. O filipino havia me dito que os chineses estranhos estavam morando lá e que achava que a casa deles podia levar até a de Chang Li Ching. E Dick Foley havia seguido Dummy Uhl até lá.
Mas não consegui adivinhar qual era a casa importante. A quatro portas da casa de apostas de Jair Quon, dissera Cipriano, mas eu não sabia qual era a porta de Jair Quon. Naquele instante, Waverly Place era um retrato de calma e tranqüilidade. Um chinês gordo estava empilhando engradados de verduras em frente a um armazém. Um grupo de garotinhos amarelos jogava bolinha de gude no meio da rua. Do outro lado, um jovem loiro vestindo terno de tweed estava subindo os seis degraus de um porão até a rua, com o rosto pintado de uma chinesa aparecendo por um instante antes que ela fechasse a porta atrás dele. Mais adiante na rua, um caminhão descarregava rolos de papel em frente à gráfica de um dos jornais chineses. Um guia com roupas surradas saía com quatro turistas do Templo da Rainha do Paraíso – um templo chinês localizado acima do quartel-general da associação beneficente Sue Hing.
Segui até a Travessa Spofford e encontrei a casa que estava procurando sem qualquer dificuldade. Era um edifício pobre, com a escada da entrada e a porta da cor de sangue seco, as janelas bem fechadas com tábuas grossas pregadas muito próximas umas das outras. O que a destacava das casas vizinhas era o fato de que o térreo não era uma loja ou um negócio qualquer. Prédios exclusivamente residenciais são raros em Chinatown: o térreo quase sempre é dedicado aos negócios, com a parte residencial localizada no porão ou nos andares superiores.
Subi os três degraus da entrada e bati na porta vermelha com os nós dos dedos.
Nada aconteceu.
Bati de novo, mais forte. Nada, ainda. Tentei novamente e esta vez foi recompensada por rangidos e barulhos metálicos do lado de dentro.
Depois de pelo menos dois minutos desses rangidos e barulhos metálicos, a porta se abriu – apenas dez centímetros.
Um olho oblíquo numa faixa de rosto marrom enrugado olhou para mim através da pequena abertura, acima da pesada corrente que segurava a porta.
– O que queler?
– Quero ver Chang Li Ching.
– Não saber. Talvez outlo lado de lua.
– Bobagem! Feche a sua portinha e volte correndo para dizer a Chang Li Ching que quero vê-lo.
– Não pode! Não saber Chang.
– Diga a ele que estou aqui – eu disse, virando as costas para a porta. Sentei-me no degrau de cima e acrescentei, sem olhar para trás: – Vou esperar.
Enquanto pegava meus cigarros, o silêncio reinava atrás de mim. Então a porta se fechou devagar, e os rangidos e barulhos metálicos recomeçaram atrás dela. Fumei um cigarro, depois outro, e deixei o tempo passar, tentando fazer com que eu parecesse ter toda a paciência do mundo. Esperava que aquele amarelo não fosse me transformar num poste deixando-me sentado lá até me cansar.
Chineses passavam para lá e para cá na travessa, arrastando os pés em sapatos americanos que jamais servirão neles direito. Alguns olhavam para mim com curiosidade, outros não me davam a menor atenção. Uma hora se passou, mais alguns minutos, e então a seqüência de rangidos e barulhos metálicos familiar mexeu na porta.
A corrente chacoalhou quando a porta se abriu. Não virei a cabeça.
– Vá embola! Não pega Chang!
Não disse nada. Se não ia me deixar entrar, ele ficaria comigo sentado ali sem mais atenção.
Uma pausa.
– Que quer você?
– Quero ver Chang Li Ching – respondi, sem me virar.
Mais uma pausa, encerrada pelo bater da corrente contra o batente da porta.
– Tudo bem.
Apaguei o cigarro na rua, levantei-me e entrei na casa. Na escuridão, identifiquei algumas peças de mobília baratas e estragadas. Tive de ficar esperando enquanto o chinês atravessava quatro barras da grossura de um braço na porta e as trancava com cadeados. Então fez um sinal com a cabeça para mim e arrastou-se pela sala. Era um homem pequeno e encurvado, com uma cabeça amarela sem cabelos e um pescoço que parecia um pedaço de corda.
Desse ambiente, ele me levou para outro, ainda mais escuro, então para um corredor, e descemos um lance de degraus frágeis. Os cheiros de roupa mofada e terra úmida eram fortes. Atravessamos um piso de terra batida no escuro, viramos à esquerda e senti cimento sob os meus pés. Viramos mais duas vezes no escuro, e então subi um lance de degraus de madeira irregulares até um corredor razoavelmente iluminado, com a luz de lâmpadas elétricas protegidas.
Nesse corredor, meu guia destrancou uma porta, e atravessamos uma sala em que cones de incenso estavam sendo queimados e onde, à luz de um lampião a óleo, mesinhas vermelhas com xícaras de chá ficavam diante de painéis de madeira com ideogramas chineses pintados com tinta dourada pendurados nas paredes. Uma porta no lado oposto dessa sala nos levou a uma escuridão absoluta, onde tive de segurar a cauda do folgado casaco azul feito sob medida do meu guia.
Até então, ele não havia olhado uma vez para trás desde o começo da nossa turnê, e nenhum de nós havia dito nada. Aquela andança para cima e para baixo, virando à direita e à esquerda, parecia bastante inofensiva. Se ele se divertia me confundindo, às ordens. Eu já estava bastante confuso a essa altura, no que dizia respeito ao senso de direção. Não fazia a menor idéia de onde poderia estar. Mas isso não me perturbava muito. Se eu ia ser atacado, a noção da minha posição geográfica não tornaria nada mais agradável. Se eu fosse me sair bem, um lugar ainda era tão bom como outro qualquer.
Demos mais muitas voltas, subimos e descemos escadas, e o resto da bobagem toda. Calculei que já estava lá dentro fazia quase meia hora, e ainda não tinha visto ninguém além do meu guia.
Então vi outra coisa.
Estávamos seguindo por um corredor longo e estreito com portas pintadas de marrom muito próximas umas às outras de cada lado. Todas elas estavam fechadas – com aparência secreta sob a luz fraca. Perto de uma delas, um brilho opaco de metal atraiu o meu olhar – um anel escuro no centro da porta. Joguei-me no chão.
Caindo como se tivesse levado um soco, perdi o clarão. Mas ouvi o rugido e senti o cheiro de pólvora.
Meu guia girou, perdendo um dos chinelos. Em cada mão portava uma enorme arma automática. Enquanto tentava pegar a minha própria arma, fiquei imaginando como um homem tão pequeno conseguia esconder tanta artilharia.
As armas grandes nas mãos do homenzinho cuspiram fogo contra mim. Ele as esvaziava à moda chinesa, com tiros em seqüência.
Pensei que ele estivesse errando a pontaria até estar com o dedo apertado no gatilho. Então despertei a tempo de não atirar.
Ele não estava atirando em mim. Estava disparando contra a porta atrás de mim – a porta de onde haviam atirando em mim.
Rolei para longe, no outro lado do corredor.
O homenzinho mirrado aproximou-se e encerrou o bombardeio. Suas balas retalharam a madeira, como se fosse papel. Suas armas ficaram sem munição.
A porta se abriu, empurrada pelo que restara de um homem que estava tentando se segurar agarrando-se ao painel deslizante no centro da porta.
Dummy Uhl – com um rombo no corpo – escorregou até o chão e formou mais uma poça do que uma pilha.
O corredor encheu-se de amarelos com armas pretas destacando-se como espinhos num arbusto de amoras.
Levantei-me. Meu guia soltou as armas e cantou algo gutural. Os chineses começaram a desaparecer pelas várias portas, exceto por quatro que começaram a reunir o que vinte balas haviam deixado de Dummy Uhl.
O velho magricela guardou as armas vazias e veio até onde eu estava com uma mão estendida para a minha arma.
– Você dá – disse ele, educadamente.
Eu dei. Poderia ter pedido as minhas calças.
Escondendo a minha arma sob a roupa, olhou casualmente para o que os quatro chineses estavam levando embora e então para mim.
– Não gostar dele, hein? – perguntou.
– Não muito – admiti.
– Tudo bem. Levo você.
O nosso desfile de dois homens retomou o caminho. A brincadeira de roda continuou por outro lance de escada e algumas viradas à direita e à esquerda. Então o meu guia parou diante de uma porta e a arranhou com as unhas das mãos.
*
A porta foi aberta por outro chinês. Mas esse não era um cantonês baixinho. Era um lutador grandalhão e bestial – com pescoço de touro, ombros grandes como montanhas, braços de gorila e pele de couro. O deus que o fizera tinha muito material, e deu a ele muito tempo para endurecer.
Segurando a cortina que cobria a porta, deu um passo para o lado. Entrei e encontrei seu gêmeo de pé do outro lado da porta.
A sala era grande e cúbica, com as portas e janelas – se havia – escondidas atrás de cortinas de veludo verde, azul e prateado. Numa grande cadeira preta luxuosamente entalhada, um velho chinês. Seu rosto era redondo, rechonchudo e com ar esperto, com um cavanhaque fininho e branco no queixo. Usava um chapéu escuro e ajustado. Uma túnica púrpura apertada em volta do pescoço mostrava o forro de pele debaixo, de onde caía com uma dobra sobre suas calças de cetim azul.
Não se levantou da cadeira, mas sorriu suavemente por cima do bigode e curvou a cabeça quase até os utensílios do chá sobre a mesa.
– Foi apenas a incapacidade de acreditar que alguém com o esplendor celestial da Sua Excelência perderia seu precioso tempo com um ser tão pequeno que impediu que todos os seus escravos corressem para se prostrar aos seus nobres pés assim que soube que o Pai dos Detetives estava à sua porta indigna.
Isso saiu suavemente num inglês muito mais claro do que o meu. Mantive a expressão séria, à espera do que viria a seguir.
– Se o Terror dos Malfeitores honrar uma das minhas deploráveis cadeiras descansando seu divino corpo sobre ela, posso garantir a ele que a cadeira será queimada depois disso, para que nenhum ser menor possa usá-la. Ou o Príncipe dos Pegadores de Ladrões permitirá que eu envie um criado ao seu palácio em busca de uma cadeira dele merecedora?
Caminhei lentamente até uma cadeira, tentando organizar as palavras na minha mente. Aquele velho piadista estava tentando me enganar com um exagero – burlesco – da conhecida delicadeza chinesa. Não sou uma pessoa difícil, sou capaz de fazer o jogo de qualquer um até certo ponto.
– É apenas por estar com os joelhos frouxos pelo grande medo do poderoso Chang Li Ching que ouso me sentar – expliquei, permitindo-me sentar na cadeira e virando a cabeça para ver que os gigantes que antes estavam ao lado da porta haviam desaparecido.
Tinha um palpite de que os dois estavam apenas do outro lado das cortinas de veludo que escondiam a porta.
– Se não fosse o fato de o Rei dos Descobridores – ele retomou aquela coisa – saber de tudo, eu estaria espantado por ele ter ouvido falar no meu humilde nome.
– Ouvido falar? E quem não ouviu? – ironizei, em resposta. – A palavra mudança em inglês8 não é derivada de Chang? Mudança, com o significado de alteração é o que acontece às opiniões do homem mais sábio depois de ouvir a sabedoria de Chang Li Ching! – Tentei me afastar dessa coisa teatral, que me deixava tenso. – Obrigado por fazer com que seus homens salvassem a minha vida lá na passagem.
Ele estendeu as mãos sobre a mesa.
– Foi apenas por temer que o Imperador dos Gaviões pudesse considerar o odor de um sangue tão vil desagradável para suas elegantes narinas que o verme que perturbou Sua Excelência foi eliminado rapidamente. Se cometi um equívoco, e a sua preferência seria de que ele fosse partido em pedaços, centímetro por centímetro, resta-me apenas oferecer para torturar um de meus filhos em seu lugar.
– Deixe o garoto viver – disse eu, displicente, voltando aos negócios. – Eu não queria incomodá-lo, mas sei tão pouco que apenas a ajuda da sua grande sabedoria pode me trazer de volta ao normal.
– Alguém pergunta o caminho a um cego? – disse o velho gozador, entortando a cabeça para o lado. – Pode uma estrela, por mais que queira, ajudar a lua? Se agradar ao Avô dos Perdigueiros lisonjear Chang Li Ching para que pense que tem a acrescentar à sabedoria do grande, quem é Chang para frustrar seu mestre ao se recusar a fazer um papel ridículo.
Interpretei aquilo como se ele estivesse disposto a ouvir minhas perguntas.
– O que gostaria de saber é: quem matou as empregadas de Lillian Shan, Wang Ma e Wan Lan?
Ele brincou com uma fina mecha de sua barba branca, torcendo-a com um dedo pequeno e pálido.
– O caçador de veados olha para uma lebre? – ele quis saber. – E quando um caçador tão importante finge se preocupar ele próprio com a morte de criadas, pode Chang pensar em qualquer outra coisa além de que agrada ao maioral ocultar seu objetivo real? Embora talvez, porque eram criadas e não mulheres nobres, o Senhor das Armadilhas tenha pensado que o humilde Chang Li Ching, ser insignificante dos Cem Nomes, possa ter algum conhecimento a respeito delas. Os ratos não sabem o que fazem os ratos?
Continuou com essa coisa por alguns minutos, enquanto eu permaneci sentado examinando a máscara amarela redonda e com ar esperto que ele tinha como rosto, esperando que alguma coisa clara fosse sair dali. Não saiu nada.
– A minha ignorância é ainda maior do que eu havia arrogantemente suposto – disse ele, encerrando seu discurso. – Essa simples pergunta que você fez está além do poder da minha mente confusa. Não sei quem matou Wang Ma e Wan Lan.
Sorri para ele e fiz outra pergunta:
– Onde posso encontrar Hoo Lun e Yin Hung?
– Mais uma vez devo rastejar com minha ignorância – disse ele baixinho – apenas me consolando com a idéia de que o Mestre dos Mistérios sabe as repostas para as suas perguntas e se apraz em esconder de Chang seu objetivo infalivelmente alcançado.
E isso foi o mais longe a que cheguei.
Houve mais cumprimentos malucos, mais reverências e mesuras, mais garantias de reverência e amor eternos, e então eu estava novamente seguindo o meu guia de pescoço fino através de corredores tortuosos e escuros, salas pouco iluminadas e subindo e descendo escadas frágeis.
À porta da rua – depois que havia aberto as grades – ele tirou a minha arma da camisa e entregou-a a mim. Controlei o impulso de olhar naquele instante para ver se haviam feito alguma coisa nela. Em vez disso, enfiei-a no bolso e saí pela porta.
O chinês grunhiu, curvou-se e fechou a porta.
Subi até a Stockton Street e virei em direção ao escritório, caminhando lentamente, punindo meu cérebro.
Primeiro, eu precisava pensar na morte de Dummy Uhl. Teria sido ela arranjada de antemão, para puni-lo por falhar naquela manhã e, ao mesmo tempo, me impressionar? E como? E por quê? Ou ela deveria me deixar em dívida para com os chineses. Se sim, por quê? Ou foi apenas um daqueles truques complicados de que os chineses gostam? Afastei o assunto da mente e direcionei meus pensamentos ao homenzinho amarelo rechonchudo na túnica púrpura.
Gostei dele. Tinha senso de humor, inteligência, coragem, tudo. Prendê-lo numa cela seria algo sobre o que daria para escrever. Era a minha idéia de um homem contra quem trabalhar.
Mas não me enganei pensando que tinha alguma coisa contra ele. Dummy Uhl havia me dado uma ligação entre o Hotel Irvington de Whistler e Chang Li Ching. Dummy Uhl havia entrado em ação quando eu o acusei de estar envolvido nos assassinatos da casa de Shan. Isso eu tinha – e era tudo, exceto que Chang não havia dito nada para demonstrar que não estava interessado no caso Shan.
Sob esse aspecto, dava para acreditar que a morte de Dummy Uhl não tivesse sido uma apresentação planejada. Era mais provável que ele tivesse visto quando eu me aproximava, tentado me eliminar e sido morto pelo meu guia por estar interferindo na audiência que Chang havia me concedido. Dummy não devia ter uma vida muito valiosa aos olhos dos chineses – ou aos olhos de qualquer um.
Eu não estava nem um pouco insatisfeito com o dia de trabalho até então. Não havia feito nada brilhante, mas tinha dado uma olhada no meu destino, ou pelo menos achava isso. Se iria bater cabeça contra um muro de pedra, pelo menos sabia onde ficava o muro e tinha visto o homem a quem ele pertencia.
No escritório havia um recado de Dick Foley esperando por mim. Ele havia alugado um apartamento de frente na rua do Irvington e dedicado duas horas a seguir O Whistler.
O Whistler havia passado meia hora no bar do Big Fat Thomson, na Market Street, conversando com o proprietário e alguns dos jogadores que sempre se reuniam lá. Então tinha ido de táxi até um prédio de apartamentos na O’Farrell Street – o Glenway – onde tocara uma das campainhas. Sem receber resposta, entrou no prédio usando uma chave. Uma hora depois, saiu e voltou para o hotel. Dick não conseguiu identificar qual campainha ele havia tocado nem qual apartamento havia visitado.
Liguei para Lillian Shan.
– Você vai estar em casa esta noite? – perguntei. – Tenho algo que quero discutir com você, e não pode ser por telefone.
– Estarei em casa até as sete e meia.
– Tudo bem. Irei até aí.
Eram sete e quinze quando o carro que contratei me deixou na porta da casa. Ela abriu a porta para mim. A dinamarquesa que estava cuidando da casa até os novos empregados serem contratados só ficava lá durante o dia, voltando para sua própria casa – a um quilômetro e meio da praia – à noite.
O vestido de noite que Lillian Shan estava usando era bastante severo, mas sugeria que, se ela jogasse fora os óculos e fizesse algo para se ajudar, ela poderia não ser não pouco feminina, afinal. Levou-me até a biblioteca, no andar de cima, onde um rapaz distinto de vinte e poucos anos com roupa de festa se levantou de uma cadeira quando entrei – um rapaz elegante, com cabelos e pele claros.
Seu nome, soube ao sermos apresentados, era Garthorne. A garota parecia bastante disposta a realizar nossa reunião em sua presença. Eu não. Depois de eu fazer tudo exceto insistir diretamente em conversar com ela sozinha, ela pediu licença – chamando-o de Jack – e me levou para outra sala.
Mas então fiquei um pouco impaciente.
– Quem é aquele? – perguntei.
Ela levantou as sobrancelhas.
– É o sr. John Garthorne – disse ela.
– Você o conhece bem?
– Posso saber por que você está tão interessado?
– Pode. O sr. John Garthorne é todo errado, acredito eu.
– Errado?
Tive outra idéia.
– Onde ele mora?
Ela me deu um endereço na O’Farrell Street.
– Os Apartamentos Glenway?
– Acho que sim. – Ela olhava para mim sem qualquer afetação. – Você pode se explicar, por favor?
– Apenas mais uma pergunta antes disso. Você conhece um chinês chamado Chang Li Ching?
– Não.
– Tudo bem. Vou lhe falar sobre Garthorne. Até agora, cheguei a dois ângulos desse seu problema. Um deles tem a ver com esse Chang Li Ching, em Chinatown. Outro, com um ex-presidiário chamado Conyers. Esse John Garthorne estava em Chinatown hoje. Eu o vi saindo de um porão que provavelmente tem ligação com a casa de Chang Li Ching. O ex-presidiário Conyers visitou o prédio em que Garthorne mora no começo da tarde de hoje.
Ela abriu e fechou a boca.
– Isso é um absurdo! – explodiu ela. – Já conheço o sr. Garthorne há algum tempo, e...
– Há exatamente quanto tempo?
– Muito... vários meses.
– Como você o conheceu?
– Através de uma garota que conheci na faculdade.
– O que ele faz da vida?
Ela ficou tensa e em silêncio.
– Ouça, srta. Shan – eu disse. – Garthorne pode não ter problema, mas preciso investigá-lo. Se ele for inocente, não haverá problemas. Quero saber o que sabe sobre ele.
Consegui as informações, aos pouquinhos. Ele era, ou ela pensava que ele era, o filho mais jovem de uma família rica de Richmond, na Virgínia, vivendo um momento de desgraça por causa de alguma espécie de travessura infantil. Havia chegado a São Francisco quatro meses antes para esperar que a raiva do pai passasse. Enquanto isso, a mãe lhe enviava dinheiro, deixando-o sem a necessidade de trabalhar durante seu exílio. Havia chegado com uma carta de apresentação de uma das colegas de faculdade de Lillian Shan. Pelo que pude ver, Lillian Shan gostava muito dele.
– Você vai sair com ele esta noite? – perguntei, quando percebi isso.
– Sim.
– No carro dele ou no seu?
Ela franziu a testa, mas respondeu à pergunta.
– No dele. Vamos até Half Moon jantar.
– Vou precisar de uma chave, então, porque voltarei aqui depois que você sair.
– Você o quê?
– Vou voltar aqui. Vou lhe pedir para não dizer nada a ele sobre as minhas suspeitas mais ou menos sem valor, mas a minha opinião sincera é de que ele quer afastá-la da casa durante a noite. Assim, se o motor quebrar no caminho de volta, apenas finja que não há nada de estranho nisso.
Isso a preocupou, mas ela não admitiria que eu podia estar certo. Mas peguei a chave, falei a respeito do meu esquema com a agência de empregos e que precisaria da sua ajuda, e eles prometeram que estariam no escritório às nove e meia da manhã de quinta-feira.
Não vi mais Garthorne antes de sair da casa.
De volta ao carro, pedi que o motorista me levasse até a cidadezinha mais próxima, onde comprei um pedaço de tabaco de mascar, uma lanterna e uma caixa de munição no armazém geral. Tenho um 38 Especial, mas fui obrigado a comprar os cartuchos mais curtos e mais fracos, porque o lojista não tinha dos especiais no estoque.
Com as compras no bolso, pegamos o caminho de volta à casa de Shan. A duas curvas da propriedade, parei o carro, paguei o motorista e mandei-o embora, terminando o trecho a pé.
A casa estava toda às escuras.
Entrando o mais silenciosamente possível e usando muito pouco a lanterna, vasculhei a casa do porão ao telhado. Eu era o único ocupante. Na cozinha, assaltei a geladeira para comer alguma coisa e tomar um copo de leite. Poderia ter feito um pouco de café, mas o café tem um aroma muito forte.
Depois do jantar, assumi uma posição confortável numa poltrona no corredor entre a cozinha e o resto da casa. De um lado do corredor, uma escada levava ao porão. Do outro, a escada levava para o andar de cima. Com todas as portas da casa exceto as externas abertas, o corredor era o centro das coisas no que se referia a ouvir barulhos.
Uma hora se passou – em silêncio, exceto pela passagem dos carros na rua a cem metros de distância e do barulho do Pacífico na pequena angra. Masquei o meu pedaço de tabaco – substituto dos cigarros – e tentei contabilizar as horas da minha vida que eu tinha passado daquele jeito, sentado ou de pé, esperando que alguma coisa acontecesse.
O telefone tocou.
Deixei-o tocar. Poderia ser Lillian Shan precisando de ajuda, mas eu não podia me arriscar. Era mais provável que fosse alguém tentando descobrir se havia alguém na casa.
Mais meia hora se passou com uma brisa vindo do mar, fazendo as árvores farfalharem lá fora.
Ouvi então um barulho que não era nem de arrebentação nem de carro passando.
Alguma coisa fez clique em algum lugar.
Foi numa janela, mas não pude identificar em qual. Abandonei o tabaco e peguei a arma e a lanterna.
Ouvi o som de novo, mais alto.
Alguém estava tentando arrombar uma janela – com muita força. A fechadura chacoalhou, e alguma coisa fez clique contra a vidraça. Era um despiste. Quem quer que fosse, poderia ter quebrado o vidro com menos barulho do que estava fazendo.
Fiquei de pé, mas não saí do lugar. O barulho na janela foi um blefe para atrair a atenção de quem quer que pudesse estar dentro da casa. Virei-me de costas para ele, tentando ver dentro da cozinha.
A cozinha estava escura demais para se ver alguma coisa.
Não vi nada lá. Não ouvi nada lá.
Senti um ar úmido vindo da cozinha.
Era algo com que se preocupar. Eu tinha companhia, e ele era mais esperto do que eu. Podia abrir portas ou janelas debaixo do meu nariz. Não era algo muito bom.
Com o peso do corpo nas solas de borracha, recuei da poltrona até o batente da porta do porão tocar em meu ombro. Não tinha certeza de que ia gostar daquela festa. Gosto de trabalhar em condições iguais ou melhores do que o oponente, e a situação não estava nem um pouco parecida com isso.
Assim, quando uma linha fina de luz saiu dançando da cozinha e seguiu até a poltrona na passagem, eu estava a três passos, em direção ao porão, com as costas grudadas na parede da escada.
A luz se fixou por alguns segundos na poltrona e começou a percorrer o corredor até a sala mais além. Eu não conseguia ver nada além da luz.
Alguns novos sons chegaram até mim – o ruído de motores de carros perto da casa, na rua, o suave bater de pés na varanda dos fundos e no linóleo da cozinha, uns bons metros. Senti um cheiro – um cheiro inconfundível – de chineses sem banho.
Então parei de prestar atenção a essas coisas. Tinha muito com o que me ocupar perto de mim.
O proprietário da lanterna estava no topo da escada do porão. Eu tinha prejudicado a minha visão olhando para a luz. Não conseguia vê-lo.
O primeiro raio que direcionou para baixo não me pegou por um centímetro – o que me deu tempo para fazer um mapa no escuro. Se ele fosse de tamanho médio, segurando a lanterna com a mão esquerda e uma arma na direita, expondo-se o mínimo possível – sua cabeça devia estar meio metro acima do começo do raio de luz, a mesma distância atrás dele, quinze centímetros à esquerda – a minha esquerda.
A luz veio para o lado e atingiu uma das minhas pernas.
Bati com o cano do revólver no ponto em que havia marcado um X no escuro.
O tiro da arma dele queimou meu rosto. Um de seus braços tentou me levar com ele. Girei e deixei-o mergulhar sozinho no porão, mostrando-me um relance de dentes de ouro ao passar por mim.
A casa estava cheia de “Ah iás” e pés batendo de um lado para outro.
Eu precisava sair dali – ou seria empurrado.
Lá embaixo poderia virar uma armadilha. Subi novamente até o corredor.
O corredor estava cheio e movimentado com corpos fedorentos. Unhas e dentes começaram a arrancar as minhas roupas. Eu sabia muito bem que havia me metido em alguma coisa feia!
Eu era apenas um numa multidão de seres invisíveis lutando, rasgando, grunhindo e gemendo. Um redemoinho deles me arrastou até a cozinha. Batendo, chutando e golpeando, eu fui junto.
Uma voz aguda estava gritando ordens em chinês.
Meu ombro raspou no batente da porta enquanto eu era carregado para a cozinha, lutando como podia contra inimigos que não podia ver, com medo de usar a arma que ainda segurava na mão.
Eu era apenas uma parte naquela louca confusão. Um disparo da minha arma poderia me transformar em seu centro. Aqueles malucos estavam lutando contra o pânico. Eu não queria lhes mostrar nada que pudessem destruir.
Fui junto com eles, batendo em tudo o que surgisse no meu caminho e sendo agredido em resposta. Senti um balde entre os meus pés.
Levei um tombo, incomodando meus vizinhos, rolei sobre um corpo, senti um pé no rosto, contorci-me embaixo dele e consegui parar um pouco num canto, ainda enroscado com o balde de ferro galvanizado.
Graças a Deus por aquele balde!
Queria que aquela gente fosse embora. Não me importava quem ou o que eles eram. Se fossem embora em paz, eu perdoaria seus pecados.
Pus a arma dentro do balde e apertei o gatilho. Fiquei com o pior do barulho, mas sobrou o bastante para se espalhar ao redor. Pareceu a explosão de uma granada.
Atirei de novo dentro do balde e tive outra idéia. Com dois dedos da mão esquerda na boca, assoviei o mais forte que pude enquanto descarregava a arma.
Foi uma bela barulheira!
Quando minha arma ficou sem munição e meus pulmões, sem ar, eu estava sozinho. Gostei de estar sozinho. Soube por que alguns homens fogem e vão viver sozinhos em cavernas. E não os culpei!
Sentado sozinho no escuro, recarreguei a arma.
Engatinhando, encontrei o caminho até a porta aberta da cozinha e olhei na escuridão que não me disse nada. A arrebentação soava na angra. Do outro lado da casa veio barulho de carros. Esperei que fossem meus amigos indo embora.
Fechei a porta, tranquei à chave e acendi a luz da cozinha.
O lugar não estava tão revirado como eu imaginei que fosse estar. Havia algumas panelas e algumas louças caídas, uma cadeira estava quebrada, e o ambiente cheirava a corpos sem banho. Mas era tudo – exceto por uma manga de algodão azul no chão, uma sandália de palha perto da porta do corredor e um punhado de cabelos pretos curtos, meio sujos de sangue, ao lado da sandália.
No porão, não encontrei o homem que eu havia derrubado lá. Uma porta aberta mostrava como ele havia ido embora. Sua lanterna ainda estava lá, assim como a minha e um pouco de sangue dele.
Novamente no primeiro andar, observei a frente da casa. A porta da frente estava aberta. Havia tapetes enrugados. Um vaso azul estava quebrado no chão. Uma mesa havia sido empurrada para fora do lugar, e duas cadeiras foram estragadas. Encontrei um chapéu de feltro marrom velho e seboso que não tinha nem tira de couro nem faixa de tecido. Encontrei uma fotografia sebosa do Presidente Coolidge – aparentemente recortada de um jornal chinês – e seis folhas para enrolar cigarros de palha.
Não encontrei nada no andar de cima que demonstrasse que algum dos meus convidados tivesse estado lá.
Eram duas e meia da manhã quando ouvi um carro se aproximando da porta da frente. Espiei da janela do quarto de Lillian Shan no segundo andar. Ela estava dando boa noite a Jack Garthorne.
Voltei à biblioteca para esperar por ela.
– Nada aconteceu? – foram suas primeiras palavras, que pareceram mais um desejo do que qualquer outra coisa.
– Aconteceu sim – eu disse –, e imagino que você tenha tido o seu problema com o carro.
Por um instante, achei que ela fosse mentir para mim, mas ela assentiu com a cabeça e caiu numa cadeira, não tão ereta como de costume.
– Tive muitas companhias – eu disse –, mas não posso dizer que tenha descoberto muito sobre eles. Na verdade, dei o passo maior do que a perna e tive de me contentar com fazê-los irem embora.
– Você não ligou para o gabinete do delegado? – Havia alguma coisa estranha no tom em que ela fez a pergunta.
– Não... não quero que Garthorne seja preso agora.
Isso acabou com o desânimo dela. Ela estava de pé, esguia e ereta diante de mim. E fria.
– Prefiro não falar sobre isso novamente – ela disse.
Por mim não havia problema, mas:
– Espero que você não tenha dito nada a ele.
– Dito a ele? – ela pareceu espantada. – Você acha que eu o insultaria repetindo os seus palpites... seus absurdos palpites?
– Tudo bem. – Aplaudi seu silêncio, se não a sua opinião em relação às minhas teorias. – Agora, ficarei aqui esta noite. Não há uma chance em cem de acontecer alguma coisa, mas é melhor garantir.
Ela não pareceu muito entusiasmada com a idéia, mas acabou finalmente indo para a cama.
Evidentemente, não aconteceu nada entre aquele instante e o nascer do sol. Fui embora assim que surgiu a luz do dia e passei o terreno em revista mais uma vez. Havia pegadas por tudo, da beira da água até a entrada de carros. Ao longo da entrada de carros, parte do gramado estava cortado onde carros haviam sido manobrados sem cuidado algum.
Peguei um dos carros da garagem emprestado e estava de volta a São Francisco antes de a manhã terminar.
No escritório, pedi que o Velho pusesse um detetive atrás de Jack Garthorne e mandasse o velho chapéu, a lanterna, a sandália e o resto das minhas lembranças serem examinados em busca de impressões digitais, pegadas, marcas de dentes e tudo o mais que fosse possível. Também pedi que a nossa filial de Richmond procurasse pelos Garthorne. Então fui atrás do meu assistente filipino.
Ele estava sombrio.
– O que houve? – perguntei. – Alguém bateu em você?
– Ah, não, senhor! – protestou ele. – Mas talvez eu não seja um detetive muito bom. Tentei seguir um sujeito, mas ele virou numa esquina e desapareceu.
– Quem era ele e o que estava fazendo?
– Não sei, senhor. Tinha quatro carros com homens saindo de dentro deles naquele porão onde eu disse que moram os chineses estranhos. Depois que eles entram, um homem sai. Está com o chapéu por cima de um curativo na parte de cima do rosto e sai caminhando rapidamente. Tento segui-lo, mas ele vira naquela esquina, e onde está ele?
– A que horas aconteceu tudo isso?
– À meia-noite, talvez.
– Pode ter sido mais tarde do que isso, ou mais cedo?
– Pode.
Meus visitantes, sem dúvida; e o homem que Cipriano havia tentado seguir pode ter sido aquele que eu havia derrubado. O filipino não tinha pensado em anotar as placas dos carros. Não sabia se os motoristas eram brancos ou chineses, nem a marca dos carros.
– Você se saiu bem – garanti a ele. – Tente novamente esta noite. Vá com calma que você chegará lá.
De lá, fui até um telefone e liguei para a central de polícia. Fiquei sabendo que...
Dashiell Hammett
O melhor da literatura para todos os gostos e idades