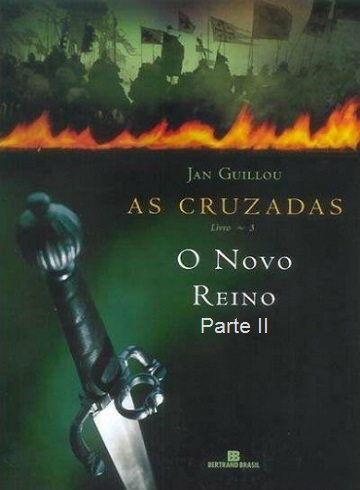O ANO DA GRAÇA DE 1192, pouco antes de as noites começarem a ficar brancas de neve, já no final do outono, e em que o trabalho contra os lobos salteadores devia começar, abateu-se sobre a Götaland Ocidental um mau tempo muito estranho. A tempestade durou três dias e três noites, e transformou essa época do ano, rica em promessas de brancura luminosa, em outono chuvoso e escuro.
Na terceira noite, depois da missa da meia-noite, a maioria dos irmãos no mosteiro de Varnhem já estava dormindo na certeza de que as suas preces iriam derrubar as forças da escuridão e que a tempestade iria logo abrandar. Foi então que o irmão Pietro, já no receptorium, acordou do seu sono com um ruído estranho. Sentou-se na cama sem entender o que tinha ouvido. Do lado de fora dos muros, no portão em carvalho pesado do receptorium, havia apenas o uivo da tempestade, a batida da chuva nas telhas e o barulho da folhagem das árvores.
Mas aí ele ouviu de novo. Era como se um punho de ferro batesse no portão.
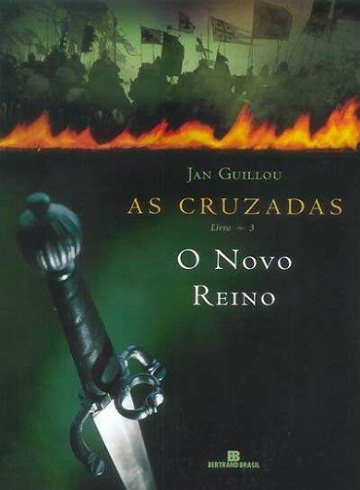
Cheio de medo, saltou da cama e pegou seu rosário, começando a murmurar uma prece de que não se lembrava muito bem, mas que o devia defender das forças do mal. E então, já junto do portão, ficou na escuta, no meio da escuridão. E logo em seguida se ouviram mais três batidas igualmente pesadíssimas. O irmão Pietro não podia fazer outra coisa a não ser tentar gritar através do portão para que o estranho se desse a conhecer. Gritou em latim, já que essa língua tinha mais potência contra as forças da escuridão e já que estava acordado demais para exprimir fosse o que fosse naquela língua estranha, muito musical, que o povo falava lá fora, do outro lado dos muros.
— Quem é que está chegando pelos caminhos de Deus nesta noite? — gritou ele, a boca colada na fechadura.
— Um servidor de Deus, com intenções puras e em missão de boa vontade — respondeu o desconhecido num latim absolutamente sem erros.
Isso tranqüilizou o irmão Pietro, que teve bastante trabalho para abrir a tranca do portão, bem pesada e feita de ferro fundido. Só depois conseguiu entreabrir o portão.
Lá fora estava um estranho de capa de couro até os pés, com capuz, para se defender da chuva. Esse estranho imediatamente empurrou o portão com uma força impossível de enfrentar pelo irmão Pietro, ao mesmo tempo que se colocava sob o teto da entrada, ainda que para isso tivesse até que dar uns encontrões no irmão à sua frente.
— Meu Deus, uma viagem muito longa acaba de chegar ao fim. Mas é melhor não ficarmos aqui falando no escuro. Traga a lamparina do receptorium, meu desconhecido irmão — disse o estranho.
O irmão Pietro fez como lhe pediram, já tranqüilo pelo estranho falar a linguagem da Igreja e pelo fato de ele saber que existia uma lamparina no receptorium. Lá dentro, desajeitadamente, ficou mexendo numa brasa ainda bem acesa no braseiro para acender o pavio que logo botou dentro do óleo da lamparina. Quando voltou de novo ao átrio da entrada, conseguiu iluminar o estranho e a si próprio, mais pelo reflexo da luz nas paredes brancas. O estranho despiu a capa que lhe servia de proteção contra a chuva e a sacudiu. O irmão Pietro, inconscientemente, susteve a respiração ao ver a veste branca com a cruz vermelha. Do seu tempo em Roma, ele sabia muito bem o que estava vendo. Um templário acabava de chegar a Varnhem.
— Meu nome é Arn de Gothia e você não tem nada a recear de mim, irmão. Foi aqui em Varnhem que fui educado e foi daqui que um dia parti para a Terra Santa. Mas você não conheço. Qual é o seu nome, irmão?
— Eu sou o irmão Pietro de Siena e estou aqui só há dois anos.
— Então é novo por aqui. Por isso, tem de ficar na portaria, coisa que ninguém quer. Mas, me diga logo, o padre Henri ainda vive?
— Não, ele morreu há quatro anos.
— Então, rezemos pela sua alma — disse o templário, fazendo o sinal-da-cruz e baixando a cabeça por momentos.
— E o irmão Guilbert ainda vive? — perguntou o templário, ao levantar a cabeça de novo.
— Sim, irmão, ele já está velho, mas ainda tem muita força.
— Isso não me espanta. Como se chama o novo abade?
— Seu nome é padre Guillaume de Bourges. E veio para cá há três anos.
— Faltam quase duas horas para as matinas, mas mesmo assim faça o favor de acordá-lo e dizer a ele que Arn de Gotiia chegou a Vár-nhem — pediu o templário, com algo que pareceu ser uma fisgada de irritação nos olhos.
— Não gostaria de fazer isso, irmão. O padre Guillaume costuma chamar a atenção para o fato de o sono ser um presente de Deus que temos a obrigação de administrar muito bem — respondeu o irmão Pietro, encolhendo-se diante do pensamento desagradável de ter de acordar o padre Guillaume por uma coisa que talvez não fosse suficientemente importante.
— Entendo, mas então vá acordar o irmão Guilbert e diga a ele que o seu aluno Arn de Gothia o está esperando no receptorium — disse o templário num tom de voz amistoso, mas ainda assim como se fosse uma ordem de comando.
— O irmão Guilbert também pode ficar... Não posso deixar o meu posto aqui no receptorium no meio desta noite horrível — tentou esquivar-se o irmão Pietro.
— Ah, não! — reagiu o templário, com um pequeno sorriso nos lábios. — Para começo de conversa, você pode, sim, deixar o seu posto de sentinela, com toda a confiança, deixando em seu lugar um templário do Senhor. Substituto mais competente e capaz, você jamais poderia encontrar. Em segundo lugar, juro que você vai acordar o velho urso Guilbert com uma boa notícia. Portanto, vá. Eu o espero aqui e prometo que tomo conta da portaria da melhor maneira possível.
O templário falou com voz de comando, de maneira que não havia como contrariá-lo. O irmão Pietro acenou com a cabeça, afirmativamente, em silêncio, e desapareceu pela arcada em direção ao pequeno jardim que era a última ala antes de passar pelo portão de carvalho que dava para a própria clausura.
Não demorou muito e logo o portão entre a clausura e a recepção se abriu com um estampido e uma voz bem conhecida ecoou na arcada branca. O irmão Guilbert chegou em passos largos e com um archote na mão. Não parecia tão enorme como antes, nem tão alto quanto um gigante. Ao descobrir o forasteiro perto do portão de entrada, suspendeu mais alto o archote para ver melhor. Depois, entregou o archote para o irmão Pietro e avançou e abraçou o forasteiro, sem que qualquer deles dissesse uma palavra por um longo momento.
— Pensei que tivesse morrido em Tiberíades, meu caro Arn — disse o irmão Guilbert, finalmente, na linguagem dos francos. — Era o que pensava, também, o padre Henri e, por isso, rezamos juntos muitas preces desnecessárias pela sua alma.
— Não, senhor, as preces não foram tão desnecessárias, visto eu poder agora agradecer pessoalmente por elas, irmão — respondeu Arn de Gothia.
Depois foi como se nenhum dos dois quisesse dizer nada e como se os dois tivessem que se conter para não parecerem inadequadamente sensíveis. Para o irmão Pietro, ficou claro que os dois tinham vivido uma amizade muito profunda.
— Você veio para rezar por sua mãe, a senhora Sigrid, junto da sua sepultura? — perguntou o irmão Guilbert, finalmente, num tom de voz como se estivesse falando com um viajante qualquer.
— Sim, claro, é isso que eu quero fazer — respondeu o templário, no mesmo tom de voz. — Mas também é claro que eu tenho de tratar de vários assuntos aqui em Varnhem. Entretanto, preciso da sua ajuda para resolver algumas pequenas coisas que é melhor resolver de imediato, antes de tomar pé nos grandes problemas.
— É evidente que o ajudarei no que for preciso. Basta você dizer o que quer.
— Estou com vinte homens e dez carroças lá fora na chuva. Muitos dos homens são do tipo que não podem entrar na área por dentro dos muros do mosteiro. As dez carroças estão bem carregadas, e três delas era melhor que ficassem aqui dentro — respondeu o templário rápido como se falasse de coisas normais, embora as carroças que deviam ficar guardadas dentro dos muros certamente contivessem coisas de grande valor.
Sem responder, o enorme irmão Guilbert pegou o archote da mão do seu irmão jovem e saiu pelo portão do receptorium e para a chuva. Lá fora estavam alinhadas dez carroças muito enlameadas, nada de admirar depois de uma viagem difícil. Junto das rédeas dos bois encontravam-se alguns homens aborrecidos, de cócoras, que não pareciam estar dispostos a viajar por mais tempo.
O irmão Guilbert soltou uma gargalhada quando os viu, abanou, sorridente, a cabeça e gritou para o jovem irmão diversas ordens como se ele não fosse um templário mas apenas um monge cisterciense.
Levou menos de uma hora para resolver tudo o que tinha de ser resolvido para os visitantes. Uma das muitas regras em Varnhem dizia que todo viajante que chegasse de noite deveria ser recebido com a mesma hospitalidade como se ele fosse o próprio Senhor. Uma regra que o irmão Guilbert repetia de vez em quando para si mesmo, primeiro, meio na gozação, mas cada vez mais divertido quando ele ouviu do templário que talvez um bom pedaço de presunto cru defumado não fosse a melhor maneira de dar as boas-vindas. Mas a piada a respeito da inconveniência do presunto defumado nas boas-vindas passou em brancas nuvens pelo irmão Pietro.
Entretanto, toda a hospedaria de Varnhem estava deserta e sem luz fora dos muros do mosteiro, visto terem sido poucos os viajantes chegados durante os últimos dias de tempestade. Por isso, logo todos os convidados estavam alojados e ungidos.
Depois, o irmão Guilbert e Arn de Gothia abriram os grandes e pesados portões do mosteiro e fizeram entrar as carroças que precisavam de proteção e as colocaram junto das oficinas, assim como retiraram os arreios dos bois e os colocaram aconchegados e a coberto.
Assim que o trabalho ficou pronto a chuva começou a diminuir e já se podiam ver alguns rasgões no céu de nuvens negras. O tempo estava dando uma virada. E ainda restava mais ou menos uma hora para as matinas.
O irmão Guilbert seguiu na frente até a igreja, abriu as portas e os dois entraram sem dizer palavra.
E ainda em silêncio Arn parou diante da bacia batismal logo à entrada. Tirou das costas a sua capa de couro bem larga e deixou-a cair no chão, apontou para a bacia e para a água benta com um olhar interrogador, sendo que a bacia nem sequer estava fechada, e recebeu de volta um aceno de consentimento do seu irmão mais velho. Então puxou pela espada, molhou três dedos na água benta e os passou pela folha larga da arma antes de a embainhar de novo. Molhou novamente os dedos na água e os levou à testa, cruzando nos ombros e ao coração. Depois disso, os dois avançaram lado a lado pela arcada do altar até o lugar que o irmão Guilbert indicou e onde ambos se ajoelharam e ficaram rezando em silêncio até que ouviram os outros irmãos chegando para a matina. Nenhum deles disse nada. Arn conhecia as regras do mosteiro a respeito das horas do silêncio tão bem quanto qualquer um dos outros irmãos.
Quando todos se juntaram para os cânticos, a tempestade já tinha amainado e já se escutava o pipilar dos pássaros anunciando a primeira luz do dia.
O padre Guillaume de Bourges era o primeiro da fila de irmãos que vieram pela arcada lateral da igreja. Os dois, que ainda estavam rezando, levantaram-se e fizeram uma vênia em silêncio e o padre cumprimentou-os de volta. Mas na hora descobriu a espada do cavaleiro e arregalou os olhos. O irmão Guilbert apontou, então, para a cruz vermelha dos templários e depois para a bacia batismal à entrada e o padre Guillaume acenou então com um sorriso de quem estava tranqüilizado e tinha compreendido.
Ao começarem os cânticos, o irmão Guilbert explicou para seu amigo recém-chegado, através dos sinais secretos do mosteiro, que o abade era muito estrito a respeito da regra do silêncio.
Arn participou dos cânticos, assim como todos os outros, porque conhecia bem os salmos, e ficou olhando de esguelha de irmão para irmão. A luminosidade começava a entrar cada vez mais forte e já se podia ver o rosto de cada um. Um terço dos homens ali reunidos já conhecia o templário e cautelosamente, quase sem se notar, eles puderam corresponder ao aceno de saudação com outro aceno. Mas a maioria era formada por desconhecidos.
Ao terminarem os cânticos e já os irmãos seguiam em procissão, a caminho do claustro, o abade Guillaume fez um sinal para o irmão Guilbert, de que queria falar com os dois no parlatorium logo depois do desjejum e ambos fizeram uma vênia confirmando o encontro.
Arn e o irmão Guilbert continuaram em silêncio e saíram da igreja, passando depois pelo jardim e pelas oficinas na direção das cocheiras. O sol da manhã já tinha despontado e subia vermelho, luzente e brilhante no horizonte, e ouvia-se o pipilar dos pássaros, vindo de todos os lados. Estava despontando de novo um bonito dia de verão.
Ao chegar ao destino, foram logo para o cercado onde estavam os garanhões. O templário apoiou-se no madeirame superior da cerca e pulou para dentro do cercado de uma vez e fez um sinal algo exagera-damente respeitoso para o irmão Guilbert fazer o mesmo, mas este abanou sorridente a cabeça e preferiu subir lentamente pela cerca como normalmente todo mundo fazia. No outro lado do cercado estavam dez garanhões juntos na espera como se ainda não tivessem decidido o que deviam achar do homem de branco.
— Muito bem, meu querido Arn — disse o irmão Guilbert, rompendo com a regra do silêncio em vigor depois do desjejum —, enfim, já aprendeu a linguagem dos cavalos?
Arn olhou para ele, com um olhar de quem aceitava o desafio. Depois, deu um assobio que fez os garanhões levantarem as orelhas e prestarem atenção. E então Arn chamou-os, na linguagem dos cavalos:
— Em nome do Clemente e Misericordioso, vocês que são os filhos do vento, venham até seus irmãos e protetores!
Os cavalos prestaram ainda mais atenção, levantaram ainda mais as suas orelhas. E então um dos mais fortes iniciou suas primeiras passadas
em direção aos dois. Logo os outros seguiram seu exemplo. E quando o primeiro garanhão levantou a cauda e transformou as passadas em trote, os outros vieram também no seu encalço e dali a pouco todos estavam a galope, de tal maneira que o chão tremia debaixo de suas patas.
— Pelo Profeta, que a paz esteja com Ele, você aprendeu mesmo a linguagem dos cavalos lá no sul, no Ultramar — murmurou o irmão Guilbert em árabe.
— É verdade — reagiu Arn na mesma língua, ao mesmo tempo que jogava o seu manto branco na frente dos cavalos para os fazer frear —, e ainda me lembro dessa linguagem que eu julgava ser a dos cavalos e não a língua dos infiéis.
Cada um pegou o seu garanhão, embora o irmão Guilbert fosse obrigado a buscar apoio na cerca para subir no lombo do animal. Daí cavalgaram à volta do cercado sem selas, sentados apenas no dorso dos cavalos e com a mão esquerda segurando ligeiramente a crina deles.
Arn perguntou se ainda existia a mesma dificuldade, de os gotas ocidentais serem os últimos homens no mundo a não entenderem o valor desses cavalos árabes, e o irmão Guilbert confirmou com um suspiro que assim era. Na maioria dos casos no mundo cisterciense, os cavalos eram o melhor dos negócios. Mas não na Escandinávia. Aqui a arte da guerra a cavalo ainda não tinha chegado. Por isso, esses cavalos não valiam mais, antes, valiam menos do que os cavalos pesados usados pelos gotas.
Arn se espantou e perguntou se os seus parentes ainda continuavam a acreditar que não era possível utilizar a cavalaria na guerra. O irmão Guilbert confirmou novamente que assim era e mais uma vez suspirou de desalento. Os nórdicos iam para a guerra a cavalo, desciam do cavalo, prendiam-no e depois corriam para o prado mais próximo e se enfrentavam aos golpes e empurrões.
Mas agora o irmão Guilbert não podia conter por mais tempo todas aquelas perguntas que ele tanto gostaria de fazer, desde o momento que aquele que ele considerava como seu filho perdido apareceu na sua frente, no receptorium, pingando chuva e lama, depois da sua longa viagem. Arn começou, então, a contar uma história muito longa.
O jovem puro e inocente, Arn Magnusson, que um dia deixara Varnhem para servir na Terra Santa até a morte ou até que passassem vinte anos, o que normalmente seria o mesmo, não existia mais. Não era mais nenhum cavaleiro Persival, puro e inocente, que estava voltando da guerra.
Foi isso que o irmão Guilbert entendeu quase de imediato no claustro, logo que a conversa com o padre Guillaume começou. A manhã tinha ficado maravilhosa, o céu sem nuvens e sem vento e, por isso, o padre Guillaume levou o seu convidado, tão extraordinário, e o irmão Guilbert para um recanto do claustro, com bancos de pedra, considerado um lugar muito bom para conversar, em vez de os levar para o parlatorium. Dessa forma, eles estavam falando praticamente com os pés em cima da sepultura do padre Henri. Tanto ele quanto o seu sigilo quebrado estavam ali justamente no lugar em que ele desejara ficar. E assim eles começaram por fazer uma prece pela alma do padre Henri.
O irmão Guilbert observou atentamente Arn quando ele começou a apresentar os seus assuntos ao padre Guillaume. Este escutava com toda a atenção, bondosamente, e, como normalmente, um pouco com sentimentos de proteção como se fosse alguém que soubesse menos. Que o padre Guillaume era um teólogo competente, isso era inquestionável, mas funcionava mal como conhecedor de templários, achava o irmão Guilbert, que logo viu aonde Arn queria chegar.
Estava claro pelas marcas no seu rosto que Arn não era um irmão que tivesse atingido o poder máximo através de escrevinhações e contas. Devia ter passado a maior parte do seu tempo na Terra Santa, montado, com a espada e a lança nas mãos. Só agora o irmão Guilbert havia notado a faixa preta bem embaixo no manto, mostrando que o seu posto era do nível de comandante de fortaleza entre os templários e, portanto, com mando sobre a guerra e o comércio. O que quer que quisesse, logo ele convenceria o mais jovem e menos experiente padre Guillaume a aceitar o que fosse, sem que este sequer percebesse o que estava fazendo.
Como primeira resposta à questão que lhe foi feita do que ele desejava de Varnhem, Arn respondeu dizendo que desejava fazer uma doação de nada menos que dez marcos em ouro. Varnhem fora o lugar onde os irmãos, com a ajuda de Deus, o educaram, e dez marcos em ouro, certamente, era um valor muito pequeno para expressar toda a sua gratidão. Além disso, desejaria garantir a sua sepultura ao lado da de sua mãe junto ao altar na igreja.
Diante dessa proposta, boa e cristã, o jovem padre Guillaume tornou-se, evidentemente, muito cooperativo, tal como o padre Guil-bert tinha previsto e Arn, acreditado. E muito melhor ainda ficou quando Arn, pedindo desculpas, se dirigiu às carroças estacionadas dentro dos muros e de lá voltou com uma sacola pesada, de couro, — tilintando, que ele, com cuidado extremo, e com uma profunda vênia, entregou nas mãos do padre Guillaume.
O padre Guillaume teve dificuldade em evitar abrir logo a sacola de couro para começar a contar o ouro.
Arn fez então a sua jogada seguinte. Durante alguns momentos, falou dos bonitos cavalos de Varnhem, da lamentável situação de os seus confrades nessa região nórdica desconhecerem o valor correto desses animais, e do grande e elogiável trabalho que seu velho amigo e irmão Guilbert, sem recompensa, dedicou durante muitos anos na criação desses cavalos e na melhoria da sua raça. Acrescentou que muitos persistentes servidores nas videiras do Senhor receberam o seu salário mais tarde em relação ao trabalho que realizaram, enquanto outros, que só começaram a trabalhar mais tarde, receberam seu salário só ocasionalmente. Enquanto o padre Guillaume examinava seriamente este exemplo bem conhecido da maneira como o ponto de vista das pessoas a respeito de justiça muitas vezes se diferencia do ideal de Deus, Arn propôs a compra de todos os cavalos de Varnhem por um preço muito bom. Dessa forma, acrescentou rápido antes que o padre
Guillaume se recuperasse da surpresa, Varnhem, finalmente, recuperaria todos os gastos com o trabalho realizado. E, além disso, seria bem melhor abandonar essa criação que não dava lucro na Escandinávia. Tudo em uma única decisão.
Arn observou então um momento de silêncio, esperando as conseqüências da sua proposta, até o momento em que o padre Guillaume pareceu ter se recuperado e estar a ponto de explodir em agradecimentos.
Mas havia um pequeno problema no negócio, interveio rápido Arn. Na realidade, para criar os cavalos, o comprador precisava de uma mão experiente, e essa mão existia em Varnhem e era o irmão Guilbert. Por outro lado, o papel mais importante do irmão Guilbert em Varnhem iria desaparecer com a saída dos cavalos, certo?
O padre Guillaume propôs imediatamente que o irmão Guilbert seguisse incluído na compra pelo menos por algum tempo, não, por quanto tempo fosse preciso, para ajudar o comprador. Arn acenou agradecido por esse ponto de vista muito sensato, mas o irmão Guilbert, que agora voltava a observar intensamente o rosto dele, não podia descortinar nem sequer um pequeno desvio na sua expressão que confirmasse ser essa a intenção do templário. Parecia apenas que só depois de alguma reflexão ele tivesse encontrado a sensatez na proposta do padre Guillaume. Depois, a proposta dele foi a de querer que a papelada da doação ficasse registrada, de sigilo aposto, naquele mesmo dia, visto que ambas as partes se encontravam juntas.
Assim que o padre Guillaume concordou até mesmo com essa proposta, Arn elevou as mãos num gesto de agradecimento e de alívio, pedindo aos dois que lhe dessem notícias que só poderiam saber os homens da Igreja, ou seja, qual era a situação real no país.
Tal como ele logo esclareceu, já sabia, sim, quem era o rei, o conde ministerial e a rainha, essas notícias ele já tinha recebido em Lõdõse. Que já havia paz no país, há bastante tempo, também ele já sabia. Mas a resposta para a questão de saber se essa paz entre as duas províncias de gotas e sveas iria continuar no futuro, isso só era possível saber entre os clérigos, só entre estes era possível encontrar as verdades mais profundas.
O padre Guillaume ficou feliz diante da idéia de que as verdades mais profundas só se encontravam entre os homens da Igreja. E acenava, concordando e gostando, mas parecia ao mesmo tempo um pouco inseguro a respeito das notícias de que Arn queria saber. Arn o ajudou com uma pergunta curta, mas muito dura, que formulou em voz grave, sem mudar no mínimo a sua expressão.
— Se, apesar de tudo, vai haver guerra de novo no nosso país, por que e quando?
Os dois monges franziram as suas testas, refletiram um pouco e foi o irmão Guilbert quem respondeu primeiro, com a aquiescência do padre Guillaume, dizendo que enquanto o rei Knut Eriksson e seu conde Birger Brosa detivessem o poder não haveria perigo de guerra. A questão era saber o que aconteceria depois que o rei Knut deixasse o trono.
— E então o risco de uma nova guerra será grande — disse, suspirando, o padre Guillaume.
Contou que na última reunião anual dos homens da Igreja em Linkõping, o novo arcebispo, Petrus, mostrara claramente para todos onde estava. Disse ser a favor da família sverkeriana e que tinha recebido o seu palium do arcebispo dinamarquês, Absalon, de Lund, e que o mesmo Absalon fazia intrigas contra a família erikiana e queria ver de volta os sverkerianos com a coroa dos gotas e dos sveas. Havia também uma maneira de conseguir esse fim, de que o rei Knut Eriksson sabia tão pouco quanto mostrou saber que o seu novo arcebispo era um homem dos dinamarqueses e dos sverkerianos. Nas mãos do arcebispo Absalon em Lund estava uma carta da abençoada abadessa Rikissa, que ela fez escrever no leito de morte e na qual informou que a rainha Cecília Blanka, esposa do rei Knut, durante o seu tempo entre as familiares no convento de Gudhem tinha feito os votos de castidade e de ser eterna servidora de Deus. Como o rei Knut, mais tarde, foi buscar Cecília Blanka de Gudhem e fez dela uma rainha e dela recebeu quatro filhos e duas filhas...
Assim, podia-se dizer que as crianças do rei eram ilegítimas e, portanto, não tinham nenhum direito ao trono, resumiu Arn, rapidamente. Teria o Santo Padre em Roma informado qual a sua sentença sobre o assunto?
Não, visto que tinha assumido um novo papa, que escolheu o nome de Celestino III. Por isso, não se sabia qual era a sentença do papado a respeito da legitimidade ou ilegitimidade dos filhos dos soberanos das Götalandes. Certamente haveria outras questões mais importantes a discutir primeiro pelo papa recém-eleito.
E se nenhum dos filhos do rei Knut pudesse suceder ao pai, constatou Arn, mais do que perguntou, o arcebispo Petrus e, possivelmente, outros bispos iriam, sem surpresa, propor que fosse um sverkeriano a assumir a coroa, certo?
Os dois monges acenaram, tristes, confirmando o raciocínio. Arn ficou em silêncio, repensando a questão, antes de se levantar com a expressão de quem não estava para se preocupar com coisas pequenas. Agradeceu pelas informações importantes que lhe deram e propôs que seguissem logo para o scriptorium a fim de pesar com exatidão o ouro e ter os documentos escritos da doação, carimbados com o sigilo.
O padre Guillaume, que um pouco antes estava achando que a conversa tinha enveredado por um caminho demasiado baixo e desinteressante, aceitou de imediato a proposta feita.
Quando o estranho comboio de carroças puxadas por bois, cercadas de cavalos árabes, leves e rápidos, deixou o mosteiro de Varnhem no dia seguinte, a caminho de Skara, o irmão Guilbert encontrava-se entre todas as mercadorias compradas. Era assim que ele próprio, ironicamente, considerava a mudança repentina na sua vida. Arn o tinha comprado com a mesma facilidade com que garantiu a sua sepultura, todos os cavalos, assim como todos os arreios e correias, feitos em Varnhem. Nem mesmo protestando, o irmão Guilbert poderia ter mudado as coisas, visto que o padre Guillaume parecia cego perante o ouro que Arn apresentou em pagamento. Em vez de ficar esperando o fim da vida na tranqüilidade de Varnhem, estava agora cavalgando junto com homens estranhos, a caminho de um futuro incerto, mas achava que isso era muito bom. Quais eram as intenções de Arn, ele não tinha a menor idéia, mas acreditava que todos esses cavalos comprados não iriam servir apenas para alegria dos olhos.
Os cavaleiros sarracenos rodando à volta do comboio de carroças — já que se tratava de sarracenos, disso o irmão Guilbert não tinha dúvida nenhuma — pareciam infantilmente satisfeitos com o fato de poderem continuar a sua longa viagem a cavalo e isso era fácil de entender, em especial, por se tratarem de cavalos muito bem criados e treinados. Para o irmão Guilbert, dava para acreditar que o que aconteceu era brincadeira do abençoado São Bernardo para com o seu monge, já que uma vez, desesperado por ninguém querer comprar os cavalos de Varnhem, ele gritou na sua impotência que era melhor que chegassem compradores sarracenos. Agora, esses inesperados sarracenos estavam cavalgando à sua volta, conversando e soltando piadas por todos os lados. Nas carroças puxadas por bois estavam outros homens que falavam uma língua diferente. O irmão Guilbert ainda não tinha chegado a uma conclusão a seu respeito, quem eles eram e de onde vinham.
No entanto, havia uma grande preocupação. Aquilo que Arn tinha feito era uma espécie de trapaça que o jovem e inexperiente padre Guillaume não soube como entrever, cego como ficou por causa do ouro. Um templário não podia possuir mais do que um monge em Varnhem. O templário que fosse encontrado na posse de uma única moeda devia abandonar imediatamente o seu manto e, em desgraça, deixar a Ordem dos Templários.
O irmão Guilbert decidiu, então, que era melhor enfrentar a situação desagradável antes cedo do que tarde, tal como todos os templários sempre haviam aprendido. E comandou o seu animal para avançar para a frente do comboio, colocando-se ao lado de Arn. E logo fez a pergunta que queria, sem rodeios.
No entanto, Arn pareceu não levar a mal a dura pergunta, antes sorriu e deu uma virada no seu garanhão especial, vindo com ele do Ultramar e de uma raça que o irmão Guilbert ainda desconhecia. E foi até a última carroça onde começou procurando por alguma coisa nas arcas.
Pouco depois voltou com um rolo de couro impermeável e o entregou, sem dizer uma palavra, ao irmão Guilbert, que o abriu tão curioso quanto preocupado.
Era um texto escrito em três línguas, assinado pelo grão-mestre dos templários, Gérard de Ridefort. E nele estava dito que Arn de Gothia, depois de vinte anos de serviço como irmão temporário, estava deixando o seu posto na Ordem dos Templários e com isso liberado pelo próprio grão-mestre, mas que ele, por motivo de todos os serviços prestados à ordem, em todas as ocasiões que lhe aprouvesse, por livre e espontânea vontade, tinha direito a portar o manto branco no mesmo grau e posto em que ele deixara a ordem.
— Portanto, como você vê, meu caro irmão Guilbert — exclamou Arn, pegando no pergaminho e o enrolando. Cuidadosamente, — recolheu-o no invólucro de couro, acrescentando: — Eu sou ainda templário, e também não sou. E, para falar francamente, não vejo nada de mais no fato de, após tanto tempo ao serviço da cruz vermelha dos templários de Cristo, eu não poder procurar, de vez em quando, a sua proteção.
O que Arn queria dizer com isso, em princípio, não estava claro para o irmão Guilbert. Mas, depois de cavalgar por algum tempo, Arn começou a contar a história da viagem de volta para casa e, por isso, começou a ficar mais compreensível o valor da veste de templário como proteção contra assaltos e criminosos.
Os homens que agora viajavam com eles no comboio, Arn os tinha comprado, prendido ou alugado e colocado ao seu serviço pelos caminhos do Ultramar, onde todos eram inimigos de todos e o sarraceno que servia os cristãos vivia tão perigosamente quanto o cristão que servia os sarracenos. Reunir uma tripulação e um grupo de homens que pudessem ser de utilidade durante todo o caminho até a Götaland Ocidental não foi o mais difícil.
Pior foi encontrar um navio em boas condições, ainda que ele tivesse no norueguês Harald Dysteinsson um marinheiro que, sem dúvida, podia contornar a maioria das situações. E foi no porto de São João do Acre que encontrou vários navios templários, a que faltavam tripulações e carga, depois de todas as grandes derrotas dos cristãos. E foi assim que a idéia se concretizou. Afinal, com uma carga valiosa e poucos homens dispostos a lutar, a viagem pelo Mediterrâneo constituía um pesadelo. Mas não se a viagem fosse feita com as velas e as cores dos templários. Por isso, ele não era o único a bordo a usar o manto branco dos templários. Sempre que algum navio estranho se aproximava para verificar se os eventuais despojos da abordagem valiam a pena, todos a bordo colocavam o manto branco. Apenas uma vez encontraram pela frente uns piratas que tiveram a má idéia de atacar. Foi no estreito para atravessar do Mediterrâneo para o Grande Mar. Graças à proteção de Deus e ao trabalho muito competente do homem do leme, o norueguês Harald Dysteinsson, conseguiram safar-se do ataque sãos e salvos.
E ao longo da costa de Portugal e da França, a cruz dos templários era tão conhecida que nenhum perigo existia, antes de passar pela Inglaterra e se aproximarem dos países nórdicos. Em Lõdõse, poucos foram os homens que conheciam a estranha vela que estava subindo o rio Gota.
E assim terminou a história da longa viagem por mar, talvez porque o irmão Guilbert, ao final, já demonstrava uma certa impaciência. E continuaram em frente e em silêncio por algum tempo, enquanto Arn esperava pela pergunta seguinte.
O irmão Guilbert estudava o rosto do seu amigo de vez em quando, pensando que este não notava. A superfície, na personalidade de Arn, o irmão Guilbert não encontrava nada de surpreendente. Se lhe tivesse pedido para imaginar como Arn seria, externamente, depois de, realmente, contra todas as expectativas, conseguir sobreviver a vinte anos como templário no Ultramar, ele teria dito que Arn era aquele que ali estava na sua frente. De barba loura que ainda não tinha começado a embranquecer, mas que já havia perdido o seu brilho. Naturalmente, todos os templários usavam barba. Cabelo curto, isso também era normal. Cicatrizes brancas nas mãos e por todo o lado no rosto, marcas deixadas por flechas e por espadas e talvez por algum machado de guerra, por cima da sobrancelha, o que fazia com que o olhar desse olho ficasse um pouco paralisado. Mais ou menos assim, era o que ele teria imaginado. A guerra no Ultramar não era brincadeira nem exatamente uma festa.
Mas havia uma preocupação no interior de Arn que não se deixava perceber tão facilmente com o olhar. Que já tinha terminado o seu serviço na Terra Santa, isso ele já tinha deixado claro um dia antes e eram razões muito válidas as que ele havia indicado. Mas montado no seu cavalo, a um dia de marcha de casa e carregado de dinheiro, o que, sem dúvida, era uma maneira pouco habitual de voltar para casa para um templário, ele devia estar muito mais feliz, mais alegre e cheio de planos ardentes. Em vez disso, havia nele uma grande insegurança, quase que medo, se é que esta palavra poderia ser usada por um templário. Ainda havia muito para entender e para perguntar.
— De onde você recebeu toda essa enorme quantidade de ouro? — perguntou o irmão Guilbert, decidido, assim que passaram por Skara sem entrar na cidade e ele sentiu que estava na hora de recomeçar a conversa.
— Se eu respondesse a essa pergunta neste momento, o mais certo seria você não acreditar em mim, meu caro Guilbert — respondeu Arn, ao mesmo tempo que abaixava a cabeça e olhava para o chão. — Ou, pior ainda, talvez acreditasse que eu teria cometido uma traição. E esse sentimento da sua parte, mesmo que por um curto período de tempo, iria castigar a você e a mim. Acredite na minha palavra. Essa riqueza não foi conseguida de maneira ilegítima. E um dia contarei toda a história para você, quando tivermos bastante tempo, já que a história não é nada fácil de entender.
— Eu acredito em você, claro, mas não me peça novamente para acreditar em você — respondeu o irmão Guilbert, azedamente. — Você e eu nunca mentimos um para o outro por dentro dos muros. E fora dos muros espero eu que continuaremos a falar um para o outro como templários que fomos um dia.
— É dessa maneira mesmo que quero que continue a ser. Nunca mais vou repetir esse pedido de que acredite em mim — observou Arn, quase que murmurando e ainda com o olhar fixado no chão do caminho.
— Muito bem. Então vou perguntar uma coisa mais simples — disse o irmão Guilbert em voz alta e num tom mais alegre. — Estamos caminhando em direção a Arnäs, o burgo do seu pai, não é verdade? Muito bem. Você está chegando com uma bagagem nada ruim, entre outras coisas, com cavalos do Ultramar e um monge que você acabou de comprar em Varnhem. Não, não diga nada não! Eu estou, sim, incluído na sua compra. Confesso que não estou habituado a uma situação dessas, mas a situação é essa mesmo. E os outros homens você também comprou, possivelmente em negociações mais difíceis do que aquela realizada com o padre Guillaume, mas eles irão ser usados para alguma coisa, tal como eu. Você gostaria de me contar alguma coisa a esse respeito? Aliás, quem são todos esses outros aqui no comboio?
— Dois homens, que estão cavalgando cada um uma égua lá à esquerda, são médicos de Damasco — respondeu Arn sem hesitar. — Os dois sentados nas carroças lá mais atrás são desertores do exército do rei Ricardo Coração de Leão. Um é arqueiro de longo alcance e o outro, arqueiro simples, normal. O norueguês Harald Dysteinsson, montado a cavalo e vestido com o manto de sargento dos templários, era meu subordinado, justo como sargento, e dele já falei antes. Os dois sentados nas carroças logo atrás de nós são armênios, negociantes de armas e artesãos de Damasco. E o resto é formado por mestres-de-obras e sapadores de ambos os lados da guerra. Com exceção de Harald, todos eles estão ao meu serviço, porque eu, no momento de sua maior fraqueza, lhes fiz uma oferta que dificilmente podiam recusar. É esta a resposta que você, na realidade, queria ter?
— Sim, e não foi nada pouca a resposta — reagiu o irmão Guilbert, pensativo. — Ao que parece, você pretende construir algo muito grande. Não se importaria de me dizer o que é que todos nós vamos construir?
— A paz — respondeu Arn, decidido.
O irmão Guilbert ficou tão surpreso com a resposta que levou tempo para se recuperar e perguntar de novo qualquer outra coisa.
No segundo dia de viagem, quando o comboio se aproximava de Forshem, o verão chegou com toda a sua força. Era difícil imaginar que toda a região tinha estado abatida por uma tempestade e mau tempo apenas alguns dias antes. As árvores, os galhos e as folhas que haviam caído sobre os caminhos já haviam sido retirados. Nos campos, as colheitas estavam sendo feitas a toda a velocidade.
Por haver paz no país há bastante tempo, não se viam escudeiros armados acompanhando as carroças nas suas idas e vindas. E ninguém perturbava os viajantes, apesar de, mesmo a distância, ser possível imaginar que muitos deles eram forasteiros. Aqueles que estavam trabalhando nos campos endireitavam as costas e observavam, curiosos, as carroças e os cavaleiros com seus cavalos ligeiros, mas voltavam logo para o trabalho.
Ao chegar à igreja de Forshem, Arn dirigiu a sua caravana para uma colina atrás da igreja e fez sinal de parada e descanso. Quando todos se acomodaram, Arn foi até a gente do Profeta, que normalmente ficava junto, e disse que ainda faltava muito tempo para a hora das preces da tarde, mas que para a gente da Bíblia estava na hora de fazer as orações. Em seguida, convidou os dois irmãos armênios, Harald e o irmão Guilbert, para entrarem na igreja. Ao se aproximarem, porém, do portão da igreja, o seu pastor veio correndo dos fundos, gritando que estavam impedidos de entrar na casa de Deus em desordem. Colocou-se diante dos portões de madeira, ornamentados à moda antiga, impedindo o avanço do grupo, agitando os braços na sua frente.
Arn informou tranqüilo quem ele era: filho do senhor Magnus de Arnäs e que todos na sua companhia eram bons cristãos e que eles, depois de uma longa viagem, queriam agradecer a Deus diante do altar e, ao mesmo tempo, oferecer algo em troca. Logo foram admitidos pelo padre, que só naquele momento notou o capuz branco dos cistercienses, e que dois deles estavam usando a cruz vermelha no escudo. Gaguejando suas desculpas, o padre acabou abrindo as portas da igreja.
No entanto, Arn ainda não tinha avançado muito pelo corredor central que levava ao altar e já o padre corria no seu encalço e apontava para a espada, dizendo qualquer coisa, numa estranha mistura de latim e a língua do povo, que a espada era um instrumento abominável na casa de Deus. O irmão Guilbert afastou o padre com um gesto da mão, como se afastasse uma mosca, explicando que a espada de Arn era abençoada, era uma espada de templário, talvez a única jamais vista na igreja de Forshem.
Junto do altar, os cristãos se ajoelharam, acenderam e ofereceram várias velas e fizeram as suas preces. Deixaram também moedas de prata no altar, o que logo tranqüilizou o agitado padre atrás deles. Após alguns momentos, Arn pediu para ser deixado a sós com o seu Deus e todos lhe obedeceram sem comentários, saíram e fecharam as portas da igreja.
Arn rezou por bastante tempo, pedindo apoio e conselho. Isso já havia feito muitas vezes. Mas nunca antes ele tinha sentido algo dentro de si ou visto qualquer sinal de que Nossa Senhora lhe estava respondendo.
Apesar desta permanente falta de resposta, ele jamais se sentiu assaltado pela dúvida. As pessoas enchiam a terra, tal como Deus havia prescrito. A cada momento, Deus e os santos deviam receber milhares de apelos e, se fossem responder a todos, isso só poderia conduzir a uma confusão total. Quantos seriam os apelos loucos apresentados pelas pessoas a cada momento, pedindo sorte nas caçadas, sorte nos negócios, a felicidade de ter um filho ou de continuar na vida terrena?
E quantos milhares de vezes Arn não tinha rezado para Nossa Senhora, pedindo proteção para Cecília e para o filho de ambos? Quantas vezes ele não havia pedido por sorte na guerra? A cada enfrentamento na Guerra Santa onde todos com os mantos brancos, sentados nos seus cavalos, joelhos contra joelhos, esperando o momento de avançar para a morte ou para a vitória, Nossa Senhora não teve de ouvir esses apelos, acompanhados de orações. Quase todas as orações tinham algum tipo de caráter egoísta.
Mas desta vez Arn pedia a Nossa Senhora para guiá-lo e aconselhá-lo sobre o que podia e devia fazer com todo o poder que trazia para casa. Também Lhe pedia para salvá-lo de cair e desmoronar e se tornar ganancioso, e para evitar nele a tentação de se julgar um combatente mais poderoso que os seus companheiros, e que não deixasse que todo o ouro e os conhecimentos que no momento ele detinha nas suas mãos fossem por água abaixo.
E, então, pela primeira vez desde sempre, Nossa Senhora respondeu aos apelos de Arn, de modo que ele conseguiu ouvir dentro de si a voz clara Dela e ver a Sua figura através da luz que, justo naquele momento, atingiu o seu rosto, fascinante, vinda de uma das pequenas janelas de madeira, bem altas, da igreja. Não se tratava de nenhum milagre. Muitas eram as pessoas que testemunhavam ter recebido resposta às suas orações. Para Arn, no entanto, era a primeira vez que isso acontecia. E ele sabia, agora, com toda a certeza, o que devia fazer, visto que Nossa Senhora lhe tinha dito o que devia ser feito.
Restavam apenas duas paradas no caminho para o norte, de Forshem para o castelo de Arnäs. A meio caminho, pararam para um curto descanso e porque era a hora das orações ao Profeta. Os cristãos deitaram-se para dormir um pouco.
Mas Arn andou até uma clareira na floresta e deixou que a luz de Deus filtrada através das folhas das faias atingisse as cicatrizes do seu rosto. Pela primeira vez durante a longa viagem, ele sentiu a paz dentro de si. Isto porque, finalmente, tinha entendido a intenção de Deus em poupar por tanto tempo a sua vida.
Isso era o mais importante, o mais decisivo. E, nesse momento, ele não se deixou perturbar por aquilo que vinha a seguir, em segundo lugar.
Há algum tempo corria um estranho rumor na Götaland Ocidental. Um estranho navio forasteiro tinha sido avistado primeiro em Lõdõse, no rio Gota, e depois em direção ao norte, até a cascata de Trollen. Alguns forasteiros tinham tentado puxar o navio para cima da queda-d'água com muitos bois e puxadores contratados. Mas acabaram sendo obrigados a desistir e a voltar a descer pelo rio até a feira comercial de Lõdõse.
Ninguém tinha entendido a intenção de tentar puxar um navio daqueles para o lago Vänern. Alguns dos escudeiros noruegueses no forte de Arnäs acharam que o navio certamente estava em alguma missão no lado norueguês do lago Vänern, que o rei Sverre, da Noruega, mais uma vez, conseguira realizar a mais estranha das campanhas de guerra chegando de navio onde ninguém o esperava. Mas naquele momento não havia muita guerra na Noruega, ainda que também não houvesse exatamente uma paz bem estabelecida.
Ninguém também podia dizer, com certeza absoluta, que se tratava de um navio de guerra. O rumor dizia, sim, que a grande vela do navio trazia uma cruz vermelha tão grande que até mesmo a longa distância era possível ver essa cruz antes de qualquer outra coisa. Essa marca era desconhecida totalmente na Escandinávia, em nenhum outro navio tinha sido vista.
Durante alguns dias, a partir da torre de Arnäs, o pessoal ficou especialmente atento sobre as águas tranqüilas do lago Vänern, até que chegaram os três dias de tempestade. Mas aí nenhum navio podia estar navegando na área, e como era tempo de paz na Götaland Ocidental, todo mundo voltou para os seus trabalhos normais e, em especial, os já atrasados trabalhos com a colheita do feno.
Um homem, no entanto, não se cansou de ficar sentado lá em cima na torre, sofrendo com o lacrimejar dos seus olhos de velho, o olhar fixo na superfície brilhante das águas sob o sol forte. Era o senhor de Arnäs, pois era isso que ele era, até que a morte o levasse. Magnus Folkesson. Há três invernos, sofrera um derrame e desde então não falava direito e estava paralisado do lado esquerdo, desde o rosto até os dedos dos pés. Foi deixado sozinho, vivendo na torre, com duas escravas, como se tivessem vergonha da sua presença entre as gentes. Ou como se o seu filho mais velho, Eskil, achasse ruim ver o seu pai objeto de piadas pelas costas. Mas o velhote continuava lá em cima, todos os dias, de modo que todos em Arnäs podiam vê-lo. O vento revolvia o seu cabelo branco já sem viço, mas a sua paciência parecia não ter fim. Entre os homens, havia gracejos, a respeito do que o velhote acreditava poder ver lá de cima.
Esse escárnio podia custar caro a eles. O senhor Magnus tinha tido uma premonição. Estava esperando por um milagre, um milagre de Nossa Senhora. E foi ele que, lá de cima, com a ampla visão que tinha, viu primeiro entre todos o que estava para acontecer.
Três filhos de escravos vinham correndo pela estrada ainda molhadas lamacenta que unia Forshem a Arnäs. Gritavam alto e agitavam os braços e todos os três estavam dispostos a chegar primeiro por saber que o pobre que primeiro trouxesse notícias importantes ganhava uma moeda de prata.
Quando chegaram à longa ponte levadiça de madeira, que levava sobre o brejo até a torre, o garoto mais alto e mais forte passou uma rasteira, primeiro em um e depois no outro dos companheiros, e chegou afogueado e de rosto vermelho em primeiro lugar, enquanto os outros dois vinham longe e andando.
Os garotos já tinham sido vistos a distância, antes de chegarem à ponte, e Svein, o chefe dos escudeiros, já tinha sido chamado para ir ao encontro do primeiro garoto a chegar, apanhado logo no portão para a torre, pelo pescoço, quando tentava entrar. Svein obrigou o garoto escravo a se ajoelhar numa poça de água, manteve-o na posição com mão de ferro e só então mandou-o falar. Mas a informação não foi fácil de conseguir, talvez porque o aperto doesse demais no garoto e este se encolhesse, talvez porque os outros dois tivessem chegado nesse momento e se jogado de joelhos no chão, falando um em cima do outro, ao mesmo tempo, tentando contar o que haviam visto.
O escudeiro Svein deu uma bofetada em cada um dos outros dois, disse para todos ficarem em silêncio e fez a mesma pergunta a cada um deles. Assim foi possível, finalmente, conseguir uma informação concreta do que eles tinham visto. Um comboio constituído por muitos guerreiros e por carroças pesadas puxadas por bois estava se aproximando de Arnäs, vindo de Forshem. Não eram sverkerianos e também ninguém com ligações com os sverkerianos, mas também não eram folkeanos nem erikianos. Eram de um país estrangeiro.
Houve alarme geral de cometas e escudeiros correndo na direção das cocheiras, e os cocheiros já começavam a encilhar os cavalos. Alguém mandou acordar o senhor Eskil, que nessa hora do dia costumava fazer a sua sesta, e outros foram mandados para a ponte levadiça para que ela fosse levantada, para que os forasteiros não pudessem entrar em Arnäs, antes de se saber se eram amigos ou inimigos.
Logo o senhor Eskil estava montado no seu cavalo, junto com dez escudeiros, perto da ponte levadiça já levantada, observando atentamente o outro lado do brejo onde em breve os forasteiros iriam aparecer. Já se estava no fim da tarde e, por isso, os homens do lado de Arnäs estavam recebendo o sol nos olhos, o poente ficava no sul. Quando os forasteiros chegaram ao outro lado, ficou difícil ver quem eram na contraluz. Alguém falou ter visto monges; outros, guerreiros estranhos.
Os forasteiros lá longe pareciam desorientados ao descobrir que a ponte estava levantada e que havia homens armados do outro lado. Mas aí um dos cavaleiros de manto branco e de veste branca com a cruz vermelha avançou sozinho e lentamente na direção da ponte no momento ainda levantada.
O senhor Eskil e seus homens esperavam em silêncio completo, tensos, enquanto o cavaleiro barbudo e de cabeça descoberta se aproximou. Alguém comentou que o forasteiro estava montado, estranhamente, num cavalo muito magro. Dois dos escudeiros desceram dos cavalos para armar os seus arcos.
Então, aconteceu aquilo que alguns consideraram posteriormente como um milagre. O velho senhor Magnus gritou qualquer coisa lá do alto da torre e, mais tarde, eles podiam jurar ter ouvido o senhor Magnus exclamando nitidamente palavras de que o senhor devia ser louvado, que o filho pródigo, enfim, tinha voltado da Terra Santa.
Para Eskil, a história era outra. Tal como explicou mais tarde, ele compreendeu no momento em que ouviu dizer por um dos escudeiros que o forasteiro estava montado num cavalo magro, de quem se tratava. Relembrou, então, as boas e dolorosas lembranças da sua juventude, em que havia cavalos chamados de magros e que só serviam para mulheres e quais eram os homens que montavam esses cavalos.
Com uma voz onde alguém achou perceber tremores e fraquezas, o senhor Eskil mandou abaixar a ponte levadiça para deixar entrar o forasteiro. Precisou dar a ordem duas vezes antes de ser obedecido.
Depois, o senhor Eskil desceu do cavalo e se ajoelhou na terra, numa prece diante da ponte sendo abaixada, gemendo, e deixando que o sol poente logo atingisse a todos nos olhos.
O cavalo do cavaleiro de branco pareceu que dançava em cima da ponte, muito antes de chegar com as patas no chão. O cavaleiro se jogou de cima do cavalo com um movimento que ninguém tinha visto antes e logo, rapidamente, também de joelhos, já estava diante do senhor Eskil. E os dois se abraçaram e era possível ver as lágrimas escorrendo pelo rosto de Eskil.
Se era um milagre simples ou duplo, era possível hesitar. A incerteza era saber se foi nesse momento que o velho senhor Magnus voltou a falar de maneira sensata. Mas com certeza se sabia que Arn Magnusson, o guerreiro de que apenas as lendas haviam contado durante tanto tempo, estava agora de volta da Terra Santa, depois de tantos anos ausente.
Foi um dia de muita confusão em Arnäs. Quando a dona da casa, Erika Joarsdotter, correu para dar as boas-vindas aos convidados como era tradição e viu Arn e Eskil andando pela praça abraçados, de mãos nos ombros, ela deixou cair tudo o que tinha nas mãos e correu de braços abertos. Arn, então, largou Eskil e se ajoelhou para respeitosamente saudar a sua madrasta, mas quase que foi derrubado, porque ela se jogou no seu pescoço, abraçando-o e beijando-o sem reservas como só uma mãe podia fazer. Todos puderam ver que o guerreiro recém-chegado estava desabituado dessas tradições.
As carroças foram puxadas para dentro do burgo, gemendo e estalando, as arcas pesadíssimas e uma grande quantidade de armas foram descarregadas e levadas para as salas da torre. Do lado de fora dos muros, rapidamente, levantou-se um acampamento de várias barracas, uma vela de barco e muitos tapetes importados. Muitas mãos voluntárias ajudaram a montar uma cerca para todos os cavalos do Senhor Arn. Pequenos animais foram trazidos para o matadouro e os cozinheiros começaram logo a acender os braseiros. À volta de Arnäs logo se espalhou aquele cheiro gostoso cheio de promessas de uma noite bem festejada.
Ao cumprimentar todos os escudeiros, entre os quais alguns se recusaram a dobrar o joelho diante dele, Arn, de repente, perguntou pelo seu pai, com o rosto contraído, como se se preparasse para uma lamentável notícia. Eskil respondeu, então, que o pai deles há muito tempo que tinha perdido o sentido das coisas e que vivia lá em cima, isolado, no topo da torre. Arn seguiu logo para a torre, a passos largos e com o manto branco com a cruz vermelha envolvendo o seu corpo e todos aqueles que estavam no seu caminho se afastavam rápido para o deixar passar.
Lá em cima, no espaço mais elevado da torre, Arn foi encontrar o seu pai num estado lastimável, mas de semblante feliz. Ele estava encostado ao parapeito do terraço, com uma serva ao lado do seu corpo ainda paralisado. E ainda com uma bengala na mão saudável. Arn abaixou a cabeça em sinal de respeito e beijou a mão saudável do pai para, em seguida, abraçá-lo carinhosamente. O pai estava magro como uma criança, o seu braço saudável estava tão fino quanto o seu braço paralisado e cheirava mal. Arn ficou, então, sem saber o que dizer, quando o pai, se esforçando muito, se inclinou na direção do filho e murmurou:
— Os anjos do Senhor... devem estar felizes... e a boa vitela, será servida à mesa.
Arn ouviu nitidamente as palavras ditas pelo pai e, sem dúvida, elas faziam sentido, visto que diziam respeito, claramente, às Sagradas Escrituras e ao texto sobre a volta do filho pródigo. Toda a conversa de seu pai ter perdido o juízo era, portanto, infundada. Aliviado, Arn levantou-o nos braços e começou dando uma volta pelo terraço para saber em que condições seu pai estava vivendo. Ao ver o quarto escuro da torre, a situação lhe pareceu pior do que receava. Franziu a testa ao cheiro azedo de urina e restos de comida, virando-se e seguindo pela escada enquanto falava para o seu pai como um homem no seu juízo perfeito como qualquer outro, de um jeito que há muitos anos ninguém falava com ele. E disse ainda que, num chiqueiro assim, o senhor de Arnäs não iria sobreviver por muito tempo.
Na escada estreita em caracol em que Arn descia, ele encontrou pela frente o seu irmão Eskil, que subia devagar, já que esse tipo de escada não era apropriada para homens grandes e bastantes. Eskil teve de se virar e seguir descendo, com Arn atrás, levando o seu pai como um saco no ombro, enquanto usava palavras duras a respeito do que devia ser feito.
Lá fora, na praça, Arn passou o pai para os braços. Seria desrespeitoso continuar levando o pai como se fosse um amarrado de feno no ombro. Eskil mandou as escravas da casa trazerem mesa e cadeira entalhada, com almofada de penas, para uma das salas menores da casa de refeições perto do muro sul, junto da sala de banquetes. Arn gritou, então, que o quarto da torre onde o pai estava precisava ser lavado de alto a baixo. E foram muitos os olhos que seguiam, espantados, os três homens atravessando o pátio do castelo.
A cadeira ornamentada chegou logo à sala indicada e foi nessa cadeira que Arn, carinhosamente, pousou o seu pai, ficando diante dele, as pernas dobradas, de joelhos no chão. Arn pegou, então, o rosto do pai nas suas mãos, fixou o seu olhar nos olhos dele e lhe disse que sabia muito bem que o pai entendia tudo como antigamente. Eskil ficou em silêncio, atrás de Arn, sem dizer uma palavra.
Mas o velho senhor Magnus parecia tão excitado e ofegante que era até de recear que tivesse mais um novo derrame. Arn retirou as mãos do rosto do pai, levantou-se e dirigiu-se a passos largos, passando pelo seu irmão indeciso, para o pátio do burgo e deu uma ordem numa língua que ninguém entendia.
Em seguida, chegaram dois homens entre os muitos estrangeiros que vieram no séquito de Arn. Ambos estavam vestidos com túnicas escuras e usavam turbantes azuis na cabeça. Um deles ainda era jovem e o outro, já idoso. E seus olhos eram negros como carvões.
— Esses dois homens — disse Arn, lentamente, para seu irmão, mas também para seu pai — chamam-se Abraham e Josef. São meus amigos da Terra Santa. E são ambos mestres em medicina.
Explicou, depois, qualquer coisa numa linguagem estranha para os dois homens de olhos negros que acenaram ter entendido e, cautelosamente, mas sem exagerado respeito começaram fazendo uma avaliação das condições do senhor Magnus. Examinaram o branco dos olhos, auscultaram a sua respiração e o seu coração, bateram com um pequeno bastão no seu joelho direito, de modo que o seu pé teve uma reação expressiva para a frente, mas depois fizeram o mesmo no joelho esquerdo e aí apenas conseguiram uma ligeira reação, na qual eles pareceram especialmente interessados. A seguir, passaram a levantar e a deixar cair o braço esquerdo, mais fraco, do senhor Magnus. E o tempo todo ficaram falando entre si.
Eskil, que estava atrás de Arn, sentiu-se deslocado e indeciso, vendo os dois forasteiros examinarem o senhor Magnus como se se tratasse de qualquer escravo. Mas Arn fez sinal de que tudo estava sendo feito como devia ser e, depois, trocou algumas palavras naquela língua estranha que ninguém entendia com os dois médicos que, em seguida, se retiraram fazendo várias vênias na direção de Eskil.
— Abraham e Josef deram boas notícias — disse Arn quando ele e Eskil ficaram a sós. — O nosso pai já está muito cansado hoje, mas amanhã os tratamentos médicos vão começar. E com a ajuda de Deus o nosso pai vai poder andar e falar.
Eskil não respondeu. Era como se a primeira grande alegria do reencontro com Arn já tivesse se toldado e como se ele tivesse que se envergonhar por não ter tratado bem o pai. Arn olhou indagador para o seu irmão e pareceu ter percebido seus sentimentos escondidos. De repente, abriu os braços e logo, mais uma vez, eles dois se abraçaram. Ficaram assim durante um tempo sem dizer palavra. Eskil, porém, que parecia se incomodar mais que Arn com o silêncio, resolveu, finalmente, rompê-lo dizendo que era um irmãozinho bem magro que tinha chegado para o banquete.
Arn respondeu, rindo, que, pelo que ele podia ver, Eskil tinha conseguido manter a fome bem longe dos portões de Arnäs e revelado ser parente do avô deles, o chamado conde Folke, o Gordo. Eskil explodiu numa gargalhada, simulando estar indignado com seu irmão mais jovem e sacudindo-o de um lado para o outro. E Arn se deixou sacudir, rindo também da brincadeira.
Quando a brincadeira terminou, Arn puxou pelo irmão, e os dois ficaram em frente do pai, que se mantinha quieto com o braço esquerdo pendente, mas sentado na sua cadeira preferida, com entalhes vikings. Arn se ajoelhou e puxou Eskil para o seu lado, de modo que as cabeças dos dois se juntaram diante do pai. E, então, Arn falou, num tom de voz absolutamente normal e não como se fosse para um homem que tivesse perdido o juízo.
— Eu sei que o senhor ouve e entende tudo como antes, querido pai. Não precisa me responder agora, porque se o senhor se esforçar demais vai ficar pior. Mas amanhã o tratamento médico vai começar e a partir de então ficarei aqui sentado na sua frente, contando tudo o que aconteceu na Terra Santa. Mas agora eu e Eskil vamos embora, para que ele me conte tudo o que aconteceu aqui em casa. É muito aquilo que, impacientemente, quero saber.
E com isso os dois irmãos fizeram uma vênia diante do pai como antigamente e ambos pareceram ver um pequeno sorriso no seu rosto deformado, mas ainda iluminado por um fogo que estava longe de se apagar.
Ao sair da sala, Eskil chamou uma das escravas da casa que passava por perto e disse para ela que o senhor Magnus precisava de cama, água e urinol na sua sala e que devia ser decorada com folhas de bétula.
No pátio do castelo as pessoas e os escravos andavam numa roda-viva, com muita pressa, realizando todos os trabalhos para a inesperada festa de boas-vindas que tinha de ser preparada rapidamente e melhor do que qualquer outra festa em Arnäs. Mas aqueles que passavam perto dos dois irmãos folkeanos, que agora, abraçados, se aproximavam do portão principal, evitavam qualquer intromissão, sentindo medo. Dizia-se que o senhor Eskil era o homem mais rico de toda a Götaland Ocidental. E todos aprendiam a recear o poder que havia na prata e no ouro, se bem que o próprio senhor Eskil atraía muita gente, mais pelo ridículo do que pelo terror. Mas a seu lado estava agora o irmão, o desaparecido guerreiro Arn que as lendas tinham feito muito mais alto e muito mais forte do que ele era na realidade. Todos olhavam, no entanto, para a sua maneira de caminhar, suas cicatrizes no rosto, sua maneira de portar a espada e de vestir a malha de aço como se fosse um vestuário habitual. E viam que um segundo poder tinha chegado a Arnäs, o poder da espada que a grande maioria das pessoas sensatas receava mais do que o poder do dinheiro.
Eskil e Arn saíram pelo portão e caminharam na direção do acampamento que estava ficando quase pronto pelo trabalho dos estrangeiros que vieram na companhia de Arn. E foi Arn que explicou que eles precisavam apenas cumprimentar todos os seus acompanhantes, que eram homens livres e não seus escravos. Primeiro, convidou Harald Dysteinsson para se aproximar e contar para Eskil como os dois tinham combatido juntos por quase quinze anos. Assim que Eskil ouviu o nome norueguês, franziu a testa como se procurasse se lembrar de alguma coisa na sua mente. Perguntou depois se Harald, eventualmente, tinha parentes na Noruega com o mesmo nome, e Harald confirmou, dizendo que o homem era seu avô e que se chamava Dystein Moyla. Eskil continuou pensativo, mas se apressou a convidar Harald para a festa de boas-vindas à noite na casa grande e salientou que não iria faltar cerveja nórdica em quantidades bastantes, uma coisa que ele esperava que fosse alegrar um amigo que veio de longe. Harald se iluminou, exclamando palavras tão calorosas, quase como bênçãos, que até ele rápido deixou cair o tema dos seus ancestrais.
Em seguida, foram cumprimentar o velho monge, o irmão Guilbert, cuja coroa de cabelos era totalmente branca e cuja careca reluzente mostrava que ele não precisava mais raspar a sua tonsura. Arn contou resumidamente que o padre Guillaume de Varnhem tinha dado ao irmão Guilbert permissão para ele trabalhar em Arnäs o tempo que fosse preciso. Eskil se espantou ao tomar a mão do monge, sentindo um punho forte, o punho de um ferreiro, com a resistência do aço.
Mais homens que falassem a língua dos nórdicos não havia no séquito de Arn. E Eskil logo ficou em dificuldades para entender os nomes que Arn citava diante de homens que faziam as suas vênias, mas falavam linguagens que os ouvidos de Eskil umas vezes entendiam como sendo o francês e às vezes outra língua qualquer.
Arn gostaria de apresentar, em especial, para o seu irmão dois homens de pele morena. Os dois eram irmãos e tinham cruzes de ouro ao pescoço. E se chamavam Marcus e Jacob, explicou Arn, acrescentando que ambos seriam de grande ajuda quando fosse preciso cons— "" truir o que quer que fosse como nos negócios.
O pensamento de fazer bons negócios estimulou Eskil, mas, na realidade, ele já estava começando a sentir um certo desagrado entre aqueles forasteiros cuja língua ele não podia entender, mas cujas expressões desconfiava que podia ler muito bem. Chegou à conclusão de que eles falavam coisas nada respeitáveis sobre a sua avantajada barriga.
Arn pareceu entender também o desconforto de Eskil, de modo que resolveu dispensar todo mundo e levar o seu irmão de volta, na direção do pátio do castelo. Ao entrar pelo portão, novamente, Arn, de repente, ficou sério e pediu que os dois se encontrassem a sós na sala de contas da torre para uma conversa que só aos ouvidos dos dois interessaria. Mas primeiro tinha que resolver uma pequena coisa que seria muito desagradável esquecer antes do banquete. Eskil acenou aceitando, mas, um pouco perplexo, encaminhou-se para a torre.
Arn caminhou, então, em passos largos para a cozinha maior, feita de tijolos, que estavam como antes, quando ele próprio ajudara na construção. Ficou satisfeito em notar que aqui e ali tinham sido feitos reparos e em certos lugares foi fortalecida a construção que, de forma alguma, podia ser considerada decadente.
Lá dentro ele foi encontrar, como esperado, Erika Joarsdotter, usando um longo avental de couro sobre uma camisa de mulher, de linho, mas totalmente entregue ao desempenho de suas tarefas como uma comandante montada dando ordens para as suas servas da casa e criadas. Ao descobrir Arn, ela pousou logo uma grande bandeja com frutas vermelhas que tinha nas mãos e o abraçou, laçando-o pelo pescoço pela segunda vez. E desta vez ele deixou que isso acontecesse, sem corar. Só havia mulheres por perto.
— Você sabe, meu querido Arn — disse Erika, com a sua fala meio difícil de entender, por falar metade pelo nariz e metade pela boca, e que Arn há muito tempo não ouvia —, quando você uma vez chegou aqui, agradeci a Nossa Senhora por ela ter mandado um anjo para Arnäs. E agora você está de volta, de manto branco e malha de aço, com o sinal de Nosso Senhor. Na realidade, é como se fosse um anjo da guerra e de Deus!
— Aquilo que as pessoas vêem e aquilo que Deus vê nem sempre são a mesma coisa — murmurou Arn, constrangido. — Temos muito o que conversar. E isso é o que vamos fazer, pode estar certa, mas no momento meu irmão espera por mim. Só queria lhe pedir um pequeno favor para esta noite.
Erika abriu os braços, alegre e satisfeita, dizendo qualquer coisa a respeito de algum favor a fazer à noite. E o disse, com um certo atrevimento, que Arn achou não entender muito bem, mas que fez as outras mulheres, no meio da pressa em realizar as suas tarefas, soltarem umas risadinhas mal disfarçadas. Arn fingiu não notar nada, ainda que tivesse compreendido a intenção ao menos pela metade, mas pediu rápido para que da comida servida no acampamento fora dos muros fizesse parte as carnes de cordeiro, vitela e veado, mas nada de porco, nem do selvagem, nem da espécie mais gorda e mais tenra. Como se o seu pedido fosse difícil de entender, Arn se apressou a acrescentar que na Terra Santa não existia a carne de porco e que todos de lá apreciavam muito mais o carneiro. E Arn pediu também que junto com a cerveja fosse servida, também, uma boa quantidade de água fresca como bebida para a refeição.
Aparentemente, Erika Joarsdotter achou esse pedido meio estranho. Ficou parada, e pensativa por um curto momento, as faces rosadas pelo calor da cozinha, e ofegante na seqüência de tanta pressa, o peito dela subindo e descendo. Mas logo prometeu cumprir à risca os pedidos de Arn e saiu correndo para comandar novos abates e mais cozinheiros.
Arn também saiu correndo em direção à torre cujo portão estava sendo guardado por dois escudeiros que olharam, paralisados, para o seu manto branco e veste de malha, quando ele se aproximou. Mas esse olhar nos homens, vendo chegar um templário na sua direção, já Arn conhecia e contava com ele.
Foi encontrar o seu irmão um pouco impaciente na sala de contas e, sem explicações, retirou o seu manto branco e a malha de aço, dobrando-os conforme a ordem recomendada pelo Santo Regulamento. Colocou tudo, cautelosamente, sobre um banco, sentou-se e pediu a Eskil, com um gesto, para se sentar também.
— Você tornou-se um homem habituado a comandar — murmurou Eskil, entre divertido e irritado.
— Tudo bem. Eu estive no comando na guerra durante muitos anos e vai levar tempo para me habituar de novo com a paz — respondeu Arn, fazendo o sinal-da-cruz e parecendo até que estava fazendo uma prece curta para si mesmo, antes de continuar. — Você é o meu querido irmão mais velho. E eu sou o seu amado irmão mais novo. A nossa amizade jamais se rompeu, e sentimos a falta um do outro, uma falta muito grande. Não voltei para casa para comandar, mas para servir.
— Você continua soando como se fosse um deão quando fala ou talvez melhor como um clérigo dinamarquês. Acho que não devemos exagerar com essa questão de servir. Afinal, você é meu irmão — respondeu
Eskil, com um gesto exagerado de boas-vindas, por cima da mesa e na brincadeira.
— Agora chegou o momento que eu mais receava ao pensar por longo tempo na minha volta para casa — continuou Arn, muito sério e mostrando que não era mais hora para brincadeiras. Eskil entendeu e ficou compenetrado.
— Já sei que o nosso amigo de infância, Knut, é o rei, sei que o nosso tio, Birger Brosa, é conde com as funções de primeiro-ministro, e já sei que durante muitos anos tem havido paz neste nosso reino. Portanto, vamos agora falar do que não sei...
— Você já sabe do mais importante, mas como é que pôde saber de tudo isso, durante essa sua longa viagem? — interrompeu Eskil, que pareceu realmente curioso.
— Eu passei por Varnhem — respondeu Arn, resoluto. — Tínhamos pensado primeiro em velejar o tempo todo até aqui, mas não pudemos passar pelas quedas de Trollen. O barco era grande demais...
— Quer dizer que foi você que chegou de barco com a cruz nas velas!
— É verdade. Trata-se de um barco dos templários com grande capacidade de carga. Sem dúvida, será de grande utilidade. Mas falaremos disso mais tarde. Agora, continuando, fomos obrigados a vir por terra de Lõdõse e aí achei que seria bom pararmos em Varnhem. Foi lá que obtive as informações e de onde trouxe o irmão Guilbert e os cavalos que você viu no cercado. Mas agora eis a minha pergunta: Cecília Algotsdotter ainda vive?
Eskil olhou fixamente para o seu irmão mais novo que, realmente, parecia sofrer diante da esperada resposta, ao mesmo tempo que com as suas mãos cheias de cicatrizes segurava firmemente o tampo da mesa, tenso como se estivesse esperando por chicotadas. Assim que Eskil deixou passar a sua perplexidade diante dessa pergunta, num momento em que havia tantas outras coisas mais importantes para falar, ele, primeiro, rompeu numa longa gargalhada. Mas o olhar de fogo de Arn fez com que escondesse logo a boca com uma das mãos, se compusesse e rápido ficasse atento e sério.
— Você pergunta antes de mais nada sobre Cecília Algotsdotter?
— Tenho outras perguntas a fazer que são tão importantes para mim quanto essa. Mas, primeiro, essa!
— Está bem, está bem — suspirou Eskil, demorando um pouco com a resposta e sorrindo de uma maneira que fez lembrar a Arn os tempos da juventude de Birger Brosa. — Muito bem... Cecília Algotsdotter vive.
— Ainda está solteira, fez os seus votos no convento?
— Ela ainda continua solteira e é yconoma no convento de Riseberga.
— Quer dizer então que também não fez os seus votos. É ela que trata dos negócios do convento. E onde é que fica Riseberga?
— A três dias de viagem a cavalo, mas você não deve ir até lá — disse Eskil, irritantemente.
— E por que não? Há inimigos por lá?
— Não, é evidente que não. Mas a rainha Blanka esteve lá por algum tempo e está agora a caminho de Nas, que é o castelo real...
— Me lembro que estive lá!
— Sim, sim, é verdade. Foi quando Knut matou Karl Sverkersson, uma coisa que a gente não devia esquecer, mas esquece com facilidade. Mas agora, de qualquer forma, a rainha Blanka está a caminho de Näs e, tenho certeza, Cecília está junto com ela. Essas duas são muito difíceis de se verem separadas. Pior do que separar o trigo do joio. Não, fique calmo e não me olhe assim desse jeito!
— Eu estou calmo! Absolutamente calmo!
— Sim, sim, estou vendo, claramente. Então, continue escutando, calmamente. Daqui a dois dias vou viajar para uma reunião do conselho em Näs e para me encontrar com o rei, o conde e um monte de bispos. Acho que todos em Näs ficariam muito satisfeitos se você viesse comigo.
Ao ouvir o que disse o irmão, Arn caiu de joelhos e juntou suas mãos numa prece, e Eskil achou que não havia razão para o interromper, ainda que sentisse uma estranha sensação diante desse hábito de se ajoelhar sob qualquer pretexto. Em vez disso, ele se levantou, pensativo, como se estivesse considerando uma idéia, abanou a cabeça e desapareceu silenciosamente pela escada que dava para a sala de armas. Aquilo que ele pensava pegar, poderia fazê-lo agora ou mais tarde. Mas já tinha tomado a sua decisão.
Quando voltou, descendo a escada cautelosamente para que Arn não fosse incomodado, Eskil se sentou de novo, esperando até achar que o murmúrio das preces já tinha demorado o suficiente. Aí se manifestou.
Logo Arn se levantou, com os olhos iluminados pela felicidade, o que pareceu a Eskil mais uma manifestação de infantilidade. Além disso, ele achava que aquela expressão do rosto, animalesca, não tinha nada a ver com um homem vestido com uma caríssima malha de aço, da cabeça aos pés, com estes defendidos por botas de aço com esporas de ouro.
— Olhe aqui! — disse Eskil, jogando uma túnica para Arn. — Se é necessário que você continue a usar essas vestes de guerreiro, então, que essas vestes sejam as das cores que, a partir de agora, você deve honrar.
Sem uma palavra, Arn despiu a sua veste e, depois de examinar a posição correta do leão folkeano sobre as três coroas, acenou que sim como se fosse para si próprio, vestindo em seguida a nova peça. Eskil levantou-se, então, com um manto azul nas mãos e deu uma volta na mesa. Por momentos, olhou Arn bem nos olhos. E, em seguida, colocou o manto folkeano em cima dos ombros dele.
— Seja bem-vindo pela segunda vez. Não apenas a Arnäs, mas também para as nossas cores — disse.
Quando Eskil, para tudo confirmar, quis dar um abraço no seu irmão que ele, de maneira tão simples, quis recuperar para a família e para o direito à herança, Arn voltou a se ajoelhar e a rezar. Eskil suspirou, mas viu como Arn com um gesto habitual levantou o manto do lado esquerdo, de modo a deixar a espada bem à disposição. Era como se ele, a qualquer momento, quisesse estar preparado para puxar pela espada.
Desta vez, porém, Arn não ficou tanto tempo na sua reza, e assim que terminou, foi ele que quis dar um longo abraço em Eskil.
— Eu me lembro da lei sobre peregrinos e penitentes, entendo o que você fez. Juro, e isso é um juramento de templário, de que honrarei sempre essas cores — disse Arn.
— Para mim, basta que você jure como folkeano. Aliás, de preferência como folkeano — respondeu Eskil.
— Muito bem, demos isso por feito! — riu Arn, abrindo ambos os braços e o manto folkeano como se quisesse imitar uma ave de rapina e disso ambos riram muito.
— E agora, diacho, está na hora do primeiro gole de cerveja, pela primeira vez, depois de tantos anos, na cor azul! — gritou Eskil, em alto e bom som, mas logo se arrependeu ao ver como Arn estremeceu diante daquela linguagem menos religiosa. Mas para afastar o quanto antes o embaraço da situação, Eskil levantou-se e foi até uma das brechas da torre e rugiu uma ordem que Arn não ouviu direito, mas que entendeu tratar-se de mandar trazer cerveja.
— E agora vamos para a minha segunda pergunta. Desculpe o meu egoísmo, já que outra coisa poderia ser mais importante para o nosso país e para Arnäs, mas ainda assim essa é a minha segunda pergunta — disse Arn. — Quando viajei para cumprir a minha penitência, Cecília Algotsdotter estava esperando uma criança...
Era como se Arn não se atrevesse a completar a pergunta. Eskil, que sabia ter uma boa notícia para lhe dar, demorou um pouco a sua resposta, dizendo estar com a garganta muito seca para falar desse assunto, antes de a molhar com cerveja. E, por isso, levantou-se de novo e foi até a abertura de tiro na torre gritando palavras que agora Arn entendeu nitidamente serem as do pedido de cerveja para ser servida. Não precisava repetir o pedido. Afinal, já se ouviam passos de pés descalços subindo pela escada em caracol da torre. E logo já estavam em frente deles, espumando, dois canecos de madeira, enquanto a gentil escrava que os trouxe desaparecia como se fosse apenas um espírito.
Os dois irmãos levantaram os respectivos canecos. Eskil bebeu por muito mais tempo, à maneira masculina, do que Arn, o que não espantou nem um nem outro.
— Muito bem, agora sim vou dizer para você como está a situação a respeito do assunto — afirmou Eskil, aproximando-se da mesa e puxando uma das pernas para cima da outra, colocando o caneco da cerveja em cima do joelho levantado. — Ah, sim, a respeito do seu filho...
— Meu filho? — interveio Arn.
— Sim, seu filho. O nome dele é Magnus. Cresceu em casa do irmão do avô dele, Birger Brosa. Não adotou o seu nome nem o nome de Birgersson. Ele chama-se Magnus Mâneskõld e traz uma lua no escudo, junto do nosso leão. Ficou ligado à família por intervenção judicial. E com isso é um folkeano puro. Ele sabe que é seu filho e treina bastante para se tornar o melhor arqueiro de toda a Götaland Oriental, já que ouviu dizer muitas vezes que você é excepcional. Que é que você quer saber mais sobre ele?
— De quem ele soube a respeito da minha habilidade como arqueiro? E ele também sabe quem é a sua mãe? — perguntou Arn, tão constrangido quanto excitado.
— Cantam-se cantigas a seu respeito, meu querido irmão, e contam-se lendas também. Isso acontece em todas as assembléias dos gotas como daquela vez em que você duelou contra... Como é que ele se chamava?
— Emund Ulvbane.
— Isso mesmo. Era esse o nome dele. E dos monges, também se conta uma coisa ou outra. Como no caso de quando você liderou vinte mil templários para uma vitória perto da Montanha dos Porcos, onde cem mil infiéis caíram pela espada, para não falar...
— Montanha dos Porcos! Na Terra Santa?
De repente, Arn explodiu numa grande gargalhada, impossível de conter. Repetiu para si mesmo as palavras Montanha dos Porcos, na língua dos gotas, GrisarnasBerg. E voltou a rir ainda mais, levantando mais uma vez o seu caneco de cerveja na direção de Eskil e tentando beber como um homem normal, mas parou logo na garganta. Depois de enxugar a boca, pensou um pouco e, então, seu rosto resplandeceu.
— Monte Gisar — disse ele. — A batalha foi em Monte Gisar, não
Grisar. E nós éramos quatrocentos templários contra cinco mil sarracenos.
— Muito bem, de qualquer forma não foi nada mal — sorriu — O que se conta foi verdade e que a verdade sempre recebe mais adornos de cada vez que é cantada ou contada ninguém vê nenhum mal nisso. Mas, afinal, onde é que estávamos? Ah, sim! Magnus sabe, através das lendas, quem é você e fica treinando intensamente o seu arco e flecha. Isso por um lado. Pelo outro, ele conhece a sua mãe, Cecília, e os dois convivem muito bem.
— Onde é que ele mora?
— Em Bjälbo, com Birger Brosa. Ele cresceu em casa de Birger e Brigida. Ah, é verdade, você não conhece Brigida. Ela é a filha do rei Harald Gille e fala ainda como uma norueguesa, tal como você fala como um dinamarquês. Ah, bom, durante muitos anos ele viveu em Bjälbo como filho deles e não acreditava em outra coisa. Atualmente é considerado como sobrinho adotivo de Birger. Daí essa questão de ter uma lua no escudo, em vez da flor-de-lis de Birger. Do que você quer saber mais?
— Suponho que você acha que eu devia começar perguntando por uma outra ponta. Mas espero que me perdoe. Eu te vi primeiro, depois o nosso pai, Magnus, e não precisei perguntar nada a respeito do que estava mais próximo e mais claro. Mas, durante a guerra, antes de todas as batalhas, pedi a Deus por Cecília e pelo filho que eu não conhecia. Durante a longa viagem pelo mar, para mim, quase que não existia mais nada em que pensar. Mas agora, por favor, fale de você, do pai e de Erika Joarsdotter.
— Bem falado, meu querido irmão — disse Eskil, lambendo os lábios, bem-humorado, ao retirar da boca o seu caneco como se fosse o melhor dos vinhos. — Você sabe colocar as suas palavras muito bem e possivelmente, esse talento vai ser muito bem utilizado na hora de persuadir aquele monte de bispos no conselho do rei. Mas nunca se esqueça de que eu sou seu irmão e de que sempre vivemos gostando um do outro. E com a ajuda de Deus, assim sempre será. A mim você nunca precisará persuadir ou lisonjear. Basta falar para quem eu sou, seu irmão!
Arn levantou o seu caneco em sinal de que concordava com tudo.
Eskil fez, então, um resumo do que havia para contar, esclarecendo que havia muito mais a falar depois de tantos anos afastados, mas para isso tomariam a noite inteira. Mas falta de tempo não haveria, só que depois de a festa ter terminado.
A seu respeito, contou que tinha apenas um filho, Torgils, que estava agora com dezessete anos de idade e servia como aprendiz na guarda do rei. Também tinha duas filhas, Beata e Sigrid, sendo ambas bem casadas na Svealand com gente da família da rainha Blanka, mas ainda não tinham dado à luz nenhum menino. Ele próprio nada tinha a reclamar. Deus o tinha ajudado. Estava no conselho do rei e respondia por todo o comércio com o exterior. Atualmente sabia falar a língua dos lubeckianos e por duas vezes já tinha viajado para Lübeck para assinar acordos com Henrik Lejonet de Sachsen. Das terras dos sveas e dos gotas, mandava-se ferro, lã, peles e manteiga, mas, acima de tudo, peixe seco, pescado e preparado na Noruega. De Lübeck, os navios traziam aço, especiarias e tecidos, fios de ouro e de prata e as moedas de prata, tilintantes, do peixe seco e salgado. Não era pouca a riqueza que se introduzia no país através desse comércio. E a parte que cabia a Eskil também não era pouca, visto que era ele sozinho que comerciava o peixe seco entre a Noruega, ambas as Götalands, a Svealand e Lübeck. Agora, Arnäs era duas vezes mais rica do que quando Arn partiu.
Eskil se excitava sempre ao falar dos seus negócios. Estava habituado a ver seus ouvintes ficarem cansados e querendo mudar para qualquer outro assunto. Mas depois de jactar-se por muito mais tempo do que o normal, sem ser interrompido, ele ficou alegre e satisfeito pelo fato de seu irmão se mostrar tão interessado. Era como se seu irmão entendesse tudo sobre os negócios. E quase desconfiou da atenção de Arn e resolveu fazer algumas perguntas para ver se ele, realmente, acompanhava a conversa ou se apenas estava ali sentado e sonhando com outras coisas, mas cheio de talento em se mostrar atencioso.
Mas Arn se lembrou de como uma vez, justo quando ambos viajavam para a assembléia dos gotas que terminou lamentavelmente para os sverkerianos e de maneira tão feliz para os folkeanos, terem falado a respeito dessa idéia de trazer o peixe salgado, o bacalhau, de Lofoten, na Noruega, em grandes quantidades. Isso, portanto, se tornou uma realidade.
Segundo Arn, essa era uma notícia muito boa. Além disso, achou muito inteligente receber o pagamento pelo peixe seco em prata pura e não em coisas que apenas tinham valor para os vaidosos. Entretanto, ele se perguntou se era bom o negócio de transportar ferro para Lübeck e aço de volta, em vez de produzir o aço a partir do ferro deles.
Eskil ficou muito satisfeito com o seu irmão por seu entendimento inesperado dos negócios, um entendimento que ele não mostrara quando viajou para a Terra Santa, embora os dois tivessem herdado a rapidez do raciocínio de sua mãe, Sigrid. Mas agora a cerveja de Eskil tinha terminado e ele se levantou de novo para pedir mais pela brecha na torre. E deu então as suas ordens, enquanto Arn, por trás, jogava metade da sua cerveja no caneco do sedento irmão.
Desta vez, já havia uma serva esperando no portão da torre com mais cerveja. Dois novos canecos chegaram, rápidos como o vento.
Ao voltar a beber, o caneco de Eskil, meio cheio, tinha sido retirado sem que ele notasse, e Arn sentiu-se satisfeito como se fosse um adolescente, por não ter sido descoberto. Ambos haviam estado de acordo em tudo o que precisava ser contado e, vendo a situação um do outro, tentaram começar a usar da palavra antes.
— O nosso pai e Erika Joarsdotter... — disse Eskil.
— Você entende, certamente, que eu pretenda me casar com Cecília! — comentou Arn, ao mesmo tempo.
— Isso não é você que decide! — disse Eskil, impetuosamente. Mas logo se arrependeu, abanando a mão como se quisesse apagar as suas palavras.
— E por quê? — perguntou Arn, em voz baixa.
Eskil suspirou. Não havia hipótese de escapar à pergunta do irmão por muito que ele quisesse adiar para o dia seguinte, não só esse assunto como muitos outros.
— Ao voltar para casa, e queira Deus abençoar essa volta que é para nós uma alegria incomensurável, o jogo mudou por completo — respondeu Eskil, rápido, e em tom baixo, como se se tratasse ainda de negócios com peixe seco. É a assembléia da família que decide, mas se conheço bem o nosso Birger Brosa, ele vai dizer que você deve casar-se com Ingrid Ylva. Ela é filha de Sune Sik e tem, portanto, Karl Sverkersson como avô, isto é, o rei Karl.
— Quer dizer que devo casar-me com a mulher cujo tio ajudei a matar! — exclamou Arn.
— É justamente aí que reside a boa razão. As feridas e as desavenças devem ser curadas pelo bem da paz e acontece de preferência atra— vés da cama do que através da espada. Assim pensamos nós. O órgão do homem é mais forte na paz do que a espada do homem. Daí, Ingrid Ylva.
— E se eu, nesse caso, preferir a espada do homem?
— Creio que ninguém vai querer trocar golpes de espada com você nem você também. O seu filho, Magnus, também já está na idade de casar, assim como ela. Um dos dois será suficiente, mas vai depender da quantidade de prata exigida. Não, não se preocupe com isso, irmão meu, o presente do noivo virá de Arnäs, será por nossa conta.
— Não, o presente do noivo será por minha conta. Nunca pensei em nada de imoderado, além de Forsvik, como foi acordado na festa de noivado, minha e de Cecília. E o acordo deve ser mantido — reagiu Arn, num tom de voz baixo, mas rápido, sem demonstrar qualquer reação no rosto, embora o seu irmão, certamente, devesse perceber.
— Se você me pedir Forsvik, dificilmente vou dizer que não. Numa primeira noite como esta, não posso dizer não a nada que você me peça — continuou Eskil, no mesmo tom de voz, como se fossem dois homens de negócios falando entre si. — Mas eu gostaria de solicitar a você para esperar com um tal pedido para depois deste primeiro dia, desta primeira noite, após tantos anos de ausência.
Arn não respondeu, antes pareceu avaliar o negócio. Depois, levantou-se, de repente, e puxou por três chaves que ele retinha numa faixa de couro à volta do pescoço e avançou na direção de três arcas muito pesadas que, antes de mais nada, tinham sido retiradas das carroças e trazidas para a torre. Quando ele, rapidamente, abriu as três arcas, uma após a outra, espalhou-se pela sala uma luz dourada, reflexo do sol que já tinha baixado no horizonte e entrava pela seteira do lado ocidental da torre.
Eskil levantou-se e deu a volta pela mesa com o caneco na mão. Para alegria e surpresa de Arn, ele não viu ganância na hora de o irmão contemplar o ouro.
— Você sabe quanto é que tem aí? — perguntou Eskil, como se ainda estivesse falando de bacalhau.
— Não, segundo a nossa maneira de contar — respondeu Arn. — Deve ser, mais ou menos, trinta mil besantes ou dinares em ouro, segundo a maneira de contar dos francos. Talvez sejam três mil marcos pelas nossas contas.
— E isso não está mal calculado?
— Não, não está mal calculado.
— Então, você poderá comprar a Dinamarca.
— Não é essa a minha intenção. Tenho uma idéia melhor.
Arn fechou lentamente as arcas, passou as chaves e, depois, as atirou para cima da mesa, passando pela frente do irmão, mas indo parar no lugar em que Eskil se sentava. Depois, Arn voltou para o seu banco e fez sinal para o irmão voltar a se sentar. E Eskil fez isso em silêncio, pensativo.
— Eu tenho três arcas e três pensamentos — disse Arn, depois de fazer um brinde com o seu irmão e beber um pouco mais de cerveja. — Os meus três pensamentos são simples. Falarei depois, como a respeito de todo o resto, contando muito mais quando tivermos mais tempo. Mas, entretanto, devo dizer que, primeiro, quero construir uma igreja de pedra em Forshem e com as melhores e mais bonitas imagens que possam ser feitas em pedra em toda a Götaland Ocidental. Depois ou, melhor dizendo, ao mesmo tempo, já que toda a pedra necessária virá do mesmo lugar, quero reconstruir Arnäs tão forte que ninguém na Escandinávia possa conquistá-la. Como é que se constrói um castelo assim eu já sei e os homens que viajaram comigo também sabem. E muita coisa nós sabemos que ainda por aqui não se faz nem idéia. E a terceira arca restante, faço tenção de dividir com meu irmão... depois de comprar Forsvik, evidentemente.
— Para um homem tão rico, os familiares de Cecília Algotsdotter vão ter que trabalhar muito para arranjar um bom presente de noiva. Aliás, o pai dela já morreu, paralisado e cego, no Natal passado.
— Paz à sua alma. Mas Cecília precisa apresentar um presente apenas tão grande quanto o valor de Forsvik.
— Nem isso ela terá condições de apresentar — comentou Eskil, mas agora com um pequeno sorriso, mostrando que não fazia contas nesse negócio.
— Isso ela tem com certeza. Por Forsvik ela não precisa pagar mais do que quatro ou cinco marcos em ouro e eu sei, tão certo quanto você, de onde ela poderá conseguir uma soma tão pequena quanto essa — reagiu Arn, rápido.
Nesse momento, Eskil não conseguiu segurar mais o riso e soltou, então, uma gargalhada ressonante, de tal maneira que a cerveja até respingou do seu caneco.
— Meu irmão! Meu irmão, na verdade, meu irmão! — disse ele, ainda rindo, mas sorvendo logo mais um pouco de cerveja antes de continuar. — Eu pensava que era um guerreiro que tinha chegado a Arnäs, mas você é um homem de negócios, nada menos do que meu igual. Temos de fazer mais um brinde a isso!
— Sou igual a você porque sou seu irmão — disse Arn ao abaixar o seu caneco, depois de fingir que bebia. — Mas eu também sou um templário. Nós, templários, fazemos muitos negócios, em que se trocam as coisas mais estranhas, e podemos fazer negócios até com o próprio diabo e até mesmo com os noruegueses!
Eskil, rindo, concordou com tudo e pareceu que ia precisar de mais cerveja, mas conteve-se logo ao ver pela brecha de tiro no poente que a luz do dia estava caindo.
— Não vai ser nenhuma festa boa sem nós dois — murmurou ele.
Arn concordou com um aceno, dizendo que gostaria de ter tempo de ir ao banheiro e que também iria buscar um dos seus homens que melhor soubesse usar uma navalha. Dentro de um manto folkeano não era possível cheirar mal como dentro de um manto dos templários. Havia começado uma nova vida e, na verdade, não tinha começado nada mal.
Para os irmãos Marcus e Jacob Wachtian, a sua chegada a Arnäs foi uma decepção. Um castelo pior eles jamais tinham visto. E Marcus, que era o mais divertido, disse que um homem como o Conde Raymond, de Trípoli, tomaria um castelo como esse em menos tempo do que levaria para descansar os soldados e os cavalos durante uma dura marcha. Jacob objetou sem sorrir que um homem como Saladino iria passar em frente do castelo sem se deter, por sequer descobrir que se tratava de uma fortaleza. A respeito do grande e importante trabalho de que Arn falara, consistindo na construção de uma boa fortaleza, a partir desse ninho de corvos, seria na verdade um trabalho difícil, mais para o corpo do que para a cabeça.
Na verdade, eles também não tinham muito para escolher, quando Arn os salvou de apertos depois da queda de Jerusalém. A onda de euforia da vitória que se espalhou por Damasco fez com que a cidade se tornasse insuportável para os cristãos, por muito bons artesãos e por muito bons homens de negócios que eles fossem. E na fuga para São João do Acre, encontraram muitas vezes, vezes demais, outros cristãos que sabiam terem estado ao serviço dos infiéis. Foram também assaltados e roubados de todos os seus pertences que traziam consigo e mesmo que tivessem tido a sorte de chegar até a última cidade cristã, depois da queda de Jerusalém, não demoraria muito para que fossem reconhecidos. Na pior das hipóteses, eles teriam terminado na forca ou na fogueira. E nessa época a Armênia, seu país de origem, estava devastada pelos turcos; portanto, a viagem para lá seria muito mais incerta do que a viagem para São João do Acre.
Houve um momento em que eles, resignadamente, pararam ao lado na estrada e rezaram suas últimas preces para Nossa Senhora e São Sebastião, para que chegasse uma salvação maravilhosa em que, no fundo, não mais acreditavam.
Nesse momento de desespero, Arn os encontrou. Estava vindo de Damasco com um pequeno séquito e viajava milagrosamente sem medo, embora a região estivesse cheia de assaltantes sarracenos. Era como se o manto branco dos templários pudesse defendê-los de todo o mal e mais alguma coisa. Arn os reconheceu logo, de seus negócios e oficinas em Damasco. Dali a pouco já lhes oferecia proteção em troca de entrarem para o seu serviço por um tempo nunca inferior a cinco anos e, além disso, o seguissem para a sua pátria no norte da Europa.
A escolha para os irmãos não era grande. E Sr. Arn, de forma alguma, tinha apresentado para eles outra idéia que não fosse a de uma viagem dura e perigosa e um trabalho duro e de início até sujo, à chegada. No entanto, pelo que já puderam ver, a miséria neste país no norte esquecido por Deus era pior do que eles poderiam ter imaginado nos seus momentos de maior desespero e de agonia por causa do enjôo.
Nesse momento, tal como a situação se apresentava, não tinham nenhuma possibilidade de quebrar o acordo. Pela frente, tinham quatro anos duros, tristes e sujos a esperar, se desse para excluir aquele tempo de um ano que a viagem tomou. Sobre esse assunto, o contrato nada esclarecia.
Tinham conseguido botar um pouco de ordem no seu acampamento, do lado de fora dos muros baixos e frágeis. Para simplificar, dividiram o acampamento em duas partes, tendo os muçulmanos um departamento para si próprios e os cristãos, outro. Sem dúvida, tinham vivido todos, juntos e apertados num barco, por mais de um ano, mas, como os horários das orações eram diferentes, havia muitos tropeços à noite, quando os muçulmanos se levantavam para rezar e os cristãos dormiam. E vice-versa.
Do burgo vieram mulheres jovens com grandes quantidades de peles de carneiro que os convidados estrangeiros aceitaram de bom grado, por já saberem que na Escandinávia as noites eram bastante frias. No entanto, alguém descobriu logo em seguida que as peles recebidas estavam cheias de piolhos. E rindo das palavras ímpias e das piadas mal agradecidas de ambos os lados, tanto os crentes como os infiéis ficaram durante muito tempo, lado a lado, catando os piolhos das peles.
Estranho, no entanto, foi ver as jovens mulheres, algumas delas muito bonitas, chegarem sem timidez e sem véus nos cabelos e de braços nus até os forasteiros. Um dos arqueiros ingleses fez a brincadeira de dar uma palmada no traseiro de uma das jovens de cabelo ruivo e ela não se assustou nem um pouco. Apenas se virou e ágil como uma gazela pulou fora e para longe das mãos grosseiras que se estendiam na sua direção.
Em seguida, os dois médicos sarracenos repreenderam o arqueiro numa língua que ele, na realidade, não entendeu. Os irmãos Wach-tian fizeram a tradução com todo o prazer e concordaram com a reprimenda. E todos no acampamento acabaram concordando, também, que num país tão estranho e de costumes tão singulares, era melhor ir com toda a cautela de início, em especial com as mulheres, até aprenderem o que era bom e ruim ou legal e ilegal. Se é que havia leis entre essa gente selvagem.
No fim da tarde, pouco antes da hora das orações, Arn chegou sozinho ao acampamento. Primeiro, ninguém o reconheceu. Parecia muito menor. Tinha abandonado o seu manto de templário e a sua veste de malha de aço e vestia agora uma roupa azulada, meio descobrida, mais justa ao corpo. Além disso, tinha cortado o cabelo e raspado a barba, de modo que o seu rosto era moreno, da cor do couro, no centro, e pálido à volta. E parecia ainda, ao mesmo tempo, que era tanto um homem quanto um garoto, embora as marcas da guerra no rosto tivessem ficado mais visíveis do que quando usava barba.
Arn, entretanto reuniu todos os homens com a mesma decisão como o fez durante toda a viagem e todos vieram se reunir à sua volta, mantendo o silêncio. Arn falou primeiro, como normalmente, na linguagem dos sarracenos, que a maioria dos cristãos não entendia muito bem.
— Em nome do Misericordioso, queridos irmãos — começou Arn —, vocês são todos meus convidados, crentes e infiéis, e todos viajaram até aqui, nesse longo caminho, e na minha companhia para construir aqui a paz e a felicidade, ou seja, para construir aquilo que não existia no Ultramar. Vocês estão agora num país estranho com muitas tradições que podem violar a sua honra. Por isso, esta noite, depois das orações, vamos ter duas festas de boas-vindas, uma aqui no acampamento entre as tendas e outra lá em cima na casa grande. Lá em cima, o banquete irá conter muita coisa contra o que o Profeta, que esteja em paz, teria pronunciado Sua condenação. Aqui, nas tendas, e nisso vocês têm a minha palavra de emir, nada vai ser servido que seja impuro. Sempre que a comida for trazida, vocês devem abençoá-la em Seu nome, Daquele que tudo vê e tudo escuta. E devem apreciar a comida com toda a confiança.
Como de costume, Arn repetiu tudo, mais ou menos do mesmo jeito, na língua dos francos, mas com as palavras certas relativas ao Deus dos cristãos e sem falar no Profeta. Marcus e Jacob, que falavam o árabe e também mais quatro ou cinco outras línguas, sorriram entre si quando, como de costume, notaram as diferenças na apresentação em francês.
Em seguida, Arn mandou servir um barril de vinho, chamou os cristãos e fizeram os habituais brindes e vênias entre si, antes de se separarem e cada um seguir para a festa correta.
Os convidados cristãos seguiram em procissão para a casa grande e, a meio caminho, encontraram-se com um grupo de seis escudeiros armados que serviam como escolta de honra à sua volta.
Na porta da casa escura e apavorante, com grama no telhado, estava esperando uma mulher de vestido vermelho, esplendoroso, que poderia muito bem ter vindo do Ultramar. Nos ombros, tinha um xale dourado com pedras azuis e um manto azul do mesmo tipo que Arn tinha posto também sobre os seus ombros. Na cabeça, usava um pequeno chapéu que, de forma alguma, escondia os seus cabelos compridos. Antes pelo contrário. Eles pendiam numa bela e grossa trança, ao longo das suas costas.
À chegada, ela levantou um pão com as mãos e chamou uma serva para trazer um skâl, com a forma de um belo chifre, mas cujo conteúdo ninguém podia ver. E proferiu uma bênção.
Arn virou-se e traduziu tudo, dizendo que todos eram bem-vindos em nome de Deus, e que aquele que entrasse devia tocar primeiro com a mão direita no pão e depois mergulhar o indicador direito no skâl com sal.
Para Harald Dysteinsson, que estava à frente dos convidados cristãos, ainda com a veste negra de templário e o respectivo manto negro, essa tradição não era estranha. Marcus e Jacob, que seguiam o amigo "Aral d'Austin" — era assim que eles, por vezes, de brincadeira, pronunciavam o seu nome na língua dos francos, sem que ele levasse a mal —, fizeram o mesmo, mas na fila, em segredo, disseram com fingida seriedade que o sal estava ardendo como fogo e talvez estivesse enfeitiçado. Os que lhes seguiam passaram a mergulhar o dedo muito rápido e com todo o cuidado no sal.
Mas quando entraram na longa sala era como se os dois irmãos Wachtian tivessem sido atacados por uma sensação de feitiçaria. Não havia praticamente janelas e toda a sala estaria totalmente no escuro se não houvesse a grande lareira numa das pontas, se não houvesse as tochas de piche que ardiam em conchas de ferro ao longo das paredes e velas de cera na mesa comprida ao longo de uma das paredes. Os seus narizes ficaram cheios de fumaça, de piche e cheiro de frituras.
Arn colocou os seus convidados cristãos num dos lados da mesa comprida e seguiu depois para o lado oposto da mesa, mas sentou-se longe, à direita, numa cadeira que parecia uma espécie de trono pagão, com uma cabeça de dragão e ornamentos de estranhas cobras enroladas. Ao seu lado estava agora a mulher do sal de boas-vindas e do outro lado dela, o homem que parecia uma barrica e que era o irmão mais velho de Arn e, conseqüentemente, um homem com quem não se devia fazer graça nem fazer dele um inimigo.
Quando os convidados cristãos e seus anfitriões já estavam sentados, entraram doze homens com a mesma veste azul, igual às de Arn e seu irmão e se sentaram de ambos os lados da mesa, abaixo do lugar de honra e dos convidados. A outra metade da mesa ficou vazia e nela podia se sentar, com certeza, o dobro dos convivas presentes.
Arn fez uma prece em latim, de modo que apenas o monge pôde acompanhar, enquanto todos os outros, virtuosamente, abaixaram a cabeça e juntaram as mãos. Depois, Arn e o monge cantaram em duas vozes uma bênção dos salmos e, então, a mulher levantou-se entre os dois irmãos e ergueu bem alto as mãos por três vezes.
Abriram-se, então, as portas duplas do outro lado da sala e entrou, depois, uma estranha procissão, primeiro uma fila de mulheres jovens de cabelos soltos e de vestes brancas de linho que mais mostravam do que escondiam os seus encantos, todas com pequenas tochas acesas nas mãos. Depois, vinham homens e mulheres, misturados, também de vestes brancas, com grandes quantidades de cerveja e grandes travessas fumegantes de carnes, peixes, legumes e raízes de muitas espécies, das quais algumas os convidados reconheciam, mas também algumas que eles não conheciam.
Arn distribuiu grandes copos de vidro, menos regulares na forma do que os copos no Ultramar. Ele já sabia de há muito tempo quem é que devia receber o quê. O irmão Guilbert recebeu um copo, assim como os irmãos Wachtian e o marinheiro Tanguy. Arn ficou também com um copo que, com um movimento nitidamente exagerado, colocou diante do seu próprio lugar, brincando e dizendo em francês que isso era uma defesa contra os encantos da cerveja nórdica. Então o norueguês protestou em alto e bom som, simulando raiva e pegando gananciosamente o caneco que estava, espumante, na sua frente, mas foi interrompido por um gesto de Arn. Notava-se que ninguém devia começar a comer ou a beber, embora se lesse e se cantasse sobre a comida.
E, então, chegou aquilo que se esperava e a gritaria foi muita da parte de todos os guerreiros que estavam na parte mais afastada da mesa. Trouxeram então um repulsivo corno de vaca, com ornamentos prateados, e até mesmo essa coisa veio cheia de cerveja. O corno de vaca foi levado, então, até o irmão gordo de Arn, que o levantou bem alto na sala, enquanto dizia qualquer coisa que levou os guerreiros a dar murros na mesa, de tal modo que até os canecos começaram a saltar.
Depois disso ele entregou o corno de vaca com um gesto lento e solene para Arn, que, constrangido como parecia, recebeu o corno e disse qualquer coisa que levou todos na sala que entendiam a língua nórdica às gargalhadas. Em seguida, ele tentou esvaziar toda a cerveja que estava dentro do corno, mas deve ter trapaceado, visto que a maior parte da cerveja caiu pelo peito dele. Ao retirar o corno da boca, fingiu que vacilava e se apoiou na mesa, enquanto que, com as mãos tremendo, devolveu o corno para seu irmão. E por essa peça de palhaçada recebeu ressonante salva de novas gargalhadas por parte dos guerreiros nórdicos presentes.
Mas ainda a cerimônia não tinha terminado, visto que ninguém fazia menção de começar a comer. Mais uma vez o corno de vaca foi enchido de cerveja, sendo entregue ao irmão de Arn, que o levantou acima da cabeça, disse algo que certamente foi muito nobre e rico de conteúdo, visto que foi recebido com um murmúrio de aprovação, enquanto ele bebia toda a cerveja, sem deixar cair sequer uma gota e com toda a facilidade com que alguém consegue beber um pequeno copo de vinho. Os aplausos na sala voltaram a crescer e todos os homens com canecos de cerveja na sua frente os levantaram, os abençoaram e começaram a beber. O primeiro a bater o caneco vazio na mesa foi o norueguês Harald Dysteinsson, que se levantou e falou de uma maneira rítmica, cantada, rápida, que recebeu muitos aplausos.
Arn fez questão de oferecer vinho para aqueles que ele quis salvar dos exageros da cerveja. Como disse, meio de brincadeira e traduziu para os apreciadores de vinho aquilo que o amigo Harald falou nos seus versos. Arn traduziu em francês, mas aqui vai a versão em português:
"Raramente soube tão bem a cerveja espumante para aquele guerreiro que por tanto tempo lhe sentiu a falta. Longa foi a viagem. Mais longa ainda foi a espera. Agora, entre amigos, há que beber, nunca menos do que Tor."
Arn explicou que Tor era um deus que, segundo a lenda, quis beber o mar inteiro para impressionar os gigantes. Infelizmente, isso foi apenas o início de uma série de leituras de versos a vir em seqüência e Arn achou que seria praticamente impossível traduzir todos, já que isso se tornaria cada vez mais difícil de ouvir e entender.
Novas quantidades de cerveja foram trazidas por mulheres jovens que corriam rápidas de pés descalços, trazendo também mais carne, peixe, pão e verduras que se apresentavam como um exército inimigo em cima da mesa comprida. Os irmãos Vachtian se atiraram de imediato cada um para o seu leitão. O monge corpulento, assim como o marinheiro inglês atiraram-se a um salmão, trazido, ainda fumegante, sobre uma prancha de madeira. Os arqueiros ingleses se apossaram de grandes pedaços de pernas de vitela, enquanto Arn escolheu um pedaço apenas razoável de salmão e com seu longo punhal bem afiado cortou um pedaço da bochecha de uma das cabeças de porco que, de repente, caíram diante dos olhos dos irmãos Wachtian.
Primeiro, os dois ficaram olhando fixamente para a cabeça do porco que ficou com o focinho virado para os irmãos. Jacob, involuntariamente, inclinou-se para trás. Mas Marcus, em contrapartida, inclinou-se para a frente e, apoiado nos cotovelos, começou a conversar com o porco e todos os que entendiam francês dos que estavam próximos logo ficaram se revirando e explodindo em gargalhadas.
Disse supor que o Senhor Porco, certamente, era alguém aqui neste país, mas não valia nada no Ultramar. Que era melhor aparecer entre os irmãos armênios do que entre aqueles que ficaram no acampamento onde o risco seria grande de o Senhor Porco não ser recebido com o grande respeito que merecia.
Pensando no que aconteceria se essa cabeça de porco aparecesse entre os muçulmanos, fez rir os irmãos Jacob e Marcus Wachtian e mais ainda os de fala dos francos, que começaram a ouvir no mesmo momento as orações do Islã no acampamento, visto que o sol se punha muito tarde neste país do norte da Europa. Até mesmo Arn sorriu um pouco diante da idéia de a cabeça de porco ser servida justo no meio das orações muçulmanas do fim da tarde, mas ele apenas fez sinal despreocupado com a mão, quando o seu irmão lhe perguntou do que se tratava.
— Alá é grande... — exclamou Marcus, em árabe, meio na gozação, ao mesmo tempo que levantava o seu copo de vinho na direção de Arn, mas logo se sentou, engasgado pela bebida e o riso, de modo que o vinho respingou em seu anfitrião. Arn, porém, não se zangou e até encheu de novo o copo de Marcus.
Não demorou muito para que Arn e a dona da casa junto dele, cautelosamente, afastassem de si os pratos, limpando os seus punhais, colocando-os de novo na cintura. O irmão de Arn ainda comeu mais alguns pedaços enormes de carne antes de fazer o mesmo. Depois disso, os que estavam no lugar de honra apenas se dedicaram a beber, dois, de forma tranqüila, razoável, enquanto o terceiro continuou bebendo como os guerreiros, os noruegueses e os dois arqueiros ingleses, John Strongbow e Athelsten Crossbow, estes dois mostrando beber cerveja no mesmo ritmo dos bárbaros.
A gritaria aumentava cada vez mais. Os ingleses e os noruegueses mudaram de lugar sem a menor cerimônia, indo se juntar aos guerreiros nórdicos e aí explodiu uma enorme competição de honra para saber qual aquele que mais rapidamente conseguiria despejar pela garganta um caneco inteiro de cerveja, sem o retirar da boca. Parecia que os ingleses e os noruegueses conseguiam se portar bem nesta competição nórdica. Arn se inclinou para os seus quatro convidados restantes que falavam francês e explicou ser bom para a reputação que, pelo menos, alguns dos homens do Ultramar conseguissem se comportar bem nesta estranha competição. Como explicou ainda, os homens nórdicos apreciavam a capacidade de rapidamente ficarem bêbados, quase tanto quanto a capacidade de lutar com a espada e o escudo. Por que tinha de ser assim, ele não sabia explicar. E apenas encolheu os ombros como diante de uma coisa que não dava para entender.
Quando o primeiro homem, vomitando, caiu no chão, a dona da casa levantou-se e despediu-se com uma expressão boa e sem pressa exagerada de Arn, que a beijou na testa para seu embaraço, do irmão de Arn e dos convidados que falavam francês que a esta altura eram os únicos em condições de reagir ao chamado pelos seus nomes, além dos próprios anfitriões.
Arn encheu, depois, novamente, os copos de vinho dos que falavam em francês, explicando que precisavam esperar um pouco mais, para que não se dissesse por todos que beberam cerveja, que todos os que tomaram vinho tinham ficado bêbados por baixo da mesa. No entanto, depois de olhar para o resto da mesa, achou que tudo estaria terminado dentro de uma hora, mais ou menos, ao surgirem os primeiros raios de luz da manhã.
Quando o sol começou a subir sobre Arnäs e os bebedores de vinho foram descansar, Arn ficou sozinho lá em cima, na torre, sonhando acordado com a paisagem da sua infância. Lembrava-se de quando ia caçar veados e porcos selvagens para os lados de Kinnekulle com escravos de quem ele se esforçava por lembrar os nomes. Pensou também de quando chegou a cavalo num bonito garanhão do Ultramar que se chamava Chimal, mas não chegou nunca a ficar tão próximo dele quanto de Chamsiin. E se lembrou de como o seu pai e seu irmão ficaram com vergonha de o ver montado num cavalo tão ruim, um animal que, na opinião deles, não servia para nada.
Mas, acima de tudo, sonhava com Cecília. Via diante de si como ela e ele subiam Kinnekulle a cavalo. Era primavera e ela vestia um manto verde, bem largo. E, dessa vez, ele estava disposto a falar para ela sobre o seu grande amor, mas nada conseguia dizer até que Nossa Senhora lhe ofereceu as palavras certas do Cântico dos Cânticos, as palavras que ele conservou na memória durante todos os anos de guerra na Terra Santa.
Nossa Senhora, sem dúvida, tinha ouvido as suas preces e sentiu piedade diante da sua fidelidade e por nunca ter perdido a esperança.
Restava menos de uma semana para matar essa saudade. Dentro de dois dias estaria iniciando a viagem para Nas, onde Cecília talvez já se encontrasse, sem fazer a menor idéia de que ele estava tão perto.
Estremeceu de medo, só perante a idéia de voltar a vê-la. Era como se o seu sonho acordado se tornasse grande demais, como se ele não pudesse mais controlá-lo.
Lá embaixo, a praça estava quase vazia e em silêncio. Uma ou outra escrava passava, retirando os vômitos e os ramos de árvores cheios de sujeira e de urina, junto ao portão da casa grande. Alguns homens apareceram gemendo, xingando e arrastando um escudeiro que teria sido dado como morto se não se soubesse que tinha estado na festa de Arnäs.
Quando o sol surgiu acima do horizonte no leste, ouviu-se, como não podia deixar de ser, a chamada para as orações no acampamento.
Primeiro, Arn não reagiu, habituado como ainda estava a ouvir aquele chamamento todos os dias nos seus ouvidos, de tal maneira que nem notava nada. Mas ao olhar para Kinnekulle e para a igreja de Husaby notou que aquele devia ser o primeiro nascer do sol sobre Arnäs saudado daquela maneira. Tentou recordar o texto no Sagrado Alcorão em que se permitia a exceção ao cântico do chamamento ser feito. Talvez no caso de se estar em território inimigo? Ou no caso de se estar em guerra e o inimigo reconhecer a posição adversária pelo chamamento?
Alguma coisa assim devia ser. Quando todos chegassem a Forsvik, os chamados para orações poderiam ser feitos em qualquer altura, mas se isso continuasse a ser feito durante muito tempo em Arnäs seria difícil evitar as perguntas e explicar com evasivas como na Terra Santa o amor por Deus assumia características injustificadas nos sentimentos das pessoas. Talvez também não fosse suficiente a explicação de que esses homens eram escravos e, portanto, não podiam ser considerados como inimigos, mas mais como cavalos ou cabritos.
Logo as orações iriam terminar lá embaixo. Estava na hora de começarem os trabalhos do dia. Arn sentia como se martelassem alguma coisa na sua cabeça, ao descer a estreita escada em caracol da torre.
No acampamento, acontecia, sem surpresa para Arn, que todos os que tinham descansado durante a noite na tenda dos muçulmanos já estavam de pé e que todos ainda dormiam na tenda dos cristãos e, além disso, ressonavam de tal maneira que era surpreendente ter sido possível aos seus camaradas terem agüentado o barulho.
Do lado dos sarracenos, todos os tapetes das orações já estavam enrolados e já tinha sido colocada água no fogo para fazer o tal de café moca da manhã. Os dois médicos foram os primeiros a notar a sua chegada. Levantaram-se e foram lhe desejar a paz de Deus.
— A paz de Deus esteja com vocês também, Ibrahim Abd al-Malik e Ibn Ibrahim Yussuf. Vocês que agora estão na terra dos infiéis, devem se chamar de Abraham e Josef — saudou Arn de volta, fazendo uma vênia. — Espero que tenham gostado da comida servida ontem de minha casa.
— O cordeiro estava bem gordo e bem condimentado, gostoso. E a água muito fria e fresca — respondeu o mais velho dos dois.
— É bom ouvir isso. Estou satisfeito — disse Arn. — Está na hora de começar o trabalho. Mande reunir os irmãos!
Dali a pouco já havia uma procissão de estranhos andando à volta dos muros de Arnäs, apontando, gesticulando e argumentando. Mas logo se chegou a um acordo. Era preciso pesquisar mais antes de ter um entendimento certo. Era necessário saber com exatidão como construir um castelo novo, impossível de ser tomado de assalto por inimigos. O terreno junto dos muros tinha de ser pesquisado através da escavação de buracos de ensaio. Muito seria preciso em termos de medidas e de contas. E os muitos braços de mar à volta de Arnäs também teriam de ser pesquisados para se poder decidir como as novas valas de defesa deveriam ser abertas. O terreno de areia que separava o castelo, construído no istmo, do interior da terra, era uma grande vantagem. Não seria preciso drenar ou construir uma vala. Tal como o terreno se apresentava, seria impossível fazer aproximar as torres de sítio ou de jogar pedras contra o castelo. Todas essas máquinas pesadas iriam afundar pela superfície aquosa, arenosa e instável. Uma parte importante da defesa do castelo estava, portanto, na própria natureza do lugar, como se Ele que tudo vê e que tudo ouve, tivesse criado essa defesa.
Assim que Arn achou que já tinha esclarecido suficientemente seus pensamentos e desejos, deixando que os mestres-de-obras fizessem seus estudos e suas contas, ele pegou os dois médicos e seguiu com eles para a sala pequena onde estava seu pai. Mais uma vez repetiu que eles agora se chamavam Abraham e Josef, aqui, na Escandinávia e nada mais. Eram os mesmos nomes, tanto na Bíblia quanto no Sagrado Alcorão. A diferença estava apenas na pronúncia. Ambos os médicos acenaram com a cabeça, aceitando em silêncio a solução ou obedecendo ao combinado.
Como ele esperava, o pai já estava acordado quando entraram no adaptado dormitório. O senhor Magnus tentou se levantar com a ajuda do cotovelo sadio, mas estava difícil e Arn se aproximou logo para ajudar.
— Mande esses estranhos embora por momentos, preciso urinar — foram as primeiras palavras do senhor Magnus para Arn, que sentiu mais alegria ao ouvir seu pai falando com mais desenvoltura do que se espantou com a maneira brusca e estranha de receber os bons dias. Arn pediu aos médicos para saírem por alguns momentos e procurou depois pelo urinol, seguindo as ordens do pai, e o ajudando então a verter as suas águas estocadas.
Tudo isso feito, Arn levantou seu pai e o colocou numa cadeira e pediu aos médicos para entrarem de novo. Estes voltaram a realizar os mesmos testes do dia anterior e informavam a Arn, de vez em quando, o que ele traduzia, embora retirando a maioria das palavras elegantes e de cortesia de que a língua árabe, por vezes, fica cheia.
O que atingiu o senhor Magnus foi conseqüência de um glóbulo de sangue muito grosso ter ficado preso no cérebro. Que essa enfermidade não tivesse resultado em morte imediata, o que podia ter acontecido, já era um bom sinal. Em alguns casos, a cura era total; em outros, quase total; e em outros, ainda, tão boa que, praticamente, não se notava nada. Mas, com a compreensão, isso nada tinha a ver. Apenas as pessoas ignorantes podiam pensar isso.
Aquilo que era preciso fazer, além do uso de certas ervas fortalecedoras que primeiro precisavam ser preparadas e fervidas em conjunto e de certas orações bem fortes, era praticar alguns exercícios. Era preciso colocar certos músculos paralisados novamente em movimento, um a um, e ter muita paciência. E no que dizia respeito à fala, havia apenas um exercício a fazer, o de falar. E esse era. o mais fácil.
Em compensação, o que não devia ser feito era esconder-se por vergonha, ficar no escuro, deixar de falar e de se movimentar. Isso seria muito pior.
Yussuf, o mais novo dos médicos, saiu por momentos e voltou com uma pedra redonda na mão, do tamanho de meio punho, que ele deu para Arn. E, então, explicou que dentro de uma semana, o honrado pai do senhor Al Ghouti devia aprender a levantar a pedra com a sua mão fraca, a da esquerda, por cima do joelho, e levá-la para a mão direita, a boa. De cada vez que ele não conseguisse, devia apanhar a pedra com a mão direita, colocá-la novamente na mão esquerda e recomeçar tudo outra vez. Era preciso não desistir. Com boa vontade e preces, muito podia ser conseguido. As coisas mais importantes eram os exercícios e a força de vontade, as ervas fortalecedoras vinham em segundo lugar.
Era tudo. Os dois médicos fizeram uma vênia primeiro na direção de Arn e, depois, na direção do seu pai. E saíram sem dizer mais nada.
Arn colocou a pedra na mão esquerda do seu pai e explicou-lhe como devia ser feito o exercício. O senhor Magnus fez a primeira tentativa, mas deixou a pedra cair. Arn voltou a colocar a pedra na mão esquerda do pai. E este a perdeu de novo e resmungou qualquer coisa de que Arn apenas entendeu a palavra "estrangeiros".
— Não fale assim para mim, pai. Diga tudo de novo, mas com palavras claras. Sei que o senhor pode fazer isso, assim como sei que o senhor entendeu tudo o que eu disse — disse Arn, olhando seriamente nos olhos de seu pai.
— Não serve de nada... ouvir... homens estrangeiros — conseguiu dizer seu pai num esforço o que fez abanar um pouco a sua cabeça.
— A esse respeito, o pai está enganado — disse Arn. — O senhor provou isso justamente agora. Eles disseram que o senhor poderá voltar a falar. E o senhor falou; portanto, sabemos que eles tinham razão. Em matéria de curas, esses homens estão entre os melhores que encontrei na Terra Santa. Eles estiveram a serviço dos templários. É por isso que estão agora comigo.
Desta vez, o senhor Magnus não respondeu, mas acenou com a cabeça, concordando que tinha caído em contradição pela primeira vez em três anos.
Arn colocou de volta a pedra na mão esquerda do pai e disse quase num tom de comando que agora era preciso que ele fizesse o exercício como os médicos haviam dito. O senhor Magnus fez uma nova tentativa, ainda a meia força, mas apanhou a pedra com a mão direita, levantou-a do chão, mas a deixou cair novamente. Arn sorriu do esforço, mas apanhou-a de novo e a deixou em cima do joelho do pai.
— Pai, diga o que o senhor quer saber da Terra Santa e tudo lhe contarei — disse Arn e se abaixou, ficando de joelhos, diante do senhor Magnus, de modo que seus rostos ficaram no mesmo nível.
— Bom... assim não pode... ficar muito tempo — disse o senhor Magnus, com esforço, mas com um sorriso que ficou meio de lado, caído para o lado atingido.
— Os meus joelhos estão mais habituados por causa das rezas do que o senhor pode imaginar, pai — respondeu Arn. — Rezar também era uma coisa que os guerreiros de Deus tinham de fazer na Terra Santa. Mas me diga, pai, o que o senhor quer que eu lhe conte sobre a Terra Santa?
— Por que nós perdemos... Jerusalém? — perguntou o senhor Magnus, enquanto, no mesmo momento, conseguia avançar com a pedra meio caminho para a mão direita, antes de deixá-la cair novamente.
Arn voltou a colocar cautelosamente a pedra na mão doente do pai e disse que ia lhe contar como Jerusalém foi perdida, mas apenas sob a condição de o pai continuar o exercício com a pedra enquanto o escutava.
Não foi difícil para Arn começar a sua história. Não existia nada em que ele mais tivesse pensado do que nos caminhos inescrutáveis de Deus sobre a questão e por que razão os cristãos foram punidos com a perda de Jerusalém e do Santo Sepulcro.
Fora por culpa dos nossos pecados. Essa resposta estava agora clara para ele. E então contou detalhadamente sobre os pecados, os do patriarca da Cidade Santa de Jerusalém, que envenenou dois bispos, os de uma rainha-mãe, prostituta, disposta a colocar no comando dos exércitos cristãos o primeiro amante que chegasse de Paris, os de homens gananciosos que se diziam combatentes de Deus e apenas estavam interessados em roubar, seqüestrar, matar e incendiar em proveito próprio. E assim que as sacolas estavam cheias voltavam para casa, convencidos de estarem perdoados, com o perdão dos pecadores.
De vez em quando, durante várias partes da história contada com os piores exemplos dos pecados cometidos por cristãos, ele pegou a pedra e recolocou-a na mão afetada do pai.
Mas quando a lista de pecados parecia estar se repetindo, seu pai fez um sinal, impaciente, com a mão saudável, para dar por terminado o flagelo. Depois, respirou fundo e se concentrou em uma nova pergunta.
— Onde você estava... meu filho... quando Jerusalém caiu?
Arn caiu em si ao ouvir a pergunta. Já tinha começado a se esquentar, pensando naqueles homens malditos como o patriarca Heraclius, homens que assassinaram outros, por seu livre-arbítrio ou por causa de sua vaidade, como no caso do grão-mestre dos templários, Gérard de Ridefort, ou por trapaças de comandantes de exércitos como ainda no caso de um homem, Guy de Lusignan, um verdadeiro prostituto.
Depois respondeu que, na verdade, estava em Damasco, como prisioneiro do inimigo. Jerusalém ficou perdida, não através de uma luta corajosa, nos muros da cidade. Jerusalém foi perdida através de uma batalha mal conduzida em Tiberíades, onde todo o exército cristão foi dizimado, conduzido até a morte por palhaços e prostitutos
que nada sabiam de guerra. Poucos foram os prisioneiros que sobreviveram. Dos templários, só dois.
— Você... voltou, afinal, para casa... rico? — objetou o senhor
Magnus.
— Sim, é verdade, pai. Voltei para casa e sou rico, mais rico do que Eskil. Mas isso aconteceu porque eu era amigo do rei dos sarracenos — respondeu Arn, conforme a verdade, mas se arrependeu logo, ao ver a raiva aflorar nos olhos do pai.
Foi então que o senhor Magnus levantou a pedra num movimento rápido da mão esquerda para a direita. E logo voltou a colocar a pedra na mão esquerda, a fim de poder levantar a mão direita saudável em sinal de condenação de um filho que foi traidor e por isso voltou rico.
— Não, não, não foi assim não — mentiu Arn, rápido, mas tranqüilamente. — Eu queria apenas ver se o pai podia mesmo levantar a pedra pelo caminho todo entre as duas mãos. A raiva lhe deu forças inesperadas. Perdoe-me por esta pequena trapaça!
O senhor Magnus se acalmou logo. Depois, olhou surpreso para a pedra que já estava de novo na mão doente. Então, ele sorriu e acenou com a cabeça.
— Está certo...
Eskil não estava especialmente de bom humor e isso se notava muito, ainda que ele fizesse tudo para não demonstrar. Não se tratava apenas de precisar viajar a cavalo até a pedreira e voltar, o que iria exigir o dia inteiro, de um verão bem quente, e uma boa parte da noite. Além disso, estava com a sensação de que não era mais o senhor dentro da sua própria casa, tal como estava habituado a ser já há vários anos.
Havia andaimes montados e levantados ao longo dos muros de Arnäs e havia gente chamada para trabalhar e trazer mais caibros de madeira da floresta sem que fosse consultado. Era como se Arn em muitas coisas se tivesse tornado um estranho. Parecia não entender mais que um irmão mais novo não poderia ocupar o lugar do irmão mais velho. E também parecia não entender a razão por que um fol-keano, membro do conselho do rei, devia viajar com uma força armada bastante, apesar de haver paz no reino.
Atrás deles vinham dez homens a cavalo, completamente armados, e, tal como Arn, envergando suas vestes de malha de aço sob os mantos. Ele próprio, Eskil, vestia como se estivesse indo para a caça ou para um banquete, com manto curto e chapéu com penas. O velho monge cavalgava com o seu hábito de lã branca, bem grossa, e com capuz, o que devia fazer a viagem difícil de agüentar, embora a esse respeito não se visse nenhum sinal no seu rosto. Estava, no entanto, meio engraçado, visto ter sido obrigado a enrolar o hábito para cima, até os joelhos, de maneira que podia-se ver, nuas, as suas barrigas das pernas. Tal como Arn, ele cavalgava um desses cavalos estrangeiros, menor e agitado.
Na primeira encosta de Kinnekulle, surgiu uma sombra agradável, ao cavalgar sob frondosas faias, muito altas. Eskil se sentiu, de imediato, com a disposição melhorada e pensou logo que estava na hora de falar em bom senso, ou na sua falta, quanto à reconstrução de Arnäs. Durante muitos anos nos negócios, ele aprendeu não ser inteligente iniciar disputas, nem mesmo sobre pequenos casos, quando se está quente demais ou sedento demais ou de mau humor. Mas com a temperatura amena, debaixo das árvores, tudo iria ficar melhor.
E acelerou seu cavalo, de forma a ficar ao lado de Arn, que parecia cavalgar com os pensamentos muito longe dali, certamente muito mais longe do que qualquer pedreira.
— Você deve ter montado em dias de verão mais quentes do que este, certo? — começou Eskil, inocentemente.
— Sim — respondeu Arn, parecendo ter sido acordado de outros pensamentos —, na Terra Santa, o calor no verão, às vezes, era tão grande que ninguém conseguia andar de pés descalços no chão sem se queimar. Agora, cavalgar nesta temperatura amena, em comparação, é como estar nos prados do Paraíso.
— Mas você insiste em vestir essa malha de aço, como se ainda devesse estar pronto para combater. Como pode?
— É questão de hábito, há mais de vinte anos. Talvez eu sentisse frio se cavalgasse, montado e vestido como você, meu irmão — reagiu Arn.
— É. Pode ser — concordou Eskil, que conseguiu assim levar a conversa para onde queria. — Você não viu nada a não ser guerra, desde que nos deixou, quando adolescente, não é?
— É verdade — respondeu Arn, pensativo. — É quase um milagre voltar a montar num país lindo como este, nesta temperatura amena, sem refugiados e casas queimadas ao longo dos caminhos, sem a todo momento ter de ficar observando as florestas ou olhando para trás, receando ser seguido por cavaleiros inimigos. Chega a ser difícil descrever apenas a situação, tal como a gente a sente ainda hoje.
— Tal como é bastante difícil para mim descrever como eu me sinto, depois de quinze anos de paz. Assim que Knut se tornou rei e
Birser Brosa, seu conde e ministro, a paz se estabeleceu no nosso reino e permaneceu desde então. Você deve considerar isso.
— Ah, sim? — questionou Arn, olhando para o seu irmão ao compreender que a conversa não era apenas sobre sol e calor.
— É um custo enorme que você está colocando sobre os nossos ombros, com essa sua mania de reconstruir — esclareceu Eskil. — Quer dizer, pode parecer uma burrice gastar com preparativos para a guerra, a um custo enorme, quando estamos em paz.
— Quanto ao custos, sou eu que estou pagando, com três arcas de ouro — reagiu Arn, rápido.
— Mas toda essa pedra que vamos comprar, em vez de vender, é um custo muito grande, um custo de guerra em tempo de paz — objetou Eskil, pacientemente.
— Vou explicar melhor — replicou Arn.
— Quer dizer... É verdade que somos proprietários de todas as pedreiras. Portanto, não vamos ter que jogar dinheiro fora pela pedra que você quer utilizar. Mas nesses anos de paz são construídas muitas igrejas de pedra em toda a província da Götaland Ocidental. E muita da pedra necessária vem das nossas pedreiras...
— E se pegarmos as pedras para utilizá-las nas nossas próprias construções, vamos perder dinheiro e o lucro na venda, é isso que você quer dizer?
— É isso sim. É assim mesmo que fazemos as contas, quando se trata de negócios.
— É verdade. Mas se não fôssemos os donos das pedreiras, eu teria pago pelas pedras, de qualquer maneira. Então, poupamos esse custo. É assim que se fazem as contas também nos negócios.
— Mas, então, resta a questão de saber se não é burrice utilizar tanta riqueza para construir para a guerra quando estamos em paz — suspirou Eskil, insatisfeito pelo fato de, pela primeira vez, não ter conseguido nada com os seus esclarecimentos. Afinal, para ele, tudo na vida podia ser avaliado em dinheiro.
— Em primeiro lugar, não vamos construir para a guerra, mas para a paz. Isto porque em tempos de guerra não temos nem tempo nem os recursos para construir.
— Mas, se não houver guerra — insistiu Eskil —, não seriam inúteis todos esses esforços e todos esses custos?
— Não — reagiu Arn —, visto que, em segundo lugar, ninguém sabe o que o futuro lhe reserva.
— Portanto, nem mesmo você, por muito que seja experiente em todas as questões de guerra.
— Isso é verdade. E por isso mesmo é mais inteligente se preparar para a guerra, fortemente, enquanto é tempo e há paz. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Quer saber qual seria a maior felicidade com esta construção? A de ver que nunca nenhum exército estranho se atreveria a montar cerco à volta de Arnäs. Então teríamos construído tudo da maneira certa.
Eskil ainda não estava convencido, antes continuava um pouco inseguro. Se era certo que, pelo que se poderia prever, o tempo das guerras havia passado, a construção de um novo castelo como uma fortaleza melhor, da espécie como Arn a tinha pensado, não valia a pena, nem toda a prata gasta.
E pelo que acontecia no reino, no momento, era como se o tempo das guerras tivesse passado. De uma paz tão longa como aquela que estava ocorrendo no reinado do rei Knut não havia memória, nem as lendas ainda cantadas se referiam a coisa semelhante.
Eskil achava que na época a guerra era desconsiderada como meio de luta pelo poder. Achava melhor que o poder viesse do casamento correto entre filhos e filhas e achava ainda que a riqueza proporcionada pelo comércio com os países estrangeiros criava um escudo contra a guerra. Quem é que estaria disposto a arrasar com seus negócios? A prata era mais forte do que a espada e os homens casados entre famílias opostas dificilmente levantavam as espadas uns contra os outros.
Era dessa maneira sensata que se estava tentando manter a ordem nos tempos do rei Knut, se bem que ninguém poderia estar absolutamente certo, já que era impossível descortinar com certeza o futuro.
— Até que ponto é possível tornar mais forte o castelo de Arnäs? — perguntou Eskil, depois de sua longa viagem paralela pelos seus pensamentos.
— Suficientemente forte para que se torne inconquistável — respondeu Arn, seguro, como se isso fosse uma verdade inquebrantável.
— Podemos construir uma Arnäs tão forte, a ponto de ser possível aos folkeanos e a todos os servos viverem dentro dos seus muros por mais de um ano. Nem mesmo o mais forte dos exércitos, sem grandes perdas, poderá manter o estado de sítio por tanto tempo. É só pensar no frio do inverno, na chuva do outono e na neve mole, da mistura com a lama, na primavera.
— E o que é que iríamos comer e beber durante esse longo tempo! — exclamou Eskil, com uma expressão de tanto medo que Arn chegou a exibir um largo sorriso de compreensão.
— Receio que a cerveja iria terminar logo depois de mais ou menos um mês — disse Arn. — E para o final talvez tivéssemos que ficar a pão e água como se estivéssemos em penitência dentro de qualquer mosteiro. Mas a água existe dentro dos muros. É só preparar mais uns dois poços. E milho e trigo, assim como peixe seco e carne defumada, é só guardar com cuidado e em grandes quantidades. Mas para isso é preciso construir uma nova espécie de arcas de pedra para evitar que entre umidade. Construir essas despensas é tão importante quanto construir os muros fortes. Desde que se façam as contas certas quanto ao que se precisa ter e ao que se tem, será possível até produzir e ter mais cerveja.
Eskil se sentiu logo mais aliviado com as últimas palavras de Arn a respeito da possibilidade de produzir mais cerveja. Sua desconfiança começou a se transformar em admiração e logo passou a perguntar, cada vez mais interessado, a respeito de como ocorriam as guerras no reino dos francos, na Terra Santa e no Sachsen e em outros países, com mais gente e maiores riquezas do que as que existiam na Escandinávia. A resposta de Arn levou-o para um mundo novo, onde os exércitos eram constituídos mais por cavaleiros e onde as grandes catapultas de madeira jogavam blocos de pedra contra muros que eram duas vezes mais altos e duas vezes mais espessos do que os muros de Arnäs. Finalmente, Eskil se mostrou tão interessado em fazer novas Perguntas que os dois resolveram parar para descansar. Arn limpou de folhas e ramos um lugar, perto de uma frondosa faia, e abriu uma clareira com os seus pés revestidos de aço. Pediu a Eskil para se sentar em cima de uma grossa raiz de árvore e chamou pelo monge que, em silêncio, fazendo vênias, se sentou ao lado de Eskil.
— O meu irmão é um homem de negócios que quer construir a paz com pratas. Mas agora vamos contar como se constrói a mesma paz com aço e pedra — explicou Arn, puxando pelo seu punhal, e começando com a ponta a desenhar uma fortaleza na terra marrom aplanada.
A fortaleza que ele reproduziu chamava-se Beaufort e estava situada no Líbano, ao norte de Jerusalém. Fora cercada mais de vinte vezes durante períodos de tempo maiores e menores e, por vezes, pelos mais receados comandantes sarracenos. Mas ninguém tinha conseguido tomá-la, nem mesmo o grande Nur al-Din, que uma vez avançou com dez mil guerreiros, cercando o forte por mais de um ano e meio. Tanto Arn como o monge haviam estado antes na fortaleza de Beaufort e se lembravam muito bem dela. Ambos se ajudavam a relembrar os detalhes que Arn desenhava no solo com o seu punhal.
Eles explicaram tudo, na seqüência certa, começando pelo mais importante. E o mais importante era a própria situação: ou no cimo de uma montanha, como a Beaufort, ou no meio do mar, como Arnäs. Mas por melhor que fosse a situação para as táticas de defesa era preciso ter acesso à água dentro dos muros do forte, não uma fonte fora dos muros que o inimigo pudesse descobrir e cortar.
Depois da água e da boa situação, vinha a capacidade de armazenar mantimentos em quantidades suficientes, principalmente grãos para fazer pão e forragem para cavalos. Só então se devia pensar no formato dos muros e das valas a construir para impedir o inimigo de levantar torres de assalto ou avançar com catapultas de atirar pedras e sujeira para dentro da fortaleza. E depois disso o mais importante era a colocação das torres e das ameias de tiro de modo que com o menor número de atiradores fosse possível conseguir cobrir a maior área possível, de todos os ângulos, ao longo dos muros.
Arn desenhou torres que ficavam suspensas para fora dos muros em todos os cantos do forte e explicou como, a partir dessas torres, era possível atirar ao longo dos muros pelo lado de fora e não apenas para a frente dos muros. Dessa maneira era possível reduzir os atiradores, em cima dos muros a uma quantidade pequena, o que era uma grande vantagem. Melhores ângulos de tiro e menos atiradores, isso era importante.
Aqui, Eskil resolveu interromper, embora de maneira hesitante, visto que não queria parecer idiota. Mas não tinha entendido qual era a vantagem de utilizar menos atiradores, vantagem que parecia tão clara para Arn e o monge. O que se ganharia em diminuir a força de atiradores em cima dos muros?
Resistência, perseverança, explicou Arn. O estado de sítio não era como uma festa de três dias. Era preciso agüentar, não deixar que o cansaço reduzisse a atenção das sentinelas. O sitiante de um forte quer, ao final, invadi-lo, caso não consiga ocupá-lo através de negociações. Os sitiantes podiam escolher a hora: depois de um dia, de uma semana ou de um mês, de manhã, à noite ou bem no meio da tarde. De repente, vinham todos ao mesmo tempo com escadas contra os muros, chegando de todos os ângulos, e se fossem bem competentes em disfarçar as suas intenções, os sitiados podiam ser surpreendidos.
Esse era o momento decisivo. Por isso, era preciso que apenas um terço dos sitiados estivesse nos muros e servisse apenas durante algumas horas. E que os outros dois terços ficassem em descanso, até dormindo, se fosse o caso. Se o alarme soasse, não demoraria muito para que todos os defensores, bem descansados, assumissem as suas posições de combate. Treinando bem algumas vezes, a força dos defensores podia crescer de um terço para o total, no mesmo espaço de tempo que levavam os sitiantes para correr com as suas escadas de assalto. O sono, portanto, era parte importante da defesa. Com essa ordenação, também havia uma reserva em termos de camas para dormir, visto que havia sempre um terço dos defensores de sentinela nos muros. Em contrapartida, sempre existia uma cama aquecida quando eles desciam dos seus postos.
Mas voltando ao castelo de Beaufort. Era, evidentemente, um dos mais fortes do mundo, mas estava localizado também numa região onde era preciso se defender dos exércitos mais fortes. Iria demorar dez anos para construir um castelo como esse em Arnäs, com muito trabalho extra e sem utilidade. Ou, como Arn salientou, lançando um olhar na direção de Eskil, com muitos gastos em prata. No entanto, uma guerra como aquelas da Terra Santa, com aqueles exércitos, não iria alcançar Arnäs.
Arn apagou a imagem do forte de Beaufort com o pé e começou a desenhar a de Arnäs como ficaria, com um muro que emolduraria uma área duas vezes maior do que aquela agora existente. Toda a parte externa do istmo iria ser murada, e onde o istmo se transformava em terreno arenoso iria ser construído um novo portão, embora um pouco mais elevado no muro. Mas para isso era preciso construir uma rampa de acesso de pedra e terra com um fosso entre o muro e o amparo da ponte levadiça, do outro lado. Dessa maneira, ninguém poderia avançar com as catapultas e usá-las contra o portão, que, por mais forte que fosse construído, seria mais fraco do que os muros de pedra. Um portão ao nível do terreno seria convidar o inimigo para a festa de uma vitória rápida.
Se tudo isso fosse construído em boa ordem, assegurou Arn, seria possível para ele, junto com menos de duzentos homens dentro dos muros, defender Arnäs de qualquer exército nórdico.
Eskil perguntou então a respeito do perigo de incêndio, e o monge assim como Arn acenaram com a cabeça, considerando que a pergunta era inteligente e cabível. Arn desenhou novamente e descreveu como os planos do burgo ficariam e seriam construídos de pedra, com todos os telhados de turfa sendo substituídos por telhas de argila ou ardósia. Tudo o que pudesse arder seria substituído por pedra ou defendido durante eventuais cercos por couro de gado bovino mantido permanentemente molhado.
Isso seria apenas, no entanto, o lado defensivo da coisa, continuou Arn, entusiasmado, agora que viu ter atraído o interesse de Eskil. Mas
Eskil não entendia o que ele queria dizer, Arn teve de interromper o que falava e discutir, por momentos, a palavra certa, com o monge. Concordaram, então, em dizer que esse era o lado da defesa que ficava parado, apenas se defendendo.
O outro lado era o ataque. Isso se fazia de preferência com a cavalaria e muito antes de o inimigo chegar para sitiar o castelo, a própria fortaleza. Na realidade, seria uma empreitada muito grande e muito demorada avançar até Arnäs com o exército sitiante do inimigo. No caminho, os suprimentos do inimigo seriam atacados a toda hora por cavaleiros mais rápidos do que os deles e isso já diminuiria a vontade de combater e a força do inimigo.
E quando o cerco tivesse durado, mais ou menos, uma semana e a atenção do inimigo tivesse diminuído, os portões do castelo seriam abertos de repente e por eles sairiam de roldão os cavaleiros bem armados e nessa ação morreriam mais sitiantes do que sitiados. E Arn continuava desenhando no chão linhas profundas com a ponta do seu punhal.
Eskil não podia deixar de ficar cada vez mais confuso com a descrição de como a guerra era diferente em outros países em relação à Escandinávia. Ele entendia o pensamento de Arn, raciocinava ele, de que aquilo que já acontecia lá fora acabaria chegando à Götaland Ocidental. O melhor, portanto, era aprender antes dos seus inimigos essas novidades e conservar essas forças. Mas como é que tudo isso seria feito, além de toda a construção?
Obter conhecimentos era uma das coisas a fazer, disse Arn. E ele próprio, assim como muitos dos seus viajantes convidados possuíam esses conhecimentos.
E prata era outra. Tal como a guerra era conduzida atualmente no grande mundo, aquele que tivesse mais prata era também o mais forte. Um exército de cavaleiros não vivia do ar ou da fé, ainda que ambas as coisas fossem necessárias. Antes, viviam de suprimentos que era preciso comprar e de armas que também precisavam ser compradas. A guerra nesses novos tempos era mais um negócio do que a vontade de grupos de defender a vida e as propriedades desses grupos. Por trás de cada homem bem armado e de veste de malha de aço estavam cem homens que plantavam, conduziam carroças de bois, produziam carvão para as forjas, forjavam armas e equipamentos de combate, os transportavam sobre o mar, construíam barcos e velejavam com eles, botavam ferraduras nos cavalos e os alimentavam. E por trás de tudo isso estava a prata, o dinheiro.
A guerra não se fazia mais entre duas famílias de camponeses por uma questão de honra ou para saber quem se chamaria de rei ou de conde. Era por negócios, e o maior deles era a guerra.
Aquele que levava em frente esse negócio com suficiente bom senso, prata e conhecimento saberia como comprar a vitória, caso houvesse guerra. Ou, melhor ainda, comprar a paz. Isto porque aquele que conseguisse se tornar suficientemente forte não seria atacado.
Eskil se sentiu, de repente, atingido, diante da compreensão de que ele próprio e seus negócios podiam ser duplamente mais importantes para a guerra ou a paz do que todos os seus escudeiros juntos.
Eskil ficou em silêncio. O monge e Arn entenderam mal, talvez, a falta de novas perguntas. Acharam que ele tinha se cansado de tanto aprender e se prepararam de imediato para se levantar.
Visitaram três pedreiras naquele dia antes de Arn e o monge encontrarem na quarta o que pretendiam. Era formada de arenitos e aquela onde há menos tempo se tinha começado a extração. Havia menos pedreiros, mas, em contrapartida, um estoque maior de pedras cortadas e ainda não vendidas.
Era onde havia muito tempo a ganhar, segundo Arn. O arenito, muitas vezes, podia ser um pouco fraco, principalmente quando os muros ficavam expostos a catapultas muito pesadas e fortes. Mas contra esse tipo de ataques não era preciso preparar Arnäs. O terreno no istmo terminava numa rampa muito íngreme perto dos muros e não havia condições para preparar essas máquinas para atirar neles. E a leste, na área do fosso e da ponte levadiça, o terreno era fraco demais, quase um brejo. Portanto, o arenito serviria muito bem.
Além disso, o arenito tinha a vantagem de ser mais fácil de cortar e de alisar do que o calcário, para não falar do granito, e ainda por cima já existia um bom estoque para que a construção começasse de imediato, sem demora. Isso era bom. Escolher a pedra certa poderia significar uma economia de mais de um ano para o início da construção. Portanto, por todas as razões, aquela era certamente a pedra ideal.
Eskil não fez objeções e pareceu aos olhos de Arn, inesperadamente, bem receptivo ao concordar com todas as decisões de como o trabalho devia ser feito na pedreira na semana seguinte e onde e como novos pedreiros deviam ser contratados.
Em compensação, Eskil reclamou de muita sede e dirigiu para o irmão Guilbert um olhar meio estranho quando este, servilmente, lhe estendeu um saco de couro com água fresca.
A viagem seguinte que eles fizeram juntos foi um pouco menos longa, apenas dois dias de Arnäs para Näs, na ilha Visingsö, no lago Vättern. Para Arn, no entanto, essa seria a viagem mais longa da sua vida.
Ou, como ele próprio achava, esse seria o final de uma viagem que durara quase toda a sua vida.
Arn tinha feito um juramento sagrado para Cecília, dizendo que enquanto pudesse respirar e enquanto seu coração batesse, ele tudo faria para voltar para casa. Esse juramento, ele o tinha feito, justo diante de sua espada abençoada de templário, um juramento que jamais poderia ser quebrado.
Evidentemente, agora, ele conseguia até rir ao tentar imaginar como ele próprio era, aos dezessete anos de idade e sem as marcas da guerra, tanto na alma quanto no corpo. Fora um idiota como apenas um ignorante pode ser. Com certeza poderia rir-se, com vários sentimentos misturados, caso se tentasse imaginar um tal jovem, um tal Persival, teria dito o irmão Guilbert, com o olhar iluminado, jurando que iria sobreviver a vinte anos de guerra no Ultramar. Além do mais, como templário. Era um sonho impossível.
Mas naquele momento não se podia rir do sonho impossível, visto que esse sonho estava a ponto de se realizar.
Durante esses vinte anos, ele rezou uma vez, em alguma hora, a cada vinte e quatro horas. Não, talvez nem todos os dias, não durante alguma campanha ou alguma batalha mais prolongada, em que a espada estava em primeiro lugar, à frente da oração, mas quase todos os dias ele pediu à Mãe de Deus para proteger a sua Cecília e seu filho desconhecido. Isso Ela fizera. E não teria feito isso, sem querer acrescentar algo.
Visto por esse lado, o que, por muito que a gente brigasse com o seu raciocínio, era a maneira certa de ver as coisas, ele podia agora deixar de recear o que quer que fosse no mundo inteiro. Fora a Sua vontade especial que resolvera os unir de novo. Era isso que estava para acontecer. Portanto, por que se preocupar?
Por muitos motivos. Assim acontecia quando ele se obrigava a pensar no que poderia acontecer. Ele amava uma jovem de dezessete anos chamada Cecília Algotsdotter e, então, como agora, amar uma pessoa eram palavras impróprias na boca de um folkeano e, mais ainda, quase uma zombaria do amor a Deus. Também ela havia amado um jovem que era outro Arn Magnusson, diferente daquele de agora.
Mas quem eram eles agora? Muito havia acontecido com ele próprio durante mais de vinte anos de guerra. Outro tanto, embora de maneira diferente, devia ter acontecido a ela durante vinte anos em penitência no convento de Gudhem, sob as ordens de uma abadessa que, como ele foi informado, era uma mulher repulsiva.
Será que eles iriam se reconhecer um ao outro?
Ele tentava se comparar com aquele jovem que fora com a idade de dezessete anos. Que a diferença era grande no corpo, isso era indiscutível. Possivelmente, tinha um rosto mais charmoso como jovem, tão certo quanto agora não ser mais tão charmoso assim. Metade da sua sobrancelha esquerda não se distinguia do resto da face e a têmpora era uma única cicatriz branca, aquela que ele recebeu na grande derrota perto do Chifre de Hattin, aquele lugar desgraçado e maldito por toda a eternidade. No resto do rosto, ele tinha nada menos do que vinte cicatrizes brancas, talvez mais, na maioria causadas por flechas. Não iria uma mulher, saída do suave e pacífico mundo do convento de Nossa Senhora, voltar as costas por repugnância diante de um rosto assim, e na certeza do que esse rosto contava a respeito do homem?
Iria ele reconhecê-la? Sim, isso ele tinha certeza de que ia acontecer. A sua madrasta, Erika Joarsdotter, era apenas alguns anos mais velha do que Cecília e ele a reconhecera de imediato, assim como ela o reconhecera a distância. Foi uma consolação raciocinar assim.
O pior de tudo era pensar no que ele deveria dizer a ela ao se encontrarem. Era como se a sua cabeça se fechasse, quando ele tentava pensar nas palavras bonitas que deveria dizer na primeira saudação. Para isso, ele precisava procurar ainda mais o consolo e os conselhos da Mãe de Deus.
Eles navegavam contra a corrente pelo rio Tidan, com oito remadores. Arn ficou sozinho lá na frente, na proa, e olhava direto para baixo, para a água escura onde podia descortinar o seu rosto dilacerado. No centro plano dessa barcaça fluvial sem quilha que vivia subindo e descendo aquele rio, estavam seus três cavalos. Arn convenceu Eskil de que não era preciso nenhum escudeiro para essa viagem, visto que ele próprio e Harald estavam bem armados e com os seus arcos e uma boa quantidade de flechas. Alguns escudeiros nórdicos não iriam significar nada, mas apenas ocupar espaço.
Eskil acordou-o de seus sonhos, de repente, ao colocar a mão sobre seus ombros. Quando Arn reagiu ao toque, Eskil riu descontrai-damente diante daquele escudeiro que, com certeza, devia estar alerta, espiando atentamente a frente do barco. E foi avançando com um pedaço de pernil defumado que Arn recusou.
— É maravilhoso viajar no rio num bonito dia de verão — disse Eskil.
— Concordo — disse Arn, observando os salgueiros e os amieiros que acarinhavam com os seus ramos a embarcação subindo a fraca corrente. — Isso é uma coisa com a qual eu sonhava, mas não sabia se ia ver de novo.
— É. Mas está na hora de falar sobre o lado ruim das coisas — disse Eskil, sentando-se pesadamente ao lado de Arn. — Que lamentavelmente vou ter que lhe contar...
— É melhor contar-me logo. Você vai ter que me contar, de qualquer maneira — disse Arn, levantando-se da sua posição meio deitada, contra a borda do barco.
— Você e eu tínhamos um irmão. Temos duas irmãs, que já estão casadas, mas o nosso irmão que se chamava Knut foi morto por um dinamarquês quando tinha dezoito anos.
— Então, vamos, pela primeira vez, rezar juntos por sua alma — disse Arn, rapidamente.
Eskil suspirou mais uma vez, mas se conteve. Rezaram por muito mais tempo do que Eskil achou razoável.
— Quem o matou e por quê? — perguntou Arn, quando levantou a cabeça. No seu rosto havia menos tristeza e raiva do que Eskil havia esperado.
— O dinamarquês chama-se Ebbe Sunesson. Foi durante uma festa de despedida de solteiro no casamento de uma das nossas irmãs. E aconteceu em Arnäs.
— Quer dizer que a nossa irmã se casou com um sverkeriano ou dinamarquês? — perguntou Arn, sem mudar de expressão.
— É. Kristina é casada com Konrad Pedersson e mora perto de Roskilde.
— Mas como aconteceu? Como é que uma brincadeira de despedida de solteiro pôde terminar em morte?
— O ambiente pode esquentar, como você sabe... Muita cerveja correu fácil dessa vez, aliás, como das outras vezes também, e o jovem Ebbe Sunesson resolveu jactar-se de como era bom espadachim e achava que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Aqueles que costumam usar esse tipo de discurso ao lado da barrica de cerveja, na maioria das vezes, estão mais blefando contra si mesmos do que contra os outros. Mas, no caso deste Ebbe, ele se mostrou realmente forte com a espada. Hoje ele faz parte da guarda especial do soberano dinamarquês.
— E aquele que se deixou enganar Foi o nosso irmão Knut, certo?
— Isso mesmo. Knut não era bom de espada. Era como eu e como o nosso pai, mas não como você.
— Então diga o que aconteceu. Arranhões e manchas roxas é o que normalmente resulta dessas brincadeiras, em especial quando alguém resolve enfrentar quem é melhor de espada. Mas a morte?
— Primeiro, Ebbe cortou a orelha de Knut, e muitos riram do caso. Talvez Knut se retirasse depois do primeiro sangue corrido. Mas Ebbe fez gozação em cima dele e aí os risos foram maiores e mais altos. E foi então que Knut atacou com raiva...
— E morreu na hora. Posso imaginar o que aconteceu — disse Arn, com mais tristeza do que raiva na voz. — Se Deus quiser, Ebbe Sunesson vai um dia ter que enfrentar o irmão de Knut na espada. Mas só se Deus quiser. Não pretendo me vingar por vontade própria. Mas vocês não se vingaram do assassino, não? Deviam ter exigido uma grande penitência.
— Não, nós renunciamos à penitência — respondeu Eskil, envergonhado. — Não era um caso fácil, mas o contrário também não o seria. Ebbe Sunesson pertence à família Hvide, para a qual a nossa irmã Kristina ia entrar pelo casamento no dia seguinte. A família Hvide é a mais poderosa na Dinamarca depois da família do rei. O arcebispo Absalon, de Lund, é um Hvide.
— Não deve ter sido um casamento alegre — disse Arn, tranqüilamente, como se estivesse a falar do tempo.
— Não, claro que não — condescendeu Eskil. — Todos os convidados dinamarqueses viajaram no dia seguinte para o Sul, para terminarem a festa de casamento em casa. Nós sepultamos Knut em Forshem e, um dia mais tarde, nosso pai teve um derrame. Acho que o seu mal foi resultado da sua tristeza.
— Devemos ter pago caro em termos de presente de noiva nesse negócio astucioso de nos aparentarmos com essa tal família Hvide — murmurou Arn, olhando para baixo, para as águas escuras do rio. — E quantas mais tristezas você tem para me contar?
Notava-se que Eskil tinha vários males para contar. Mas continuava hesitante. Foi preciso Arn estimulá-lo mais uma vez. Era melhor contar todos os males logo do que deixar para depois.
A desgraça seguinte se relacionava com Katarina Algotsdotter, a irmã de Cecília, esposa de Eskil e mãe de duas filhas já casadas e de um filho, Torgils, que os dois talvez fossem encontrar no castelo do rei, em Näs.
Katarina não fora uma esposa ruim, nem ruim como mãe. Sem dúvida foi muito melhor do que se esperava, atendendo a que era considerada como manhosa e intriguista.
Por uma questão de honra, mais do que pelo dote e o poder, Eskil teve de se casar com Katarina. Algot Pälsson, o pai de Cecília e de Katarina, havia fechado um acordo sobre o casamento de Cecília com Arn. Mas quando o acordo se rompeu no momento em que Arn e Cecília foram atingidos pela punição da Igreja, de vinte anos de penitência, Algot exigiu uma reparação, o que, aliás, era seu direito.
A honra dos folkeanos estava em jogo e era uma das partes do negócio. A outra parte incluía uma pedreira, uma floresta e um bom pedaço de praia ao longo do lago Vänern como dote. O bom dessa parte do negócio, possivelmente, era que Eskil via melhor do que os outros. Isso porque, assim, ele passava a controlar todo o comércio por mar em toda a Götaland Ocidental.
E a pedreira valia muita prata nesses tempos em que se construíam muitas igrejas em todo o país. Muita prata, desde que não se jogassem fora as pedras em construções próprias, acrescentou ele, numa tentativa fracassada de fazer graça. Arn reagiu apenas com um leve sorriso.
Recompensar Katarina com um dote e as chaves da casa, depois do que ela fizera de mal para Arn e Cecília, ao revelar para a abadessa Rikissa o que não devia, não fora um caso fácil. Mas ainda assim fora a melhor maneira de arranjar as coisas. Ninguém iria poder dizer que os folkeanos tinham quebrado uma promessa e um acordo firmado.
Durante muitos anos, Katarina foi uma esposa gentil que cumpria com todos os deveres que lhe competiam. Mas passados quinze anos, ela cometeu o pior de todos os pecados.
Eskil ficava durante longos períodos em Näs ou em Aros Oriental ou até mais longe para o sul, em Visby e Lübeck. E durante esses períodos em que ficava sem o seu esposo, Katarina se divertia cada vez com mais freqüência de uma forma que dificilmente poderia ser perdoada através de penitências. À noite, ela recebia em seu leito um dos escudeiros.
Quando Eskil, pela primeira vez, teve conhecimento do que se passava, resolveu advertir Katarina e explicou que se falassem mais uma vez desse pecado em sua casa, o perigo era grande de acontecer uma grande infelicidade para todos. A palavra da lei para casos de prostituição era duríssima, e apenas uma parte do que podia acontecer de ruim. O pior seria se os seus filhos ficassem órfãos de mãe.
De início, Katarina pareceu se corrigir. Mas, em breve, voltou tudo ao que era. Eskil notou essa volta ao pecado, não apenas pelo que se dizia em Arnäs, mas também pelos rumores terem chegado até Näs e ter visto muitas expressões zangadas entre os conselheiros do rei. Ele » fez então o que a sua honra mandava, mas a decisão não foi fácil, antes dolorosa.
O escudeiro Svein fez aquilo que lhe mandaram fazer. Uma noite em que Eskil se encontrava com o rei em Näs, se bem que no seu quarto e tendo um pesadelo, Svein e dois outros escudeiros entraram na sala em que todos em Arnäs sabiam que os pecadores se encontravam.
Não mataram Katarina, mas apenas o homem com quem ela se prostituía. Os lençóis ensangüentados foram levados ao fórum para servir de mortalha para o pecador. Katarina foi levada para o convento de Gudhem, onde fez seus votos.
No que dizia respeito à prata, neste caso, isso foi o mais fácil. Eskil ofereceu de presente a quantidade de marcos que achou necessária para Gudhem. E Katarina desistiu de suas propriedades para a família folkeana, no momento em que fez os seus votos. Esse foi o preço que ela pagou para continuar viva.
Depois dessas notícias, a viagem continuou melancólica por um longo período. Harald Dysteinsson ficou sozinho na popa do barco
com o timoneiro, sentindo que não devia se meter na conversa dos dois irmãos, lá na proa. Que era uma conversa cheia de desgraças por contar podia-se ver, mesmo a longa distância.
Abaixo da antiga praça da assembléia do burgo de Askeberga, onde o rio Tidan fazia uma curva pronunciada em direção ao sul, havia um lugar para descanso dos viajantes. Havia outras barcaças iguais à deles, compridas e de fundo chato, mas boas para transportes pesados, já meio puxadas para cima da praia. E foi grande a excitação geral entre os remadores e o povo do lugar à chegada do chefe folkeano, o senhor Eskil. Rapidamente, o povo foi empurrado para fora da única casa grande do lugar, as mulheres avançaram para fazer a limpeza, enquanto o dono da taberna, um escravo libertado que se chamava Gur-mund, chegava na hora com uma jarra de cerveja para o senhor Eskil.
Arn e Harald Dysteinsson apanharam os seus arcos e seus cestos de flechas, foram buscar palha e fizeram um alvo antes de se afastarem para praticar durante algum tempo. Harald brincou, dizendo que o único treino que eles puderam realizar durante o ano no mar exigia ter os inimigos bem perto, mas que, agora, com a ajuda de Deus, podiam se preparar melhor. Arn respondeu sucintamente, dizendo que o treino era uma obrigação, visto ser uma atitude pagã acreditar que Nossa Senhora estaria sempre disposta a ajudar até os preguiçosos. Apenas aquele que trabalhasse duro no tiro merecia acertar bem com a sua flecha.
Alguns dos garotos filhos de escravos se infiltraram na área para ver qual dos dois, que desconheciam, se portava melhor no tiro ao arco. Mas logo voltaram, afogueados, para a praça, contando para qualquer um que quisesse ouvir que aqueles arqueiros eram os melhores do mundo. Alguns dos libertados seguiram então para o lugar do treino para ver com os seus próprios olhos se era verdade. Tanto o folkeano quanto o escudeiro de camisa vermelha norueguesa manejavam o arco e flecha como ninguém tinha visto antes.
Quando anoiteceu e estava na hora de os senhores comerem a sua ceia, já todos sabiam que o guerreiro desconhecido de costume folkeano era o irmão do senhor Eskil, e não demorou muito para que o rumor se espalhasse rapidamente por toda a região de Askeberga. O homem das lendas tinha voltado para a Götaland Ocidental. Ele, de costume folkeano, não podia ser outra pessoa senão Arn Magnusson, o tal de quem tantas cantorias se faziam e contavam. Na cozinha da casa, havia opiniões pró e contra. E na praça do burgo também. Mas ninguém tinha certeza de nada.
Alguns dos filhos mais jovens do escravo libertado, sem pensar, foram até a casa grande, pararam na porta e gritaram para Arn, pedindo para ele dizer qual era o seu nome. Um atrevimento desses podia custar a pele das suas costas, e o liberto Gurmund, que estava sentado na mesa dos senhores lá dentro, levantou-se cheio de raiva para castigar os atrevidos, ao mesmo tempo que se desculpava perante o senhor Eskil.
Mas Arn o impediu e avançou ele próprio em direção aos garotos, pegou-os pelo cachaço, de brincadeira, e os puxou para a praça do burgo. Aí ele se ajoelhou em uma das pernas, olhou para os garotos com uma expressão feia e pediu que repetissem a pergunta. Se é que ousassem fazê-lo...
— O senhor... O senhor é o senhor Arn Magnusson? — atreveu-se a perguntar o mais ousado de todos eles, fechando os olhos em seguida, como se esperasse receber uma palmada de imediato.
— Sim, eu sou Arn Magnusson — respondeu Arn, fazendo questão de se mostrar não mais como um sujeito zangado. Os garotos, no entanto, continuaram um pouco medrosos quando os seus olhos se voltaram para as marcas da guerra no seu rosto e depois para a espada com a cruz dourada tanto na bainha quanto na lâmina, penduradas ao seu lado.
— Queremos ficar ao seu serviço! — disse o mais ousado, aquele que perguntou primeiro, quando finalmente sentiu que nada tinha a recear, nem chicote, nem repreensão da parte do guerreiro.
Arn riu e explicou que isso era uma coisa para esperar dali a alguns anos. Mas, se treinassem bastante com a espada de pau e o arco, talvez isso não fosse impossível.
O menor dos dois se encheu, finalmente, de coragem, pedindo para verem a espada do senhor Arn. E este se levantou, hesitando um pouco antes de puxar por ela e tirá-la da bainha sem um ruído, num movimento rápido e certeiro. Os dois meninos ficaram ofegantes quando viram o aço brilhando ao sol poente. Como todos os garotos, eles souberam de imediato que aquela não era uma espada qualquer, das que se viam entre os escudeiros e os senhores. Era mais comprida e mais fina, mas sem a mínima mossa ao longo da lâmina. Assustadores eram também os desenhos de dragões e os sinais secretos em ouro brilhante incrustados na parte superior da espada.
Arn tomou a mão do garoto maior e passou o dedo indicador dele pelo fio da espada como se fosse o pouso de uma borboleta. Logo surgiu uma gota de sangue na ponta do dedo.
Arn meteu o dedo do garoto na sua boca, colocou a espada mágica na bainha, deu uma palmada carinhosa na cabeça dos dois e declarou que espadas assim tão afiadas estavam esperando já por todos aqueles que viriam a ficar ao seu serviço. Mas o trabalho duro os estava esperando também. Dali a cinco anos eles poderiam procurá-lo de novo se ainda estivessem interessados.
E aí ele fez uma vênia para eles como se já fossem os seus escudeiros. Virou-se e afastou-se em passos largos e com o manto esvoaçando, de volta para a sua ceia. Os dois filhos do escravo liberto ficaram petrificados, sem sair do lugar, enfeitiçados diante do leão folkeano nas suas costas, sem ousar se mexer antes de ele fechar o portão da casa grande.
Arn estava de muito bom humor ao entrar na casa grande, tão bom que seu irmão ficou espantado, sem entender como ele poderia ficar assim, depois daquilo que ele lhe contara na barcaça. Arn ficou logo sério, sentou-se à mesa em frente de Eskil, lançou um olhar de espanto para a bandeja de madeira com papa de milho, carne de porco e gordura que estava diante dele, afastou a bandeja e colocou a sua mão sobre a mão de Eskil.
— Eskil, meu irmão — disse ele. — Você tem que entender uma coisa a respeito de mim e de Harald. Nós cavalgamos durante muitos anos com a morte como nossa perseguidora. Nas matinas, com os nossos irmãos cavaleiros, jamais sabíamos qual de nós iria falar na oração do fim da tarde. Eu vi morrerem muitos dos meus irmãos, muitos deles melhores do que eu. Algumas das cabeças dos melhores irmãos decapitadas nas pontas de lanças inimigas do lado de fora de Beaufort, a fortaleza de que falei ontem para você. As desgraças deixo para lamentar na hora de rezar. Não pense também que fico rezando muito depois de você dormir. E não pense que não levei em consideração aquilo que você me contou.
— A guerra na Terra Santa deixou você com hábitos excêntricos
— murmurou Eskil, preso de repente, de uma profunda curiosidade.
— Havia muitos outros templários que eram melhores do que você, meu irmão?
— Sim — reagiu Arn, falando sério. — Harald é minha testemunha. Pergunte a ele.
— O que é que você me diz a esse respeito, Harald? — perguntou Eskil.
— Isso é verdade e, ao mesmo tempo, não é — respondeu Harald, levantando a cabeça do prato cheio de um mingau com muita gordura flutuante e carne de porco, que ele atacava com muito mais boa vontade do que Arn. — Quando cheguei à Terra Santa, achei que era um guerreiro formado, visto que desde os catorze anos de idade eu não fazia nada mais a não ser guerrear. E achava estar entre os mais fortes com a espada. Foram muitas as manchas roxas que me custaram essa falsa idéia. Os templários eram guerreiros de um jeito que eu nunca tinha visto, nem jamais podia ter imaginado. Segundo os sarracenos, um templário valia por cinco homens. E, na minha opinião, eles estão certos. Mas também é verdade que alguns dos templários estavam acima dos outros e um desses chamava-se Arn de Gothia, seu irmão. Na Escandinávia, não existe nenhum espadachim que se compare a Arn, isso eu juro por Nossa Senhora, Mãe de Deus!
O
— Não precisa jurar falso por Nossa Senhora! — reclamou Arn. — Lembre-se de espadachins como Guy de Carcasonne, Sérgio de Livorno e, acima de todos, Ernesto de Navarra.
— Sim, eu me lembro de todos eles — reagiu Harald, sem constrangimento. — Você também deve se lembrar de nosso acordo, de que, assim que puséssemos os pés fora do barco e em território nórdico, você não seria mais o meu comandante nem eu o seu sargento, a quem você pode dar ordens. Seria apenas o seu irmão nórdico. E para você, Eskil, posso garantir que todos os nomes que seu irmão mencionou eram dos homens mais habilidosos com a espada. Mas agora estão todos mortos e Arn está aqui conosco, vivo.
— Isso não dependeu apenas da espada, da lança e do cavalo — disse Arn, abaixando a cabeça e seu olhar. — Nossa Senhora me protegeu com as Suas mãos macias e seguras. Isso porque Ela tinha uma intenção.
— Espadachins vivos são melhores do que espadachins mortos — disse Eskil, resumindo a questão e dando o assunto por encerrado, através do tom da sua voz. — Aliás, parece que mingau de milho com toucinho também não satisfaz o nosso espadachim, certo?
Arn concordou que era uma coisa estranha para ele recusar qualquer presente de Deus oferecido na mesa, mas também era verdade que ele tinha dificuldade em comer aquela gordura de porco flutuando no prato. Ainda que tivesse de concordar também que a gordura era necessária para aquecer e ajudar a enfrentar o inverno nórdico.
Eskil achou difícil de entender a reclamação do seu irmão quanto à comida, novamente, naquele dia e do jeito que ele falou. Mas logo deu uma ordem para um dos homens entre os remadores em outra mesa para ir até a despensa da barcaça e trazer alguns presuntos de Arnäs e uma porção de salsichas defumadas de Lõdõse.
Após a refeição em que cada um acabou comendo o que queria, Eskil levantou-se e foi até a lareira para pegar um pedaço de carvão. De volta à mesa, limpou os restos de comida com o braço e desenhou com o carvão, rápida e facilmente, o caminho de Lõdõse até o rio Gota, depois o lago Vänern, passando por Arnäs e a nascente do rio Tidan onde a viagem deles tinha começado. No rio Tidan estavam eles agora, a caminho de Forsvik, no lago Vättern. E da margem oposta deste lago, eles seguiriam para Boren e depois para Linkõping. Daqui era possível seguir outras linhas, ligando tanto para o norte, para Svealand, como para o sul, para Visby e Lübeck. Esta era a espinha dorsal do reino dos seus negócios, explicou ele, orgulhosamente. Todas as águas, de Lõdõse até Linkõping, eram dominadas por ele, todos os barcos eram dele, assim como todas as barcaças e os veleiros maiores e de quilha que navegavam nos dois lagos e ainda todos os batelões perto das quedas de Trollen, no rio Gota. Mais de quinhentos homens, na maior parte escravos libertados, constituíam as tripulações dos navios que navegavam nessas linhas. Apenas nos invernos mais fortes e das maiores tempestades de neve esse comércio parava por algumas semanas.
Arn e Harald seguiram em silêncio e com toda a atenção as linhas desenhadas na mesa e as explicações de Eskil, reagindo positivamente. Era um grande marco, achavam os dois sinceramente, ter conseguido unir o mar do Norte e a Noruega com o mar Báltico e Lübeck. Dessa maneira era possível superar os dinamarqueses que estavam no poder.
Eskil ficou sombrio e a sua exultante autoconfiança foi por água abaixo. O que é que eles queriam dizer com isso e o que é que eles sabiam a respeito dos dinamarqueses?
Arn contou que quando estavam velejando ao longo da costa da Jutlândia, passaram por Limfjorden, para que Arn fizesse algumas orações e oferecesse de presente algum ouro para o mosteiro de Vitskol, onde ficou durante quase dez anos da sua infância. Em Vitskol, não puderam deixar de tomar conhecimento e de ver uma coisa e outra. A Dinamarca era um grande poder, unido primeiro sob o rei Valdemar e agora sob o comando do seu filho, Knut. Os guerreiros dinamarqueses pareciam-se mais com os francos e os sachsianos do que com os nórdicos. E a força que a Dinamarca possuía, bastava olhar, não podia deixar de ser utilizada. E ainda iria crescer e, certamente, à custa dos países alemães.
Da Noruega, era possível velejar até Lõdõse, no rio Gota, sem perigo de serem tomados e assaltados pelos dinamarqueses. Mas enviar navios de carga de Lõdõse para o sul, entre as ilhas dinamarquesas, para Sachsen e Lübeck, não era possível sem pagar altos pedágios.
E a discussão sobre os pedágios pagos era uma coisa que não interessava. Aquele que era mais forte, em breve, iria chegar à guerra para fazer valer a sua vontade. Guerra contra o poder dinamarquês era aquilo que, acima de tudo, devia ser evitado.
Eskil objetou fracamente que era possível tentar, através de um casamento, manter os dinamarqueses quietos, mas diante dessa afirmação, tanto Arn como Harald riram tanto que ele se ofendeu ficando emburrado por um longo período.
— Harald e eu já falamos sobre uma maneira de fortalecer o seu comércio. Acho que isso vai deixar você, neste momento, de melhor humor — disse Arn. — Apoiamos o seu comércio de todo o coração, estamos de acordo que você organizou tudo da melhor maneira possível. Portanto, escute o que temos a dizer. Em Lõdõse está ancorado o nosso barco, que Harald, como bom timoneiro norueguês que é, pode velejar sobre qualquer mar. A nossa proposta é a de Harald viajar nesse barco contra um bom pagamento em prata, entre Lofoten e Lõdõse. Lembre-se de que se trata de um barco com espaço para três cavalos e duas dúzias de homens, com todos os suprimentos e todas as rações necessárias e ainda as dez carroças de bois com mercadorias que arrastamos desde Lõdõse. Faça as contas agora de tudo isso em peixe seco e salgado, em bacalhau, de Lofoten e você vai ver que em duas viagens por verão você vai duplicar as suas receitas com esse peixe.
— Você ainda se recorda do que eu pensava a respeito do bacalhau de Lofoten — disse Eskil, já meio exultante de novo.
— Eu me lembro ainda daquela viagem a cavalo que fizemos muito jovens a caminho de Axevalla, onde se realizava a assembléia de todos os gotas — respondeu Arn. — Foi então que você me contou que ia tentar, com a ajuda dos nossos parentes noruegueses, buscar e vender o bacalhau de Lofoten. Me lembro de termos pensado logo nos quarenta dias de jejum antes da Páscoa e de como achei imediatamente que se tratava de um bom negócio. Como garoto criado num mosteiro, eu já tinha comido grandes quantidades de bacalhau. O peixe não ficou mais caro do que era. E isso deve ser muito bom para os seus negócios.
— Sem dúvida, nós dois somos mesmo filhos da senhora Sigrid — disse Eskil, sentimental, ao mesmo tempo que fazia sinal mais uma vez para trazerem mais cerveja. — Ela foi aquela que primeiro entendeu do que estamos agora falando. O nosso pai é um homem de honra, um fidalgo, mas sem ela ele não teria criado a grande riqueza que tem.
— A esse respeito, você tem toda a razão — respondeu Arn, empurrando a cerveja que lhe ofereceram para o lado de Harald.
— E, então, Harald, está disposto a ficar ao nosso serviço como timoneiro de um barco estranho? Ou prefere velejar à volta da Noruega pescando bacalhau? — perguntou Eskil, falando sério, enquanto bebia mais uma quantidade enorme da cerveja recém-trazida.
— É verdade. Já existe um trato entre mim e Arn — respondeu Harald.
— Estou vendo que você já está de veste nova de guerra — constatou Eskil.
— Entre os seus escudeiros em Arnäs, existem muitos noruegueses, como você sabe. Ao seu serviço, todos usam os mantos azuis e têm pouca utilização para as roupas que trouxeram. De um deles comprei esta veste birkebeinariense e com ela me sinto mais em casa do que usando as cores que sempre usei na Terra Santa — respondeu Harald, não sem um pouco de orgulho.
— Duas setas douradas em cruz sobre um fundo vermelho — murmurou Eskil, pensativo.
— Isso fica melhor em mim, já que o arco é a minha melhor arma e essas cores são minhas, me pertencem de direito — assegurou Harald. — O arco e flecha era a arma predominante dos birkebeinarienses e na Noruega não existia ninguém melhor do que eu com essa arma. E pior não fiquei na Terra Santa.
— Não, isso é certo e verdadeiro — reagiu Eskil. — Os birkebei-narienses confiavam muito na força dos arcos e daí resultou a maioria das vitórias. Você viajou para a Terra Santa no momento mais negro da história da família. Um ano mais tarde, chegou Sverre Munnsson das ilhas Faroe. Birger Brosa e o rei Knut o apoiaram com armas, homens e prata. Vocês venceram e agora Sverre é rei. Mas tudo isso você já deve saber.
— Sim, já sei. E é por isso que quero acompanhar seu irmão até Nas para agradecer ao rei Knut e ao conde Birger que nos apoiaram.
— Esse direito ninguém quer tirar de você — murmurou Eskil, preocupado. — E você é filho de Dystein Moyla, não é?
— É, é verdade. O meu pai morreu perto de Tõnsberg, em Re. Eu estava lá, era muito jovem. Fugi da vingança e fui para a Terra Santa. Agora estou voltando com as nossas cores.
Eskil acenou com a cabeça afirmativamente e bebeu de novo e pensou bem antes de se decidir para onde devia dirigir agora a conversa. Os outros dois acharam que ele não queria ser interrompido e ficaram esperando.
— Se é filho de Dystein Moyla você pode exigir seu direito à coroa norueguesa — disse Eskil, com aquele tom de voz que usava quando falava de negócios. — Você é nosso amigo, tal como Sverre, e isso é bom. Mas tem de fazer uma escolha. Vai ter de escolher entre apoiar os revolucionários e ser rei ou morrer. Ou poderá viajar até o rei Sverre, com salvo-conduto do conde e do rei Knut, e jurar fidelidade a ele. É assim que estão as coisas e nada existe entre as duas situações.
— E quando é que vou me transformar em seu inimigo? — perguntou Harald, mais rápido do que teria tempo de pensar acerca do que aquela nova notícia significava.
— Em nenhuma hipótese esperamos que você se torne nosso inimigo — respondeu Eskil, com a mesma rapidez. — Ou você morre na luta contra o rei Sverre e, portanto, não haverá tempo para se tornar nosso inimigo. Ou você vence. E continuará a ser nosso amigo.
Harald levantou-se, pegou o seu caneco de cerveja com ambas as mãos, bebeu tudo até o fim e bateu com o caneco em cima da mesa, de tal maneira que o pó de carvão do mundo dos negócios de Eskil voou para todos os lados. Depois disso, levantou as palmas das mãos no ar para evitar qualquer intervenção dos irmãos folkeanos. Em seguida, apontou para a sua própria cabeça e se afastou andando meio instável nas pernas, envolvendo o manto vermelho mais justo no corpo. Ao abrir o portão, seus olhos ficaram ofuscados pela luz clara da noite de verão nórdico e nesse momento ouviu-se um rouxinol cantando.
— O que é que você plantou na cabeça do amigo Harald? — perguntou Arn, franzindo a testa.
— Isso aprendi com você durante este pouco tempo que ficamos juntos, irmão. É melhor dizer agora do que dizer mais tarde o que precisa ser dito. O que você acha de tudo isso?
— O mais sensato para Harald seria jurar fidelidade ao rei Sverre logo na primeira viagem — disse Arn. — Na certa, o rei não deve premiar mal o filho de um herói em queda, que vem para ficar do seu lado. Se Harald e Sverre se entenderem bem, isso é o melhor que pode acontecer para a Noruega, para a Götaland Ocidental e para nós, folkeanos.
— É isso que penso também — disse Eskil. — Mas homens que sentem o rastro da coroa na cabeça nem sempre agem da maneira mais inteligente e sensata. Portanto... E se Harald se juntar aos revolucionários?
— Então, Sverre vai ter que enfrentar um guerreiro muito mais duro do que qualquer outro em toda a Noruega — disse Arn, tranqüilamente. — Mas vai acontecer a mesma coisa, se for o contrário. Se ele se conciliar com Sverre, então, este vai ficar, sem dúvida, bem mais forte, tão forte que a luta pela coroa vai diminuir. Conheço Harald há muitos anos na guerra, com ele a meu lado. Se a cabeça fica rodando naquele que, sem aviso prévio, acaba de receber a notícia de que pode ser rei, isso é fácil de entender. Uma notícia dessas poderia derrubar até a você ou a mim. Mas amanhã, depois de dormir e de pensar duas vezes sobre o assunto, ele vai voltar a ser o nosso timoneiro, de preferência a caçar a coroa norueguesa entre fogos e chuva de flechas.
Arn levantou-se e fez sinal com a mão de que não queria mais cerveja, puxou para si algumas peles de carneiro, fez uma vênia de boas-noites para seu irmão e saiu na noite de verão nórdico, com o sol já se levantando no horizonte, sem realmente se ter posto. Era o habitual sol da meia-noite. De novo se ouviu o rouxinol e a luz fria da manhã entrou pela bodega, batendo nos olhos de Eskil antes de se fechar o portão e de ele pedir mais cerveja.
Arn fechou os olhos e respirou fundo antes de entrar na noite ensolarada da sua infância. Sentia-se forte o cheiro dos amieiros e das bétulas e a névoa parecia dançar lá embaixo por cima das águas do rio. Não havia vivalma por perto.
Passou o seu manto de verão sem forro pelas costas, cruzou o cinto pela cintura e entrou na cerca do pasto das vacas para se ver livre da solidão. Mas no meio do pasto, entre a névoa, surgiu de repente um touro negro. Na névoa, a pessoa pode errar fácil, tanto na distância quanto no tamanho, pensou Arn.
O touro começou a arrastar o casco de uma das patas da frente no chão e também a fungar na direção de Arn. Inseguro quanto ao que devia fazer, este resolveu desembainhar a espada, continuando lentamente o seu caminho para o outro lado do cercado. Olhou de lado, pelo ombro, e viu que o touro continuava a arrastar pedaços de grama para um lado e para o outro. Arn pensou que seria extremamente desagradável ter de explicar para o seu irmão como é que ele havia deixado a sua companhia, bebendo cerveja, para vir lutar e dar golpes nas pernas em um dos touros do cercado.
Acabou atravessando o cercado sem que o touro resolvesse atacar e logo encontrou um salgueiro bem alto, cujos ramos mais baixos tocavam nas águas do rio, e se sentou sob ele. Os rouxinóis cantavam por todos os lados. E era estranho ouvi-los aqui na Escandinávia, como se a atmosfera clara e fresca fizesse com que o seu canto ficasse ainda mais bonito.
Arn rezou pelo seu irmão Knut, morto num momento de exagerada coragem, diante da vontade de um jovem senhor dinamarquês em matar apenas para se sentir o melhor dos guerreiros. Rezou pelos pecados do jovem senhor dinamarquês que deviam ser perdoados por Deus, assim como eram perdoados pelos irmãos do morto e que ele próprio não devia ser possuído pelos sentimentos de vingança.
Rezou ainda pela saúde de seu pai e pela sua recuperação. Rezou também por Eskil e pelas filhas e o filho de Eskil e pelas suas irmãs que ele ainda não conhecia e já eram mulheres casadas.
Rezou por Katarina, a irmã traidora de Cecília, e para que ela, no seu tempo no convento de Gudhem, tentasse se conciliar e pagar pelos seus pecados, procurando o perdão por tê-los cometido.
Rezou, finalmente e por muito tempo, para que a Mãe de Deus lhe desse clareza nas palavras diante do encontro que estava para acontecer e para que nada de mal acontecesse a Cecília e ao filho Magnus dos dois. E que todos se sentissem unidos pela bênção divina.
Ao terminar as suas orações, o sol se elevou brilhante, acima das névoas. E então ele se sentiu feliz por todas as graças que lhe foram concedidas, por sua vida ter sido poupada, ainda que, pela lógica, seus ossos já devessem estar transformados em pó sob o sol ardente da Terra Santa.
A Mãe de Deus teve piedade dele, muito mais do que ele merecia. Em contrapartida, Ela lhe dera uma missão a cumprir e ele Lhe prometera não trair essa confiança. Com todas as suas capacidades, ele devia trabalhar para tornar realidade a vontade Dela, vontade que ele reconhecia como o seu grande segredo, desde o momento em que a Mãe de Deus se apresentou a ele na igreja de Forshem.
Arn puxou as peles de carneiro sobre o corpo, respirou fundo e deitou-se entre as raízes do salgueiro que se estendiam como que o abraçando. Era assim que ele tinha dormido muitas vezes em campanha, com uma sensação boa após as orações, mas com um ouvido na escuta para não ser surpreendido pelo inimigo.
Como por hábito de muitos anos, acordou de repente sem saber por que e puxou pela espada, sem ruído, levantando-se em silêncio, enquanto descontraía as mãos e olhava em volta, cautelosamente.
Era uma porca selvagem com os seus oito javalizinhos listrados atrás de si, caminhando pela beira da praia ao longo do rio. Arn ficou sentado e em silêncio, olhando para eles. E bem atento para que os reflexos solares da sua espada não os espantassem.
Continuaram a viagem na manhã seguinte, um pouco mais tarde do que estavam pensando. O mau humor de Eskil e seus olhos um pouco vermelhos demais também contribuíram para isso. Remaram direto para o sul durante algumas horas, com mais trabalho do que antes, visto que o rio ficava mais estreito e, com isso, a corrente mais forte. Ao meio-dia, mais ou menos, chegaram a Tidantãljet, onde o barco passaria a ser puxado por bois e homens até o lago Braxenbolet. O pior já tinha passado. Mas tiveram de esperar um pouco, pois os puxadores vieram de barco descendo a corrente e precisavam descansar, assim como os bois, antes de retomarem a tarefa de puxar novo barco corrente acima.
Tinham se encontrado com várias barcaças durante a viagem e duas delas estavam na frente deles, à espera de serem puxadas. Houve uma série de resmungos por parte do pessoal dessas barcaças, quando o timoneiro da barcaça de Eskil desceu em terra e deu ordens para que as duas dessem passagem. As palavras pesadas esmoreceram assim que Eskil apareceu. Afinal, eram todos pessoal dele e todas as barcaças também.
Eskil, Arn e Harald desceram para terra com seus cavalos e seguiram antes pela trilha dos bois que acompanhava o canal ladeado por troncos de madeira por onde os barcos subiam. Arn perguntou se Eskil já tinha pensado e calculado o custo de um canal por estágios em vez de pagar por bois e homens para puxar os barcos para cima. Eskil achava que o custo ia ser o mesmo, pois esse canal teria que ser cavado mais ao sul, já que a altura da queda era muito maior nesse lugar. E com o canal a ser construído mais ao sul, isso prolongaria o tempo de viagem. Portanto, haveria perdas em relação ao sistema atual de puxar os barcos. E durante uma parte do inverno, em que todos os transportes eram feitos com trenós sobre o gelo, puxar os barcos era tão simples quanto puxar os trenós por cima do rio congelado. As barcaças menores, com seus fundos chatos, recebiam esquis e podiam avançar também como se fossem trenós por todo o rio.
No início da curta cavalgada, eles encontraram um grupo de homens que estavam puxando por uma barcaça bem pesada, cheia de ferro de Nordanskog, achava Eskil. Estavam no ponto culminante da travessia e, por isso, avançou o seu cavalo e gritou para todos que ninguém deixasse de lado o que estava pegando com as mãos para saudar o seu senhor.
Eles pararam seus cavalos e retiraram-se para o lado, a fim de dar passagem para os bois e os vaqueiros que vinham em primeiro lugar na linha de puxadores. Arn notou que os puxadores entendiam bem do trabalho que estavam fazendo. Todos usavam botas de couro, bem fortes, e nenhum deles lançou aqueles olhares de escravos para os três senhores que estavam a cavalo. Pelo contrário. Muitos dos homens soltaram uma das mãos do cabo de puxar e fizeram uma saudação, pedindo a Nossa Senhora para abençoar o senhor Eskil.
— São todos escravos libertos — reagiu Eskil ao olhar interrogador de Arn. — Uma parte deles comprei para trocar a sua liberdade por trabalho. A outros dei trabalho em troca de salário. E trabalhar é o que todos fazem. O trabalho é muito, tracionando os barcos e fazendo o trato de plantações que eles arrendaram de nós. É um bom negócio.
— Para você ou para eles? — inquiriu Arn, com um pequeno traço de escárnio na voz.
— Para ambos — respondeu Eskil, fingindo não ter entendido o tom da voz do seu irmão. — É verdade que este ramo de comércio me garante muita prata. Mas também é verdade que esses homens e seus dependentes estariam vivendo muito pior se não tivessem esse trabalho.
Talvez seja necessário ter nascido como escravo para entender a alegria deles nesta troca.
— Talvez sim — disse Arn. — Você tem outros lugares de puxar barcos como este aqui?
— Mais um, de outro lado do lago Vättern, depois da lagoa Boren. Mas não é nada de mais, se pensarmos que velejamos ou remamos o caminho todo entre Lõdõse e Linkõping — respondeu Eskil visivelmente satisfeito por ter conseguido realizar tudo aquilo.
O atraso que tiveram naquela manhã eles podiam recuperar quando chegassem à lagoa Braxenbolet e se dirigissem para o norte. Os ventos vinham de sudoeste e podia-se velejar no rio seguinte até a lagoa Viken, o barco seguia a favor da corrente, o que facilitava remar. E na Viken, de novo, seria possível velejar a uma boa velocidade.
Eles chegaram a Forsvik antes do anoitecer, apesar de toda a demora pela manhã, graças ao bom vento.
Forsvik estava situado como uma ilha entre Viken e o Bottensjö, um pequeno lago que era, na realidade, uma parte do lago Vättern. De um dos lados de Forsvik a catarata era forte, mas larga. E do outro lado, a corrente era mais estreita e profunda. E aí funcionavam dois moinhos. As casas foram construídas como um grande quadrado. E na maior parte eram baixas e pequenas, com exceção da casa grande, situada ao longo da praia que dava para o Bottensjö. Tudo estava construído com madeira envelhecida, e todos os telhados estavam revestidos de turfa e grama. Havia também uma linha de casas de escravos se estendendo para o norte ao longo da praia.
Eles atracaram a sua barcaça no cais de Viken, onde já se encontrava um barco semelhante, sendo carregado por homens com as suas carroças que tinham vindo do outro lado do lago. Eskil explicou em resumo que os barcos no Vättern eram maiores e que apenas velejavam entre Forsvik e Vadstena ou um ponto em Mo onde as embarcações fluviais de Linkõping faziam a ligação. E aí havia dois barcos menores e mais rápidos que velejavam entre Forsvik e Visingsõ, a ilha do rei.
Arn queria selar seu cavalo de imediato e dar uma volta, mas Eskil achava que não ia ficar bem demonstrar pouca atenção perante os libertados do burgo. De qualquer forma, eles eram também folkeanos. Arn entendeu o que tinha de ser feito e ambos dirigiram seus cavalos para a praça, prenderam os animais numa cerca e junto de um tanque de água. E já tinham motivado muitas corridas para a frente e para trás, quando descobriram que os recém-chegados não eram quaisquer hóspedes.
A dona da casa quase tropeçou de tanta animação quando chegou na frente de Eskil para lhe oferecer o tradicional pão de boas-vindas. Eskil brincou dizendo que foi bom ela trazer nas mãos o pão e não a cerveja. Isso porque ele preferia beber a tomar um banho de cerveja. Ele e Harald, aliás, logo tomaram cerveja em quantidades para homem nenhum botar defeito, enquanto Arn bebeu apenas o seu gole, só para fazer companhia e honrar o convite.
Como a dona da casa, ainda de véu na cabeça, meio de lado, e com palavras meio tímidas, tropeçando umas nas outras, tentava explicar que o dono da casa estava no lago, esvaziando as redes de pesca que tivessem peixes, que ela não estava esperando por convidados, que ainda era muito cedo na noite, que ainda estava lavando a cozinha grande e inventando ainda mais desculpas, enfim, que ainda ia demorar para ela preparar a comida da noite para ela e os convivas chegados.
Eskil resmungou logo qualquer coisa, mas Arn explicou que assim era melhor, pois os três pensavam em dar uma volta pela propriedade de Forsvik. E que dentro de uma hora, mais ou menos, estariam de volta.
A dona da casa fez uma vênia, aliviada, e nem viu o descontentamento nos olhos de Eskil. Este, meio contra a vontade, voltou até o seu cavalo, apertou a sela, resfolegando, e puxou o animal até o tanque de água para apoiar o pé e facilitar a subida na sela.
Arn e Harald já estavam prontos, de selas colocadas. E, então, Arn fez um sinal para Harald e ambos deram uma palmada nos seus cavalos, que avançaram num trote moderado, mas sem cavaleiros, passando por Eskil. Nesse momento, Arn e Harald vieram correndo por trás, saltaram no ar apoiando as mãos nas traseiras dos animais e caindo em cima das suas selas, logo aumentando a velocidade da marcha. Era assim que todos os templários faziam quando, por algum motivo, era dado o alarme.
Eskil não se divertiu nem um pouco.
Primeiro, cavalgaram em direção ao sul. Do lado de fora de um dos quatro cantos do burgo, havia uma plantação de lúpulo claro que já estava com a altura de um homem, subindo pelas estacas. Depois se viam as quedas rápidas do rio e mais adiante uma plantação de maçãs que acabava de florir, deixando o chão todo branco como se fosse de neve.
Até mesmo depois da ponte sobre as quedas rápidas, via-se uma grande extensão de terras de plantio que pertenciam a Forsvik. No campo mais próximo sem cultivo, descobriram para seu espanto que havia um grupo de quatro jovens treinando com escudos e lanças de madeira e a cavalo. Os garotos estavam tão ocupados na brincadeira que nem deram pela aproximação dos três estranhos que chegaram a passo lento e pararam a um canto, observando com grande satisfação, antes de serem descobertos, aquilo que os garotos estavam fazendo.
— Eles pertencem ao nosso clã. São folkeanos todos os quatro — explicou Eskil, enquanto chamava com a mão os quatro jovens, que logo vieram em alta velocidade, saltaram dos seus cavalos, avançaram com eles pelas rédeas e em frente de Eskil fizeram uma vênia, ajoelhando-se com respeito.
— Que história é essa de treinar à maneira dos estrangeiros? Achei que queriam entrar para a guarda real como escudeiros ou para a guarda de Birger Brosa e para a minha própria — disse Eskil, jovialmente, à maneira de saudação.
— É a nova maneira de combater. É assim que todos treinam na corte do rei Valdemar, da Dinamarca. Eu próprio vi isso — respondeu o mais velho dos garotos, de olhos bem abertos, fixos em Eskil.
— Queremos aprender a ser cavaleiros! — explicou um dos jovens, um pouco mais novo, mas talvez mais corajoso, ao ver que Eskil parecia não ter entendido bem.
— E daí? Não serve mais ser escudeiro? — perguntou Arn, inclinando-se para a frente na sela, lançando um olhar duro para o garoto que tinha acabado de falar para Eskil como se este fosse um velho folkeano que nada entendia. — Diga-me, então, o que deve fazer um cavaleiro?
— Um cavaleiro... — começou o garoto, mas logo se sentiu um pouco inseguro diante do riso gozador que o escudeiro norueguês tentava esconder atrás da mão posta sobre os olhos e a testa.
— Não se importe aqui com o norueguês, meu jovem folkeano. Ele não entende muita coisa — disse Arn, amistosamente, sem o menor tom de escárnio. — Mas, em vez de ligar para ele, diga-me o que faz um cavaleiro?
— O cavaleiro luta a cavalo com lança e escudo, salva as mulheres em dificuldades, mata as forças das trevas ou os dragões, como Santo õrjan. Ele é o primeiro na defesa do reino — respondeu o garoto, agora muito seguro do que estava dizendo, os olhos fixos em Arn. — Os melhores de todos os cavaleiros no mundo são os templários na Terra Santa — acrescentou ele, como se quisesse deixar bem patente que sabia do que estava falando.
— Eu entendo — reagiu Arn. — Que, então, Nossa Senhora conserve as Suas mãos protetoras sobre vocês, enquanto vocês treinam com uma intenção tão boa e não deixam que a gente impeça mais esse treino.
— Nossa Senhora? Nós rezamos, sim, por Santo õrjan, que é o protetor de todos os cavaleiros — replicou o garoto, arrojadamente, querendo mostrar que era ele que dominava o assunto.
— É verdade, muitos rezam para São Jorge — respondeu Arn, puxando as rédeas, para continuar a sua visita a Forsvik. — Mas mencionei Nossa Senhora porque Ela é justo a protetora superior de todos os templários.
Quando os três homens já tinham se afastado um bom bocado, todos dispararam às gargalhadas. Mas os garotos já não os podiam ouvir, até porque já tinham voltado a se enfrentar, com a máxima seriedade e extraordinário ardor, com as suas lanças de madeira, curtas, e de braço esticado, como se tivessem atacando com espadas sarracenas.
À noite, ao voltarem para Forsvik, já tinham visto tudo o que era preciso. Ao norte, começava Tiveden, a floresta que, se acreditava, não terminava nunca. De lá era possível obter lenha e madeira boa em quantidades inesgotáveis e, além disso, a pouca distância. Ao sul, ao longo da praia do lago Vättern, estavam localizados os prados onde crescia pasto suficiente para cinco vezes mais cabeças de gado e cavalos do que existiam agora em Forsvik. Mas os prados para a plantação de cereais e de rações suplementares eram escassos e arenosos, assim como o casario, que estava em decadência, era muito triste.
Por isso, Eskil disse logo, direto, a respeito do assunto, que queria que Arn visse Forsvik antes de tomar qualquer decisão. Um filho de Arnäs devia ser dono de uma propriedade melhor. Eskil sugeriu logo Hõnsâter ou Hâllekis nas encostas de Kinnekulle, em direção ao lago Vänern. E aí eles seriam vizinhos, para satisfação mútua.
No entanto, Arn quis manter teimosamente a intenção de comprar Forsvik. Concordou que havia muito mais que construir e melhorar do que havia pensado. Mas isso era apenas uma questão de tempo e de suor. O que havia de melhor em Forsvik era toda a força hidráulica que existia, que iria acionar os martelos na ferraria, os foles e os moinhos. E, além disso, havia uma questão muito importante na qual Eskil também já havia pensado. Forsvik ficava situada no coração das ligações comerciais de Eskil. Por isso, tinha colocado ao serviço escravos liberados como folkeanos e não outra gente de nível inferior. Aquele que dominasse Forsvik tinha na mão um punhal para a segurança de toda a linha da ligação. Por isso, ninguém melhor do que um irmão no lugar. Era um ponto a ter em conta.
Por outro lado, havia que contar com as permanentes idas e vindas de barcos entre Lõdõse e Linkõping. Se Arn conseguisse realizar suas intenções, logo haveria grandes ferradas ribombando em Forsvik. O minério de ferro de Nordanskog vindo de barco de Linkõping viraria aço e armas forjadas para Arnäs e carrinhos de limpar neve, para Lõdõse. E o calcário que vinha de Arnäs e Kinnekulle seguiria de barco para Linkõping ou voltaria para Arnäs como argamassa para muros. E se as barricas chegassem com cereais por moer de Linkõping continuariam como barricas de farinha na outra direção.
Muito mais poderia ser dito. Mas era melhor resumir, achava Arn. Seus pensamentos estavam nos muitos artesãos que tinha trazido consigo. Em Arnäs, não estavam apenas mestres-de-obras. Ali, em Forsvik, uma grande quantidade de coisas novas iriam ser produzidas para satisfação de todos. E iriam ser vendidas com bom lucro, com tal ênfase que Eskil quase explodiu de riso.
Na hora da ceia, como recomendava a tradição, o senhor e sua esposa sentaram-se no lugar de honra, junto com os três convivas aristocratas, Eskil, Harald e Arn. Os quatro garotos, com manchas roxas nos rostos e nos nós dos dedos, se sentaram na mesa um pouco mais longe. Eles sabiam o suficiente de tradição e de costumes para entender que o guerreiro que fizera as perguntas infantis e burras a respeito de cavaleiros e cavalaria não era de jeito nenhum um escudeiro qualquer, visto que ele estava sentado ao lado do seu pai no lugar de honra. Eles se lembravam agora de ter visto o leão folkeano no seu manto, tal como no caso do senhor Eskil. E os escudeiros não podiam usar um manto desses. Mas quem seria aquele senhor do clã deles que tratava o senhor Eskil como se fosse um amigo muito próximo?
O senhor e a senhora da casa, Erling e Ellen, que eram pai e mãe de três dos garotos com sonhos de cavalaria, chegaram a ser inconvenientes e bajuladores em relação aos seus convivas no lugar de honra. Por duas vezes, Erling já tinha levantado o seu caneco de cerveja para que todos fizessem um brinde ao senhor Eskil. Na terceira vez, ele corou e, gaguejando um pouco como costumava fazer, pediu a todos para beber à saúde do senhor Arn Magnusson.
Um sentimento ruim começou a surgir em um dos quatro garotos, Sune Folkesson, que era irmão de criação em Forsvik e também aquele que falou mais ousadamente de como era ser cavaleiro e para quem os cavaleiros dedicavam suas orações.
E então o dono da casa, Erling, continuou dizendo que agora era hora de agradecer a Nossa Senhora. Um templário do Senhor tinha voltado, depois de muitos anos na Terra Santa. E o silêncio se fez em todo o salão. O jovem Sune Folkesson desejou que o chão se abrisse debaixo de seus pés e o engolisse. O senhor Eskil viu a hesitação de todos, chamou a atenção agitando as mãos e elevou bem alto o seu caneco de cerveja na direção do seu irmão, Arn. Todos beberam em silêncio.
A conversa acabou depois daquele brinde, e todos os olhares se dirigiram para Arn, que não sabia como se comportar e baixou os olhos.
Eskil não tardou em aproveitar a oportunidade, tendo aceitado a regra de Arn que aquilo que é desagradável ou importante deve ser dito o quanto antes.
Levantou-se, fez um gesto totalmente desnecessário, pois todos estavam em silêncio, e falou em seguida, curto e grosso:
— Arn, meu irmão, é o novo senhor de Forsvik. De todas as casas, todas as águas de pescaria e todas as florestas que estão ligadas a essa propriedade, assim como todos os que trabalham nela. De qualquer forma, vocês, Erling e EUen, meus amigos, não perderão nada com isso. Eu os convido para se mudarem para Hõnsãter em Kinnekulle, que é um burgo nada pior, antes melhor do que este. O arrendamento para vocês continuará sendo o mesmo de Forsvik, ainda que as terras em Hõnsãter sejam melhores e dêem mais lucro. Na presença de todas as testemunhas presentes, eu lhes ofereço esta bolsa com terra de Hõnsãter.
Com isso, puxou por duas bolsas de pele, murmurou qualquer coisa enquanto escondia um dos saquinhos e colocou o outro nas mãos de Erling e Ellen, ainda que tivesse que mostrar para eles como deviam receber a oferta a quatro mãos, bem repartida entre os dois.
Erling e Ellen ficaram sentados, durante alguns momentos, ruborizados. Era como se um milagre tivesse caído sobre eles. Logo,
porém, Erling retornou ao seu lugar, a pensamentos mais vivos e gritou por mais cerveja.
O jovem Sune Folkesson achou então que tinha estado tempo demais de cabeça baixa. Tendo agido mal, não podia fingir que nada tinha acontecido. Resoluto, deu a volta à mesa até chegar perto do lugar de honra e se ajoelhou, com uma das pernas, diante do senhor Arn.
Seu pai de criação, Erling, levantou-se para enxotar o inoportuno, mas ficou a meio caminho, quando Arn fez sinal de que não precisava intervir.
— E então? — disse Arn, amistosamente, dirigindo-se ao jovem ajoelhado. — O que é que você tem para me dizer desta vez, meu caro?
— Que eu nada posso a não ser lamentar minhas pretensiosas palavras para o senhor. Mas eu não sabia quem o senhor era e pensava que fosse um escud...
Nesse momento, o jovem Sune quase mordeu a própria língua, ao achar tarde demais que em vez de aplanar as coisas só as fez ficarem piores. Chamar Arn Magnusson de escudeiro!
— Você não disse nada pretensioso, amigo — reagiu Arn, falando sério. — Aquilo que disse a respeito dos cavaleiros não está errado, talvez, apenas bem resumido. Mas, pense bem, agora você é um folkeano que está falando com outro folkeano, portanto, levante-se e me olhe bem nos olhos!
Sune fez exatamente como lhe foi dito e pensou, ao ver de perto as cicatrizes no rosto do guerreiro, como era admirável que seus olhos ainda assim fossem tão doces.
— Você disse que queria ser cavaleiro. Ainda mantém o que disse? — perguntou Arn.
— Sim, senhor Arn, esse sonho é para mim mais caro do que a própria vida! — respondeu Sune Folkesson, com um sentimento tão forte que Arn teve dificuldade em manter-se sério.
— Muito bem — disse Arn, enquanto passava as costas da mão pelos olhos —, mas receio que, assim, você vá ser um cavaleiro por muito pouco tempo de vida. E isso para nós é de muito pouca utilidade.
Mas farei, sim, um convite. Fique aqui em Forsvik, e aceite-me como seu novo pai de criação e professor. E eu vou fazer de você um cavaleiro. Mas o convite vale também para seu irmão de criação, Sigfrid. Eu vou falar com o seu pai. Pensem no assunto durante a noite. Peçam conselho a Nossa Senhora ou a São Jorge e me dêem uma resposta amanhã pela manhã.
— Eu posso dar-lhe já a minha resposta, senhor Arn! — reagiu o jovem Sune Folkesson.
Mas, então, Arn fez um sinal de aviso com o indicador.
— Eu falei para você me dar uma resposta amanhã de manhã depois de uma noite de reflexão e de oração. Portanto, não diga agora mais nada. Obedecer e rezar são as primeiras coisas que deve aprender, se quiser um dia ser cavaleiro.
Arn olhou, então, com uma rudeza artificial para o garoto que logo resolveu fazer uma vênia e se retirar de costas, fazendo nova vênia antes de dar meia-volta e correr como uma flecha para junto dos seus irmãos um pouco mais adiante na mesa. Arn ficou olhando de soslaio como todos eles começaram a falar uns com os outros, numa conversa bem esquentada.
Nossa Senhora o ajudou em tudo o que Ela lhe disse que devia fazer, pensou ele. Já tinha conseguido os seus dois primeiros discípulos.
Que Nossa Senhora o ajudasse agora, no grande momento que estava para acontecer, a menos de uma noite e um dia.
No meio da ilha real, a Visingsõ, bem perto da trilha de cavalos entre o castelo de Näs e o porto dos barcos, no norte, cresciam os mais bonitos de todos os lírios do campo, azuis e amarelos, tal como as cores erikianas. Apenas a rainha Cecília Blanka podia colher as flores deste presente de Deus, sendo a contrafação punida duramente com chicotadas ou, pior ainda, para aquele que ousasse se aventurar a repetir o ato de colher os lírios para seu proveito.
E por lá estavam passando agora a rainha e a sua amiga mais querida, Cecília Rosa, que era como ela era chamada no castelo, em vez de Cecília Algotsdotter. Atrás delas, a distância, vinham duas damas de companhia. E os escudeiros eram dispensados, atualmente, porque a paz reinava e ninguém conseguia se lembrar de um período de paz tão longo quanto aquele. E, além disso, em Visingsõ, só existia gente do rei.
No entanto, nenhuma das duas Cecílias estava especialmente interessada naquele dia de verão em olhar os lírios do campo. Isto porque, sabendo elas mais do que a maioria dos homens no reino a respeito da luta pelo poder, tinham como discutir grandes questões. Aquilo que decidissem entre si podia definir entre a guerra e a paz no reino. Esse poder elas tinham e sabiam disso. No dia seguinte, quando o arcebispo chegasse com seu séquito de bispos para a reunião da corte, seriam tomadas sérias e definitivas decisões.
Elas desmontaram no caminho, bem perto dos lírios. Amarraram os cavalos e se sentaram em cima de algumas pedras rúnicas, lisas e cheias de escritos pagãos, que o pessoal puxou para a frente para servir de lugar de descanso para a rainha. Entretanto, as duas damas de companhia chamavam vivamente a atenção de Cecília Blanka e apontavam para os lírios.
Há muito tempo que Cecília Rosa vinha enfrentando as insistentes e cada vez mais bruscas ordens do conde. Birger Brosa exigia que ela fizesse os seus votos e entrasse para o convento de Riseberga que ele tinha mandado construir, para se tornar sua abadessa. Assim que ela fizesse os seus votos, tinha ele assegurado, assumiria logo a direção do convento de Riseberga, não apenas dos seus negócios, mas também do lado espiritual.
Os bispos concordariam com isso e, à frente de todos, o novo abade de Varnhem, o padre Guillaume, que detinha a autoridade sobre Riseberga, também concordaria rapidamente. O padre Guillaume era um homem que tinha tanta facilidade em ver a vontade de Deus quanto, ao mesmo tempo, de notar onde estava o ouro e a imagem de novas e verdes florestas.
Portanto, era essa a situação. Fizesse ela os seus votos, logo seria nomeada abadessa em Riseberga. Mas com isso as intenções do conde e ministro, realmente, não eram vagas.
Era uma questão de poder e uma questão de guerra ou paz. Nos últimos anos, Birger Brosa tinha procurado, cada vez com maior obstinação, alimentar a idéia de que o juramento de uma abadessa valia tanto quanto a sua confissão e testamento.
A maldita madre Rikissa que, durante tantos anos, impôs sofrimentos horrorosos a Cecília Blanka e a Cecília Rosa no convento de Gudhem, havia jurado falso no seu leito de morte. Na sua confissão final, assegurou que Cecília Blanka tinha feito os seus votos num dos seus últimos anos em Gudhem.
Com isso, todos os descendentes do rei Knut Eriksson, casado com Cecília Blanka, teriam nascido de uma cama impura. Seu filho mais velho, Erik, jamais poderia herdar a coroa, se essa mentira fosse tomada como verdade.
Se Cecília Rosa fizesse os seus votos e se tornasse abadessa, sua declaração sob juramento de que a rainha jamais teria feito os seus votos e era considerada apenas como outras familiares dentro do convento de Gudhem resolveria o problema. Esse era o pensamento de Birger Brosa.
E ao conde não faltavam boas razões para fazer esse pedido. Apesar de Cecília Rosa não ser casada com Arn Magnusson como fora prometido e acordado, mas em vez disso sofrera como ele uma penitência de vinte anos, em nenhum momento o conde lhe virara as costas. O filho dela, Magnus, nascido em Gudhem como ilegítimo, ele o recebera primeiro como se fosse seu filho e, mais tarde, como irmão mais novo. E não fora apenas educado em Bjälbo, mas alçado também à posição de membro válido da assembléia do clã folkeano. Além disso, ele fez muito para aliviar os sofrimentos de Cecília Rosa impostos por Rikissa. E a apoiou e a ajudou, tanto quanto ao seu filho, na sua admissão junto da família folkeana, embora ela fosse apenas uma pobre penitente. Estava na hora, portanto, de ela pagar a conta.
Não era fácil contrariar a justiça desses pensamentos. A esse respeito, as duas Cecílias sempre estiveram de acordo. Cecília Rosa conseguia apenas apresentar uma forte objeção diante do conde. A de que ela e Arn tinham feito um juramento recíproco de fidelidade. E que, depois do tempo de penitência, o compromisso que tinha sido interrompido por rumores e leis muito duras em partes iguais seria cumprido. Por isso, ela não podia declarar os seus votos. Seria trair a sua palavra. Seria espezinhar o juramento de Arn Magnusson.
Durante os primeiros anos depois da penitência dela ter sido cumprida, Birger Brosa, embora a contragosto, aceitou essa objeção. Ele havia assegurado muitas vezes que também ele desejava e rezava para que Arn voltasse para casa vivo e sem ferimentos. Um guerreiro como ele seria de grande utilidade para o reino. Um homem como ele devia ser nomeado marechal no conselho do rei, principalmente, por se tratar de um folkeano.
Mas já se tinham passado quatro anos desde o término da penitência e de Arn nada se sabia desde a sua grande vitória na Terra Santa, de que o abençoado padre Henri tinha falado. Agora, os cristãos já tinham perdido Jerusalém e milhares e milhares de guerreiros cristãos haviam morrido, sem que ninguém soubesse dizer os seus nomes.
Cecília Rosa jamais perdeu a esperança. Todas as tardes, ela dirigia suas orações para Nossa Senhora, pedindo por sua volta o mais breve possível.
Mas havia limites para a paciência, assim como para a esperança. No dia seguinte, como se apresentar diante do conselho, diante do rei, do conde, do marechal, do tesoureiro real, do arcebispo e dos bispos e dizer que não poderia aceitar o supremo chamamento de se tornar abadessa porque o seu amor terreno era mais forte? Não, era difícil de imaginar uma atuação como essa. Mais fácil era imaginar o alarido que essa posição iria criar. Maior do que tudo não era, certamente, o amor. Maior do que tudo era a luta pelo poder e a questão de guerra ou paz no reino.
Cecília Rosa jamais havia colocado seus pensamentos de maneira tão clara como naquele momento. Cecília Blanka segurou a mão dela, consolando-a. E ambas ficaram ali em silêncio, derrotadas.
— Para mim, tudo teria sido mais fácil — disse a rainha, finalmente. — Eu não sou como você. Nunca gostei nem amei nenhum homem, mais do que amo a mim mesma, mais do que gosto de você. Nessa questão te invejo, já que gostaria muito de saber como isso é. Mas não te invejo por teres de tomar uma decisão como essa.
— Nem mesmo amas Knut, o teu rei? — perguntou Cecília Rosa, ainda que já soubesse qual era a resposta.
— Vivemos momentos muito bons. Dei a ele uma filha e quatro filhos, vivos, e mais dois que morreram. Nem tudo sempre foram alegrias, e dois dos partos foram horríveis, como você sabe. Mas não tenho nenhum direito a reclamar. Pense bem, você mesma conseguiu viver seu amor e deu à luz um filho esplêndido. Sua vida podia ter sido muito pior.
— É... — reagiu Cecília Rosa. — Pense, se a guerra contra os sverkerianos tivesse terminado de maneira diferente e tivéssemos de ficar eternamente em Gudhem. Você tem razão. É uma ingratidão reclamar de algo que poderia ser pior ainda. E a nossa amizade nos restará para sempre, ainda que eu tenha de me preparar em breve para receber o véu e a cruz no pescoço.
— Você quer que a gente reze uma última vez, pedindo a Nossa Senhora por uma salvação milagrosa? — perguntou a rainha Cecília Blanka. Mas Cecília Rosa apenas olhou para o chão e abanou a cabeça. Era como se as suas orações, apesar de tudo, já tivessem terminado.
Três cavaleiros estavam se aproximando num trote confortável, vindo das pontes no norte, mas as duas Cecílias nem tomaram conhecimento, já que havia muitos cavaleiros chegando para a reunião do conselho da corte.
E as duas damas de companhia, justo nesse momento, voltavam do campo dos lírios com os braços cheios de bonitas flores que, rindo, estenderam para a rainha e a sua amiga. Ambas receberam mais lírios do que podiam suportar. A rainha Blanka, como às vezes era chamada,
deu ordens para que fossem trazidas logo as cestas para colocar os lírios. Eles murchavam rápido, caso ficassem por muito tempo sob o calor dos braços. Era como se se sentissem mal na prisão dos abraços humanos. No momento em que ela disse isso, deu uma olhada não muito interessada na direção dos três cavaleiros que agora já estavam bem próximos. Era o tesoureiro real, senhor Eskil, mais um norueguês e um folkeano.
De repente, ela ficou paralisada por uma sensação estranha que, mais tarde, nem soube como explicar. Era como um vento ou uma premonição de Nossa Senhora. Deu um toque leve no cotovelo de Cecília Rosa, que estava voltada para o outro lado, vendo as duas damas chegarem com as cestas de flores.
Quando Cecília Rosa reagiu e se virou, viu primeiro Eskil, que já conhecia bastante. E, no momento seguinte, viu Arn Magnusson.
Este desceu do cavalo e avançou lentamente na direção dela. E ela deixou cair todos os seus lírios no chão, dando um confuso passo na lateral para não pisar neles.
E aceitou nas suas as mãos que ele lhe tinha estendido, mas não conseguia dizer nada. E também ele parecia ter perdido a voz. Tentava dizer qualquer coisa, mexia com a boca, mas nada saía dos seus lábios.
Caíram ambos de joelhos, ainda segurando as mãos um do outro.
— Eu rezei por este momento a Nossa Senhora durante todos esses anos — disse ele, finalmente, com voz insegura. — Você, também, minha amada Cecília?
Ela acenou que sim, com a cabeça, e viu seu rosto bem machucado e sentiu uma forte sensação de compaixão pelos inimagináveis sofrimentos traduzidos por todas aquelas cicatrizes.
— Então sejamos agradecidos a Nossa Senhora por Ela nunca nos ter abandonado e por nós nunca termos abandonado as nossas esperanças — murmurou Arn.
Os dois abaixaram a cabeça em mais uma oração para Nossa Senhora, que, de maneira tão clara, lhes mostrou que da esperança ninguém deve desistir e que o amor, certamente, é mais forte do que a luta pelo poder, mais forte do que tudo.
Aquele DIA NO CASTELO DO REI, em Näs, seria lembrado para sempre como o Dia do Grande Alarido. Raramente se tinha visto Birger Brosa tão descontrolado. Ele, que era mais conhecido por ser sempre aquele que falava em voz baixa, mesmo nos momentos mais difíceis das discussões, agora gritava de tal maneira que a sua voz se ouvia em todo o castelo.
Evidentemente, isso não começou quando Arn Magnusson entrou em Näs, cavalgando na companhia de seu irmão Eskil, da rainha Blanka e de Cecília Rosa. Primeiro, houve só abraços e discursos emo-cionados. Tanto o conde como o rei saudaram Arn com lágrimas nos olhos e agradecimentos a Nossa Senhora. Vinho do Reno foi trazido para as comemorações e todos falavam ao mesmo tempo. Parecia que ia ser um verdadeiro dia de grandes alegrias.
Mas de um golpe tudo mudou, logo que Arn mencionou seu futuro casamento com Cecília Rosa Algotsdotter.
Primeiro, o conde agiu como de hábito, como todos esperavam que ele agiria. Ficou frio e em voz baixa propôs, com palavras amistosas, ainda que em tom de comando, que o rei devia se retirar para uma das salas menores do conselho para um importante assunto a tratar e que tanto ele como Arn e o tesoureiro Eskil deviam seguir o soberano.
A sala menor do conselho estava localizada no penúltimo andar da torre oriental do castelo. Na sala, havia a cadeira de madeira trabalhada do rei, com as três coroas, a cadeira do conde, com o leão folkeano, a cadeira do arcebispo, com a cruz, bancos de madeira revestidos de couro e uma mesa grande de carvalho, com sigilo, lacre, pergaminho e penas de escrever. As paredes frias eram de pedras pintadas de branco.
O rei se sentou, calmamente, na sua cadeira grande, por baixo de uma das frestas de tiro, de modo que a luz iluminava intencionalmente sua cabeça. O conde ficou andando à volta da mesa, com os sentidos alvoroçados. Arn e Eskil ficaram sentados, cada um no seu banco.
O conde vestia roupas estrangeiras, em tons de cinza e preto, e nos pés botins de couro macio, dourados com incrustações em vermelho, com o manto folkeano debruado com pele de arminho voando atrás dele, ao andar para a frente e para trás, a fim de acalmar a raiva. O rei que, como o conde, tinha deixado crescer muito a barriga desde que Arn os tinha visto pela última vez há muito tempo, estava sentado e parecia calmo, aguardando. Tinha ficado quase totalmente calvo.
— Amor! — grunhiu o conde, de repente, num tom de voz que demonstrava não ter conseguido se acalmar. — O amor é feito para preguiçosos e fracos, para grilos e lesmas, solteironas e escravas! Mas para homens o amor é o diabo, um sonho idiota que produz muito mais infelicidade do que qualquer outro tipo de sonho, um baixio traidor no mar, uma árvore da floresta que cai na trilha dos cavalos, a mãe de crimes e intrigas, o pai da traição e da mentira! E é com isso que você chega, arrastando consigo, depois de todos esses anos! Amor! Isto, quando o bem-estar do reino está em jogo. Quando a sua família e o seu rei precisam do seu apoio, você faz o quê? Você nos rejeita. E essa vergonha você explica, dizendo que como qualquer um você está sofrendo de uma doença infantil e incompreensível!
O conde parou de falar, mas continuou andando à volta da mesa, o queixo ainda remoendo. Arn permanecia sentado no banco, os braços cruzados, um pouco inclinado para trás, mas com uma expressão inalterada no rosto. Eskil estava apreciando por uma das frestas de tiro o dia claro e tranqüilo de verão que fazia lá fora e o rei Knut parecia interessado em estudar as suas mãos.
— E você nem se dispõe a me responder, meu caro! — rugiu o conde com força renovada contra Arn. — Daqui a pouco, chegará o arcebispo com o seu grupo de bispos. É um homem insidioso, um sverkeriano, e os covardes à sua volta nem se atrevem a dizer uma palavra.
É um homem que quer colocar a família sverkeriana de novo no trono e pesando muito entre as suas armas estão as cartas do Santo padre em Roma e desse intriguista Absalon, de Lund. E nós, ou nos apoiamos uns aos outros, ou seremos levados na enxurrada. Você pode nos ajudar, mas nem quer saber. Isso porque está delirando de amor! É como se fosse um escárnio contra nós todos. Quanta guerra e quantos amigos e familiares mortos, quantos incêndios vão haver sobre essa nossa terra, só porque você delira de amor? E, agora, exijo que você me responda.
O conde retirou dos ombros, com raiva, o seu manto, jogou-o para cima da cadeira, antes de se sentar. Parecia que tinha falado com ardor demais, no seu discurso. Talvez até ele tivesse achado isso e estava tentando ser o seu habitual, de novo.
— Eu fiz um juramento — disse Arn, falando com voz baixa, intencionalmente, tal como se lembrava de que Birger Brosa costumava falar. — Dei a minha palavra de honra e jurei pela minha espada, uma espada de templário abençoada por Nossa Senhora, que iria sobreviver ao meu tempo de penitência, que voltaria para a minha Cecília e que eu e ela iríamos cumprir aquela promessa que já tínhamos feito um ao outro. Um juramento como esse não pode ser quebrado, por muita raiva que o senhor sinta, meu querido tio, ou por muito inconveniente que seja para as suas maquinações. Um juramento é um juramento. Um juramento divino ainda é mais forte.
— Um juramento não é juramento nenhum! — reagiu Birger Brosa que, com a velocidade de um relâmpago, voltou de novo com toda a raiva. — Uma criança jura que vai pegar a lua. E daí? Falação de criança se divorcia da realidade. Você era uma criança. Hoje, você é um homem, além disso, guerreiro. Assim como o tempo cura as feridas, ele também nos dá mais sensatez e nos transforma em outros seres, diferentes daqueles que éramos antes como crianças. Será que qualquer de nós aqui nesta sala teria condições de cumprir todas as promessas que fizemos como jovens inexperientes? Um juramento não é nenhum juramento, se houver impedimento que a própria vida coloca no caminho. E você tem, por Deus, um impedimento forte!
— Eu não era nenhuma criança quando fiz esse juramento — respondeu Arn. — E todos os dias, durante uma guerra que o senhor não pode nem imaginar como foi, eu repetia esse juramento em minhas orações para Nossa Senhora. E Ela ouviu minhas orações. Por isso estou aqui.
— Você ainda continua com um manto folkeano sobre os ombros! — gritou o conde, rosto vermelho. — Um manto folkeano tem de ser usado com honra, respeitando a família! Aliás, pensando no caso, como pode acontecer? Com que direito você, um penitente de vinte anos que perdeu a sua herança e a sua ligação com a família, continua com o manto folkeano sobre os ombros?
— Eu mesmo lhe dei esse direito — objetou Eskil, um pouco tímido, quando lhe pareceu que Arn não ia reagir à provocação. — No estado atual do nosso pai, eu sou o cabeça da família na Götaland Ocidental. Fui eu e ninguém mais que troquei o manto de templário de Arn pelo nosso. Eu o aceitei de volta e com todos os direitos, na nossa família.
— O que foi feito não pode ser desfeito — murmurou Birger Brosa, parecendo que ia voltar ao seu habitual. Mas então ele se levantou e recomeçou a sua furiosa andança à volta da mesa. Os outros na sala trocaram olhares e o rei deu de ombros. — Melhor assim, já que você está trazendo o nosso manto nos ombros! — recomeçou Birger Brosa, de repente, apontando o indicador acusador para Arn. — Melhor assim! Isso porque esse manto não incorpora apenas o direito a defesa contra o inimigo, o direito de portar espada em qualquer lugar onde te convier e o direito de ser acompanhado por escudeiros. Esse manto incorpora também deveres, esse maldito ou abençoado dever, como você queira, de realizar o que é melhor para a sua família.
— Desde que não seja contra a vontade de Deus ou um juramento divino — respondeu Arn, tranqüilo. — Em todo o resto, farei o melhor possível para honrar as cores da nossa família.
— Então, terá que obedecer a nós. Caso contrário, pode muito bem voltar para o seu manto branco!
— Evidentemente, tenho também o direito de usar o manto dos templários — respondeu Arn, fazendo uma pequena pausa como ele se lembrava que Birger Brosa fazia, antes de continuar. — Mas isso não seria aconselhável. Como templário, não devo obediência a nenhum conde nem a nenhum rei, no mundo inteiro, a nenhum bispo ou patriarca. Apenas ao Santo Padre.
Birger Brosa parou a sua furiosa caminhada à volta da mesa, deu uma olhada indagadora para Arn como se quisesse procurar algum sinal de escárnio ou desacato, antes de se sentar de novo e respirar fundo por algumas vezes.
— Vamos recomeçar mais uma vez — disse ele, em tom baixo, como se tivesse dominado um pouco a sua fúria. — Vamos recomeçar e, tranqüilamente, considerar a situação. A filha de Sune Sik, Ingrid Ylva, está quase na idade de casar. Falei com Sune e ele acha, assim como eu, que Ingrid Ylva é mais uma argola na corrente que nós estamos costurando para conter a guerra. Você, Arn, é o homem mais velho depois do cabeça da família e, além disso, um homem de quem se cantam as proezas e se contam lendas. Você é um bom partido. E podemos evitar de duas formas que os sverkerianos e o arcebispo arranjem um motivo para uma nova guerra. Uma delas envolve Cecília Algotsdotter, que, graças a Deus, nos deve muito, pode aceitar o chamado superior e se tornar abadessa em Riseberga. Cecília sabe qual é a situação da confissão e do testamento da intriguista madre Rikissa, que declarou ter a rainha Blanka feito os seus votos durante seu pior tempo em Gudhem. Cecília se diz preparada para jurar que nada isso aconteceu e todos nós acreditamos nela. Tudo isso você entende, certo?
— Sim, tudo isso eu entendo — respondeu Arn. — Mas tenho objeções a fazer que prefiro guardar para depois de ouvir a segunda forma de ação.
— A segunda? — questionou Birger Brosa, não habituado a que alguém, tão tranqüilamente, dissesse ter objeções contra ele depois de ter apresentado as suas palavras como sendo as melhores.
— Sim — disse Arn. — De duas formas, iríamos amarrar os sverkerianos nas redes da paz com a nossa esperteza ardilosa. A primeira seria a de transformar Cecília em abadessa, o que, na realidade, é um assunto para decidir pela Igreja, mais do que por nós. E a segunda?
— Que alguém, com uma alta posição na nossa família, se case com Ingrid Ylva! — respondeu Birger Brosa, parecendo que ainda tinha dificuldades em segurar a sua raiva.
— Então, vou dizer o que penso — declarou Arn. — Você faz Cecília abadessa em Riseberga, se bem que, por direito, o problema é da Igreja e dos cistercienses. Achamos, no entanto, que você realmente tem sucesso nas suas intenções. Então, vamos em frente para ver como fica. A madre Cecília, que acaba de ser promovida a abadessa, faz juramento diante do arcebispo, sendo de notar que diante do arcebispo há que seguir as regras. O arcebispo tem, então, diante de si um nó bem duro de desatar. Ele poderá resolver o caso de duas maneiras. Exigir de Cecília, religiosamente, a prova do ferro, uma prova de Deus de que suas palavras são as verdadeiras, de que o ferro em brasa não a fere. Ou ele poderá escrever sobre o assunto para Roma. Se for o intriguista insidioso que você diz que é, ele escolhe a segunda hipótese, visto que com o ferro em brasa ninguém sabe ao certo como vai acontecer. E se escrever para Roma, ele vai colocar as suas palavras de modo que pareça que a nova abadessa jura em falso. Nesse sentido, ele não terá qualquer dificuldade. E o Santo Padre logo excomungará Cecília. Desse modo, não vamos ganhar nada e vamos perder muito.
— Você não pode prever que as coisas saiam de modo tão ruim — disse Birger Brosa no seu tom de voz normal, tranqüilo.
— Não — disse Arn. — Ninguém jamais saberá por antecipação. Acho apenas que conheço melhor do que o senhor, meu tio, os caminhos que levam ao Santo Padre e que a minha suposição, portanto, deve ser melhor do que a do senhor. Mas saber ao certo, vou dizer que não sei, mas nem o senhor.
— Não, ninguém poderá saber ao certo o que vai acontecer. E se a gente não tentar com essa manobra, também jamais vamos poder saber. Ninguém acerta se não disparar a seta.
— É verdade. Mas o perigo de tornar o ruim ainda pior é grande e notório. No que diz respeito a Ingrid Ylva, desejo que vocês tenham todo o sucesso com seus planos de casamento. Mas dei a minha palavra para casar com Cecília Algotsdotter.
— Aceite Ingrid Ylva como sua mulher e enrosque-se na cama com Cecília quantas vezes quiser — reagiu Birger Brosa. — É assim que todos nós fazemos. Aquela com quem temos de viver sob o mesmo telhado é uma coisa. Aquela com quem vamos ter os nossos filhos é a mesma coisa. Mas tudo o que a gente fizer daí para a frente é por puro prazer. Isso que você, loucamente, chama de amor, isso é outra coisa. Você acha que eu e Brigida nos amávamos quando o acordo foi estabelecido no dia do nosso noivado? Brigida era mais velha do que eu e feia que nem o pecado, achava eu naquela altura. Ela não era nenhuma rosa intocada. Era a viúva do rei Magnus. E, no entanto, as nossas vidas correram bem e muitos foram os filhos que tivemos e educamos, e isso que você chama de amor vem com o tempo. Você tem de fazer como todos nós! Você pode ser um grande guerreiro e podem ser muitas as músicas que se fazem em seu louvor, embora você seja apenas um dos que perderam a Terra Santa! Mas agora está de volta em nossa casa e aqui tem de fazer como os outros. Mais do que isso, tem de agir como um folkeano!
— De qualquer forma, eu iria confiar muito pouco nos conselhos do meu tio, de pecar com uma abadessa — respondeu Arn, com uma expressão de repugnância. — Por pecado carnal, Cecília e eu já fomos punidos demais, e pecar livre de penitências como fazer amor com uma abadessa na clandestinidade, acho que é um conselho verdadeiramente ultrajante.
Birger Brosa reconheceu, nesse momento, que a sua raiva lhe tinha passado a perna, que ele, pela primeira vez desde a juventude, tinha perdido tempo falando para o vento. O conselho de manter a abadessa como a outra foi a maior idiotice que ele disse durante negociações que estava habituado a vencer sempre.
— Você é meu rei e meu amigo de infância, Knut? — perguntou Arn, aproveitando a ocasião para deixar Birger Brosa sair da armadilha que ele próprio montara. — O que é que acha? Eu me lembro que uma vez você me prometeu Cecília desde que eu o acompanhasse naquela viagem que terminou com a morte de Karl Sverkersson. Vejo que ainda continua usando aquela cruz ao pescoço que você tomou do assassinado. Muito bem, o que é que você acha?
— Não acho que seja uma coisa para o rei se manifestar a favor ou contra — respondeu Knut, inseguro. —Aquilo de que vocês falaram, você e Birger Brosa, com tanto ardor, é uma questão de família, e mau seria se o rei se metesse num assunto que não lhe diz respeito.
— Mas você me deu a sua palavra — respondeu Arn, friamente.
— Como assim? Disso não me lembro — disse o rei, surpreso.
— Você se lembra daquela vez que me convenceu a segui-lo até Näs, velejando naquele pequeno barco negro sobre o gelo e seus buracos durante a noite?
— Sim, você era meu amigo. Estava ao meu lado na hora do perigo, isso jamais esquecerei.
— Então, você vai se lembrar também de que primeiro nós iríamos disparar a flecha e, se eu vencesse, ganharia Cecília. E eu venci. Tenho a palavra do rei.
O rei Knut suspirou e ficou cofiando a sua barba rala e grisalha, enquanto pensava a respeito do assunto.
— Isso aconteceu há muitos anos e é difícil recordar as palavras exatas do momento — começou ele, hesitante. — Mas como eu não era rei na época, nem depois por muitos anos ainda, portanto, você não pode dizer que tem a palavra de um rei...
— Mas então tenho a palavra do filho do rei Knut Eriksson, a palavra do meu amigo — objetou Arn.
— Eu era um jovem como você — continuou o rei, agora mais seguro de si. — E, então, pode-se dizer como o nosso conde que seria como se uma criança prometesse pegar a lua. Mas isso ainda não se trata da argumentação definitiva. Como eu disse, o rei deve cuidar de não se meter nos problemas de outras famílias. A questão é de vocês, folkeanos. Mas há uma coisa que você deve saber. Agora, sou o seu rei, mas na época não era. Agora, não pergunte ao seu rei o que ele pode fazer por você. Pergunte antes o que você pode fazer pelo seu rei.
— O que eu posso fazer pelo meu rei? — perguntou Arn, de imediato.
— Case com Ingrid Ylva e libere Cecília Algotsdotter do juramento e da promessa para que ela possa ser a nossa abadessa em Riseberga — reagiu o rei, com a mesma rapidez.
— É impossível. Nós temos ainda o nosso juramento diante de Nossa Senhora. O que é que posso fazer mais por você?
O rei hesitou e olhou para Birger Brosa, mas este virou os olhos para o céu. O ciclo tinha se fechado de novo e tudo tinha voltado ao princípio.
— Você pode me jurar fidelidade? — perguntou o rei como se tivesse mudado de assunto.
— Isso eu já fiz quando nós ainda éramos jovens. A minha palavra continua valendo, mesmo que a sua não valha mais — respondeu Arn.
Foi então que o rei sorriu pela primeira vez durante a discussão e acenou com a cabeça. Achava que a flecha de Arn tinha acertado no alvo mais uma vez.
— Quando eu ainda não era rei, você não poderia jurar fidelidade a mim como tal. Hoje, eu sou rei — respondeu ele, enfaticamente.
— O meu tio e o meu irmão lhe juraram fidelidade? — perguntou Arn e todos os três na sala confirmaram com a cabeça.
Arn levantou-se sem mais delongas, puxou sua espada e se ajoelhou diante do rei Knut. Colocou a ponta da sua espada no chão, apontada para a frente, e a segurou com ambas as mãos, depois de ter feito o sinal-da-cruz.
— Eu, Arn Magnusson, juro que, enquanto fores meu rei e rei dos folkeanos, serei fiel a ti, Knut Eriksson, em... auxilium etconsilium — disse ele, sem hesitar, até o momento de falar as últimas palavras em latim. Depois, levantou-se, embainhou a espada e voltou para o seu lugar.
— O que é que você quis dizer com essas últimas palavras em língua estrangeira? — perguntou o rei.
— É o que um cavaleiro precisa jurar. Não sei dizer essas palavras na nossa língua, mas nem por isso valem menos na língua da Igreja — afirmou Arn, com um pequeno encolher de ombros. — Auxilium faz parte do juramento, significa ajuda... ou apoio... ou, talvez se possa dizer, minha espada.
— O rei, agora, não precisa da sua espada, precisa do seu pênis — murmurou Birger Brosa. — Desde que você não pense com a cabeça dele! — acrescentou, ainda bravo.
Arn fingiu que não tinha escutado e nos olhos do rei, seu amigo de infância, viu que ele também pensava que era melhor assim.
— Consilium é a outra palavra usada pelo cavaleiro para prometer ao seu rei — continuou Arn. — Significa que jurei lhe prestar assistência com conselhos, sempre de acordo com a verdade e na medida das minhas capacidades.
— Ótimo — disse o rei Knut. — Então me dê logo um conselho, de imediato. O arcebispo Petrus fala muito em eu ter que me penitenciar pelo pecado de ter matado Karl Sverkersson. Não sei ao certo o quanto as palavras dele significam a pura fé em Deus e o quanto significam apenas a vontade dele de provocar um vexame para mim. Agora, ele quer que eu, como reconciliação, mande uma cruzada para a Terra Santa. A esse respeito, você deve ter alguma idéia, pois andou por lá em guerra por mais de vinte anos, certo?
— Sim, é claro que tenho — disse Arn. — Construa um mosteiro, ofereça ouro ou uma floresta, construa uma igreja, compre uma relíquia de Roma para a catedral do arcebispo. Qualquer coisa dessas ou, na pior das hipóteses, tudo isso, é melhor do que mandar uma cruzada. Se mandar folkeanos e erikianos para a Terra Santa, vão ser todos abatidos como se fossem animais, sem que a sua morte signifique qualquer coisa, além de lamentações e tristeza.
— E disso você tem certeza? — refletiu o rei. — Não seria suficiente a coragem nos nossos peitos, nem a nossa fé suficientemente forte, e nem a nossa espada suficientemente capaz?
— Não! — disse Arn.
Um silêncio desanimador desceu por toda a sala.
Quando o alarido atingiu sua pior fase na câmara do conselho lá em cima na torre oriental, a rainha Cecília e Cecília Rosa resolveram subir até o plano de defesa mais alto da torre ocidental para se sentirem totalmente à vontade e longe de todos os olhares indagadores. Como a voz de Birger Brosa troava pelas frestas de tiro, ficou claro para todos em Näs que era de esperar mais discussões e discórdia do que alegrias e brincadeiras mais para a noite, embora poucos fossem aqueles que sabiam do que se tratava toda essa luta.
As duas Cecílias, porém, não tinham nenhuma dificuldade em entender. A raiva de Birger Brosa, raramente presenciada, era conseqüência do fato de Arn Magnusson o estar enfrentando. Arn achava que devia manter a sua palavra, e Birger Brosa, que ele devia esquecer a promessa feita, para que Cecília Rosa pudesse voltar para Riseberga, ser elevada a abadessa e retribuir os serviços que estava devendo.
Era assim que a situação devia estar lá dentro, na câmara do conselho. Era claro como água.
Tentaram escutar, mas conseguiam ouvir apenas, nitidamente, quando Birger Brosa falava, expondo repetidamente o seu desdém pelo amor.
Cecília Rosa estava como que paralisada, nem sequer conseguia pensar. Aquilo que havia sido, durante tantos anos, um sonho impossível era agora uma realidade, tão real quanto ela, vivendo e respirando. Arn estava lá, a curta distância, a menos de um tiro de flecha. Era verdade, mas ainda assim inacreditável. Dava voltas e voltas ao pensamento e era como se não pudesse sair dessa roda de dúvidas.
A rainha Blanka refletia com mais precisão. Achava que a decisão não estava para ser tomada.
— Vem! — disse ela, pegando Cecília Rosa pela mão. — Vem, vamos descer um andar, beber um vinho e decidir como devemos fazer. Não adianta nada ficar aqui, ouvindo o barulho que os homens estão fazendo.
— Olha! — disse Cecília Rosa, apontando da torre como se estivesse só meio acordada. — O arcebispo e seu séquito estão chegando.
Vindos da área norte do porto, a cruz do arcebispo relampejava seus reflexos de prata, trazida na frente do grupo por um cavaleiro. Atrás do cavaleiro da frente com a cruz viam-se muitas cores, de todas as capas dos bispos, mas também de todos os escudeiros que vieram na companhia dos bispos, a maioria em mantos vermelhos, já que o arcebispo era sverkeriano.
— É verdade — disse Cecília Blanka. — Eu os vi chegar e nem eu mesma consegui entender qual a maneira como devemos ordenar tudo, antes de homens entenderem o que aconteceu. Mas vem!
Ela puxou por Cecília Rosa, desceu um andar na sala do rei, pediu mais vinho e empurrou gentilmente a sua amiga para um monte de almofadas lübeckianas e francesas, além de coberturas de penas, dispostas em cima de uma das camas. Elas se acomodaram sem dizer nada. Mas Cecília Rosa parecia ainda estar sonhando e não acordada.
— Agora, é preciso que você seja forte, minha amiga. Nós duas precisamos ser fortes — disse a rainha, decidida. — Precisamos pensar, precisamos decidir e precisamos, acima de tudo, fazer qualquer coisa.
— Como é que o conde pode ser contra a vontade de Nossa Senhora? Isso não posso entender de jeito nenhum — reagiu Cecília Rosa, como se ela não tivesse ouvido nem um pouco a sua amiga mais querida, nem as suas palavras sensatas, nem a sua vontade de tomar decisões rápidas.
— Para os homens as coisas são assim! — sussurrou a rainha. — Se eles acham que os planos de Deus e dos santos de Deus estão de acordo com os seus próprios planos, tudo está bem. Se os seus próprios planos em relação ao poder se dirigem em outro sentido, acham então que os de Deus devem vir em segundo plano. É assim que eles são. Mas agora estamos com pouco tempo. Você precisa se recompor e precisamos pensar com clareza!
— Vou tentar — disse Cecília Rosa, fechando os olhos e respirando fundo. — Vou tentar mesmo, prometo. Mas você deve entender que não é assim tão fácil. Justo no momento em que eu, depois de todos esses anos, duvidava pela primeira vez, Nossa Senhora me trouxe de volta o meu Arn. Qual seria a intenção dela? Não é estranho?
— Sim, é mais do que estranho — concordou rápido Cecília Blanka. — Nós, sentadas ali, no campo de lírios. Você já decidida a ser infeliz para eu ser feliz. Você desistiria do seu sonho por minha causa, por causa da nossa amizade. Eu estava triste, mas não surpresa ao ver que você se conformava em ser infeliz por causa da nossa amizade.
— Você faria a mesma coisa por mim — disse Cecília Rosa, meio distraída.
— Acorda, minha querida amiga! — ordenou, decidida, a rainha. — É agora, justamente agora, que tudo vai acontecer. Agora, sou eu, precisamente como Nossa Senhora nos mostrou, que devo fazer tudo por você. Você não vai assumir o véu e a cruz. Você deve casar-se com Arn Magnusson. E quanto mais depressa melhor!
— Mas o que é que podemos fazer quando são os homens que estão discutindo aos berros o que deve ser feito? — perguntava Cecília Rosa, resignada.
— Não vacile, não é assim que você age normalmente, minha querida amiga — disse a rainha, impacientemente. — Vamos pensar e agir e não continuar sonhando. Você se lembra daquela vez em que usamos a confissão como arma?
— Sim... — confirmou Cecília Rosa, com demora. — Ah, sim! Quando mandávamos recados através de nossas confissões, lamentando amargamente nossos sentimentos de vingança e de como iríamos pressionar os folkeanos, o conde e o rei, caso não passássemos a ser tratadas mais suavemente. Essas flechas acertaram melhor do que esperávamos.
— Isso mesmo! — concordou a rainha, satisfeita ao ver que Cecília Rosa começava a reagir, a acordar. — E hoje vamos fazer a mesma coisa. Em breve, o arcebispo vai se sentar na sua tenda e vai se rebaixar, atendendo diretamente ao povo, antes da reunião do conselho. Vai demonstrar, hipocritamente, o seu amor por todos os cordeiros mais ínfimos do Senhor. Qualquer pessoa poderá vir beijar o anel do arcebispo e se confessar. Até mesmo uma rainha e uma yconoma de Riseberga...
— E qual será o recado que vamos mandar desta vez? — queria saber Cecília Rosa, ansiosa, já com novo brilho nos olhos e outra cor nas faces.
— Vou contar como estou sofrendo a agonia de ter de escolher entre mandar a minha melhor amiga para o convento apenas para meu proveito, para conservar o direito à coroa para os meus filhos. Além do mais, isso é verdade. Iria você ser abadessa por outras razões que não a de aceitar esse sacrifício por minha causa? Diante disso, me sinto torturada pela agonia e é isso que quero confessar. E depois será a sua vez e então...
— Não, não diga nada! Deixe que eu pense primeiro. Muito bem. Vou confessar ter entendido como um milagre de Nossa Senhora o fato de ela ter atendido às orações minhas e de Arn durante mais de vinte anos e tê-lo mandado de volta para casa, sem ferimentos graves. E de como o seu juramento sagrado estava prestes a ser cumprido... E de como Nossa Senhora, com isso, quis demonstrar como o amor pode ser grande e como a esperança jamais deve ser abandonada... E como me sinto angustiada ao ver que me pedem para aceitar compromissos terrenos e entrar para o convento em vez de receber o presente de Nossa Senhora. Tudo isto é também verdade. Tanto você quanto eu não estamos profanando a instituição da confissão dizendo isso. Você acha que essas palavras chegam?
— Chegam, claro — disse a rainha. — Acho que o nosso respeitável arcebispo vai se lembrar imediatamente das palavras de Deus a respeito do milagre do amor. Ele vai se transformar num forte combatente pelo amor entre você e Arn, amor que não pode ser profanado, porque...
— Porque, então, todos nós seríamos participantes de um grande pecado, o de não atender à vontade clara e notória de Nossa Senhora! — concluiu Cecília Rosa, rindo.
As duas estavam realmente excitadas e chegavam a falar ao mesmo tempo. Cecília Blanka falou, inclusive, de novos planos para a ceia da noite, a fim de que não houvesse nenhuma possibilidade de se abrir qualquer caminho para o convento. Cecília Rosa ficou de boca aberta e até corou, quando ouviu as medidas astuciosas que estavam planejadas. Mas aí despertaram para o fato de não ter tempo a perder. E correram de mãos dadas pela escada da torre abaixo como se fossem duas jovens, a caminho de realizar primeiro as suas confissões totalmente conforme a verdade, que iriam jogar todos os planos dos homens em cinzas e ruínas. Quando chegaram à praça, porém, se obrigaram a parar, abaixaram as cabeças e seguiram, contidas e sérias, na direção da tenda do arcebispo, montada fora dos muros do burgo.
A grande discussão da sala de reuniões do conselho na torre oriental já tinha amainado e se transformado numa longa conversa na seqüência das palavras duras de Arn a respeito da impossibilidade de mandar uma cruzada das duas Götalands e da Svealand. Tanto o rei como o conde ficaram ofendidos por sua curta maneira de dizer não na questão de saber se os homens nórdicos tinham capacidade para isso.
Arn foi obrigado a ser mais claro e o que ele contou fez os outros o escutarem com consideração e medo.
Depois da queda de Jerusalém, para retomar a Terra Santa dos sarracenos era preciso um exército de, pelo menos, sessenta mil homens, começou por dizer Arn. E um exército desses é difícil de manter com comida e água. É preciso que seja mantido sempre em movimento, Pilhando para se manter e ir em frente. Portanto, era impossível sobreviver sem uma cavalaria forte, o que tornaria a participação dos combatentes nórdicos impossível. E sessenta mil homens era uma quantidade tão grande que significava a participação de todos os homens capazes de carregar armas das Götalands e da Svealand.
Sim, mas se a gente fizesse apenas o que a Igreja exige, o seu dever para com Deus, e o seu máximo na medida da sua melhor capacidade, juntando tantos homens quanto fosse possível, o que isso significaria?
Dez mil soldados, combatendo a pé, achava Arn. Se o rei Knut, depois de muito trabalho, conversando e ameaçando, conseguisse convencer todos e cada um da verdadeira vontade de Deus e reunir todos os homens nórdicos capazes de pegar numa espada ou, pelo menos, numa foice, a viajar para Jerusalém, para sua salvação, se todo o país se convencesse disso, como viajaria toda essa gente?
Velejando, naturalmente. No caminho, depois de passar pela Inglaterra e antes de chegar à costa da Jutlândia no seu barco, Arn encontrou pela frente um exército dinamarquês de cruzados em cerca de cinqüenta barcos com três ou quatro mil homens, embora sem cavalos. Arn e Harald tinham concordado que todos esses homens estavam a caminho da sua própria morte e que iriam causar mais problemas do que constituir uma ajuda, se é que conseguissem chegar ao seu destino em boa ordem.
Vamos observar, continuou Arn, enquanto os outros ouviam como se ainda quisessem saber mais razões, o caso de o rei Knut poder viajar com uma força, mais ou menos semelhante. O que aconteceria ao chegarem à Terra Santa? Muito bem, o único lugar onde os novos cruzados poderiam atracar seria a cidade de São João do Acre, a última fortaleza cristã no reino de Jerusalém, atualmente superpovoada. Iriam alguns milhares de nórdicos, sem cavalaria, ser recebidos com agradecimentos? Não, seriam apenas mais bocas para alimentar. E o que seria possível fazer de bom para o exército cristão? Correr ao lado da cavalaria com seus escudos para defender, se possível, os cavalos dos homens que os montam. Mas qualquer participação efetiva nos combates por parte dos combatentes nórdicos não haveria, isto porque seriam em número muito pequeno para constituir um exército próprio.
E não saberiam falar o francês, o que os tornaria verdadeiramente dispensáveis no exército cristão.
Isso não seria apenas a morte certa, seria a morte desnecessária e desonrosa. E aquele que morresse não morreria abençoado, nem na firme certeza de que a morte na Terra Santa levaria ao perdão de todos os pecados e ao Paraíso.
Birger Brosa tentou apresentar algumas objeções, mas a sua raiva de antes como que foi levada pelo vento. Já falava agora, de novo, com voz tranqüila e, às vezes, até sorridente. E o caneco de cerveja que recebeu balançava bem casualmente em cima do seu joelho, da perna cruzada na outra.
— Knut e eu não estamos habituados a pensar em nós como cordeiros indo para o matadouro — disse ele. — No início da luta pela coroa, um ano depois da sua partida, vencemos os sverkerianos em todos os recontros, menos um. Perto de Bjälbo, aconteceu a batalha final e a nossa vitória foi grande, apesar de o inimigo ter uma força — quase o dobro da nossa. Desde então tem reinado a paz em nosso reino. Éramos mais de três mil folkeanos e erikianos, com nossos amigos, lado a lado, ombro a ombro. É uma força fantástica. Mas você acha que seríamos apenas como que cordeiros. É difícil imaginar uma coisa assim. O que aconteceria se essa força que estava em Bjälbo na luta dos prados de sangue lutasse na Terra Santa?
— Seríamos obrigados a lutar a pé — disse Arn. — O inimigo estaria a cavalo. Daí, não poderíamos atacar. Não poderíamos escolher, nem hora, nem lugar. O sol ceifa suas vítimas como flechas no verão. A chuva e a lama vermelha e grudenta nos abate na desesperança e na doença durante o inverno. De repente, o inimigo vem por trás, com seus cavalos rápidos. Cem homens morrem e outros tantos ficam feridos. E aí o inimigo vai embora. E ficamos esperando. No dia seguinte acontece o mesmo. Nenhum de nós conseguiria sequer acertar um só golpe com a espada antes de estarmos todos mortos.
— Mas se vierem a cavalo... — pensou Birger Brosa. —Aí nós os recebemos com flechas e lanças. Um homem a cavalo tem o dobro das coisas em que pensar. Se cair, está liquidado. Se avançar a cavalo, pode acabar se espetando na lança.
Arn respirou fundo, levantou-se e foi até a mesa de carvalho no meio da sala. Afastou o tinteiro, o sigilo e o pergaminho e desenhou com a ponta do dedo no pó.
Se o exército ficasse quieto no chão raso e com uma boa visão para todos os lados, o inimigo faria apenas pequenos ataques, visto que o sol e a sede se encarregariam do trabalho principal.
Se o exército não se mexesse, morreria. Se o exército se mexesse, teria que adotar uma formatura alongada. E aí viriam os ataques rápidos pela frente ou por trás. Os cavaleiros sarracenos se aproximariam, disparando uma, duas ou três flechas, quase todas certeiras, desaparecendo em seguida. Depois de cada um desses ataques, haveria que tomar conta dos mortos e dos feridos.
Além disso, os sarracenos tinham uma cavalaria pesada empu-nhando lanças longas como arma, exatamente como os cristãos. Um nórdico sem experiência, certamente, atrairia os sarracenos para a utilização também dessa arma.
Arn descreveu como o céu escurecia, de repente, por uma grande nuvem de poeira, como o chão tremia e não se conseguia ver nada com toda aquela poeira, antes de a força inimiga chegar e atacar com força total, bem no meio dos soldados a pé, atravessando o exército, sem resistência, que fica separado em duas partes. Aí, eles reassumiam a formatura de ataque e voltavam de novo. Três mil guerreiros a pé na Terra Santa morreriam em menos tempo do que eles haviam perdido, naquela sala, conversando e discutindo. E com isso Arn terminou e voltou para o seu lugar.
— Pensei em várias coisas, ao ouvi-lo, meu caro — disse Birger Brosa. — A sua honestidade é grande, disso eu sei. O que você contou considero como verdade. E com isso você nos salva da maior das loucuras.
— Essa é a minha esperança — acrescentou Arn. — Jurei perante o nosso rei que lhe prestaria auxílio e essa responsabilidade eu assumo, sem fingimentos. Não brinco.
— Claro que não — disse Birger Brosa, com um sorriso zombeteiro que todos reconheciam ser sua natureza —, suas palavras você não assume levianamente. E delas a gente não recebe apenas coisas ruins, mas também algumas coisas boas. Amanhã, no conselho, portanto, vamos alegrar o nosso arcebispo e a sua banda com a decisão de construir um novo mosteiro em... Ah, sim, o que é que você acha, Knut?
— Em Julita — disse o rei. — Deve ficar em Svealand, onde a voz de Deus é mais fraca, e com isso o grupo dos nossos bispos também deve ficar satisfeito.
— Então deve ser Julita. E com isso vamos ficar livres por alguns momentos dessa conversa sobre a cruzada — disse Birger Brosa. — Mas essa é uma decisão para o momento atual. Para o futuro existe outra questão, muito maior. Se um exército sarraceno nos derrotaria fácil, um exército franco também nos derrotaria da mesma maneira? Ou inglês? Ou saxónico?
— Ou dinamarquês — acrescentou Arn. — Se tivéssemos que enfrentar qualquer desses exércitos no campo do adversário. Mas o nosso país está situado bem longe do mundo. Não é nada fácil trazer um grande exército até aqui. Os sarracenos jamais virão. Nem os francos, nem os ingleses ou os normandos. Mas os saxónicos e dinamarqueses é menos certo.
— Vamos ter que repensar a situação — disse Birger Brosa, dando uma olhada inquiridora na direção do rei Knut, que acenou concordando, após alguma reflexão. — Os tempos são outros, lá fora, no mundo, e já aprendemos isso em relação ao comércio. Desse aprendizado já tiramos vantagens e das boas. E vamos sobreviver e nos desenvolver como reino, nesses novos tempos...
— Quer dizer que temos ainda muita coisa nova a aprender! — completou o rei, seguindo os pensamentos de Birger Brosa, como seria de esperar, caso este não tivesse se contido antes de finalizar sua fala.
— Arn! Meu amigo de infância, você, que uma vez me ajudou a conquistar a coroa — continuou o rei, excitado. —Aceita tomar lugar no nosso conselho, aceita ser o nosso marechal?
Arn levantou-se e fez uma vênia diante do soberano e, depois, diante do conde-ministro como sinal de aceitação imediata, tal como tinha jurado fazer. Birger Brosa, então, avançou e lhe deu um abraço, além de uma palmada bem forte nas costas.
— É uma bênção ver você de volta, aqui, Arn, meu querido sobrinho. Sou um homem que raramente se explica ou se desculpa. Não é uma coisa fácil para eu fazer. Mas no meu discurso de hoje, para você, em alguns trechos, lamento o que disse.
— Bem — reagiu Arn. — O senhor me surpreende. Não foi desse jeito que eu me lembrava do homem mais inteligente entre todos os da nossa família, aquele de quem todos nós tentávamos aprender as maneiras.
— Felizmente, houve poucas testemunhas hoje — disse, sorrindo, Birger Brosa —, e, além disso, eram os parentes mais chegados, logo a seguir aos meus filhos e apenas o rei, meu amigo. Caso contrário, teria sido muito ruim para a minha fama. Quanto a Cecília Algotsdotter...
Ele sorriu e deu uma certa ênfase às palavras, a fim de atrair Arn a contrariá-lo, mas este ficou na espera, em vez de fazer objeções.
— Quanto a Cecília, tive uma idéia que é mais sensata do que aquela que apresentei antes — continuou ele. — Vá encontrar com ela, fale com ela, comprove seu amor por ela, deixe que ela comprove o dela. Depois disso, voltaremos a falar de novo sobre o caso, mas não daqui a muito tempo. Você quer aceitar esta minha nova proposta?
Arn fez uma nova vênia para seu tio e para o rei, mas seu rosto não demonstrou nem dor nem impaciência.
— Ótimo! — disse o rei. — Na reunião do conselho, amanhã, nada se falará a respeito do que se fará quanto à abadessa de Riseberga. Como se tivéssemos esquecido a questão. Em vez disso, metemos o novo convento Julita pela goela abaixo dos bispos. Estamos felizes por ver que a tempestade passou, Arn. E estamos felizes por ver você no conselho como o nosso novo marechal. Portanto, deixem que eu fale uma coisa a sós com o meu conde que precisa ser um pouco admoestado pelo seu rei. Sem testemunhas.
Arn e Eskil se levantaram e fizeram uma vênia na direção do seu rei, saindo pela escada bem escura.
Embaixo, na praça do burgo, a tenda estava erguida e a mesa posta. Servia-se cerveja e vinho. Eskil tomou Arn pelo braço e conduziu os dois para um dos balcões, enquanto Arn suspirava e sussurrava a respeito dessa permanente festança, com bebidas meio aguadas, embora a sua insatisfação fosse notoriamente teatral, levando Eskil a sorrir.
— Ainda bem que você continua em condições de rir depois daquela tempestade — disse ele. — E no que diz respeito à cerveja, talvez você mude de opinião. Aqui, em Näs, só se serve cerveja de Lübeck.
Ao se aproximarem de uma das tendas, todos se afastavam para o lado, sussurrando e apontando, como as águas se afastam diante da proa de um barco. Eskil parecia não notar nada.
Ao degustar a cerveja de Sachsen, Arn logo concordou que se tratava de uma outra bebida em relação àquelas que ele, com maior ou menor sofrimento, se tinha obrigado a beber. Era mais escura, com mais espuma e muito mais forte em lúpulo do que em baga de zimbro. Eskil avisou-o de que, além disso, essa cerveja subia à cabeça mais rapidamente, de modo que ele devia se precaver e não começar a se portar mal, a contar vantagem e a puxar pela espada. Primeiro, eles riram um pouco dessa piada, mas depois acabaram se abraçando cada vez mais aliviados diante do fato de a tempestade, pelo que parecia, já ter passado.
Eskil fez ainda algumas observações a respeito da maneira como Birger Brosa falou no início da reunião na sala do conselho. Os dois ficaram virando e revirando o assunto, tentando saber o que estaria por trás dessa inesperada falta de compostura. Eskil achava que havia muitos sentimentos contraditórios ao mesmo tempo, mais do que até mesmo um homem como Birger Brosa podia suportar. Isso porque, sem dúvida, o conde estava realmente feliz por ver Arn de volta, com vida. Mas, ao mesmo tempo, durante tantos anos, ele tinha alimentado a idéia de que Cecília Rosa — aí, Eskil abriu um parêntese para explicar como Cecília recebeu o apelido de Rosa — iria ser a contraposição às mentiras da maldita madre Rikissa sobre os votos feitos no convento pela rainha. Alegria e decepção não eram uma boa combinação, achava Eskil. Era como se a gente quisesse misturar cerveja com vinho no mesmo caneco.
Arn disse que um compromisso era muito melhor do que uma derrota, mas aí Eskil não entendeu aonde Arn queria chegar. Aos poucos, porém, chegaram à conclusão de que uma vitória pela metade era melhor do que uma derrota. Difícil seria prolongar a espera e o desejo de voltar para Cecília. Insuportável seria não conseguir nem a metade de uma vitória, tanto pelo lado de Arn como pelo de Birger Brosa.
Eles foram interrompidos nos seus pensamentos por um dos capelães do arcebispo, que avançou entre todos os homens e mulheres já vestidos para a festa, alegremente entretidos nas suas conversas e nas suas bebidas.
O capelão se mostrou muito compenetrado e de nariz empinado, o que motivou, inevitavelmente, uma expressão de estranheza entre Eskil e Arn. Como uma pequena e logo malsucedida vingança, o capelão disse ao que veio em latim. Sua Eminência, o arcebispo queria falar, imediatamente, com o senhor Arnus Magnusonius.
Arn sorriu perante aquela maneira engraçada de distorcer o seu nome e respondeu logo na mesma língua que Sua Eminência estava chamando e, portanto, ele se apresentaria sem demora, mas que ele, obrigatoriamente, tinha de fazer primeiro uma incursão até a mala da sua sela. Para Eskil, ele sussurrou que aquilo cheirava mal como manobra e Eskil concordou, acenando com a cabeça e dando uma piscadela de olho para Arn, junto com uma leve palmada nas costas, de estímulo.
— Contra esse povo da Igreja, você já pelejou muito e sabe como se conduzir, meu querido irmão — disse ele em voz baixa.
Arn concordou e piscou o olho de volta. Pegou o capelão respeitosamente pelo braço e dirigiu-se para as cavalariças do rei.
E, da sua mala, retirou a carta de liberação assinada pelo grão-mestre da Ordem dos Templários, carta que ele desconfiava ser necessária para enfrentar as intrigas do arcebispo, ao mesmo tempo que conversou com o capelão a respeito dos assuntos de que, eventualmente, a conversa com o arcebispo ia tratar. Mas o capelão não entendeu bem o que Arn queria dizer, uma vez que, apesar de tudo, não estava muito familiarizado com o linguajar da Igreja para falar em generalidades, tal como pretendeu demonstrar, de nariz empinado, ao se aproximar dos dois irmãos, na tenda da cerveja.
Arn teve de esperar um momento do lado de fora da tenda do arcebispo, enquanto alguma coisa se esclarecia lá dentro e antes que um homem de expressão fechada e de manto sverkeriano saísse e outro capelão o chamasse para entrar.
Lá dentro estava o arcebispo Petrus sentado numa imponente cadeira como se fosse um trono, de alto espaldar e de cruz incrustada, e, diante dele, no chão, estavam os seus paramentos em ouro e prata. Ao lado do arcebispo, estava sentado ainda um bispo.
Arn avançou rápido e se ajoelhou e beijou o anel do arcebispo. Esperou pela bênção dele e se levantou depois. Para o outro bispo, Arn apenas fez uma vênia.
O arcebispo inclinou-se para o seu bispo subordinado e disse alto em latim, certo de que, como habitualmente, eles eram os únicos a entender essa língua, que a conversa ia ser tão divertida quanto espiritualmente estimulante.
— O amor é uma coisa maravilhosa — brincou o outro bispo. — Em especial, quando serve da melhor maneira aos objetivos de Nossa Senhora!
A esse comentário jocoso ambos os clérigos riram com satisfação. Arn, por seu lado, fingiu não entender. Era como se eles ainda não o tivessem visto.
Essa espécie de comportamento, Arn já tinha visto muitas vezes Por parte de homens no poder e já não se deixava perturbar. Em contrapartida, estava preocupado com o fato de os dois falarem em um latim cheio de erros e com um estranho sotaque nórdico, crentes que ele, Arn, não entendia nada do que diziam. Como deveria ele agir em ilação a isso, com astúcia ou com honestidade? Era preciso tomar uma decisão rápida. Se continuasse ouvindo, iria ficar tarde demais. Fez o sinal-da-cruz, pensando ainda no que devia fazer, e quando o arcebispo, com um sorriso nos lábios, parecia se preparar para mais um comentário jocoso, inclinando o corpo na direção do seu bispo, Arn tossiu para clarear a voz e disse algumas palavras, destinadas mais para servir de aviso.
— Suas Eminências me desculpem por eu interferir no vosso discurso, certamente muito interessante — disse ele, notando logo a expressão de espanto no olhar deles. — Mas é, realmente, um bálsamo para os espíritos voltar a ouvir uma língua que domino e na qual cada palavra tem seu conteúdo preciso.
— Você fala a língua da Igreja como se fosse um clérigo! — disse o arcebispo, de olhos bem abertos, espantado. E logo o seu desprezo por mais um visitante desapareceu por completo.
— Isso porque sou um homem da Igreja, Vossa Eminência — respondeu Arn, com uma ligeira vênia, ao mesmo tempo que estendia a carta que, segundo lhe parecia, seria o assunto principal da conversa com o arcebispo. Era questão de saber se ele era desertor ou não, um homem sob as ordens da Igreja ou sob as ordens seculares.
Os dois homens da Igreja inclinaram suas cabeças sobre o papel, procurando nos textos até que encontraram a versão em latim do que estava escrito em francês e em árabe e leram, lenta e solenemente, o que estava no papel, para em seguida apontar com uma certa reverência para o sigilo do grão-mestre da Ordem dos Templários, com dois monges em cima do mesmo cavalo. Ao terminar a leitura, o arcebispo olhou para Arn e, de repente, era como se tivesse notado que ele ainda estava de pé na sua frente. Ordenou, então, que trouxessem um banco, que um capelão, surpreso, veio trazer com a maior presteza.
— Realmente, é uma alegria para mim saber que está de volta ao nosso país, Senhor Comandante Arn de Gothia — disse o arcebispo, agora, de modo agradável, quase como se estivesse falando para um igual.
— É uma bênção para mim ter voltado — respondeu Arn. — Assim como é para mim uma sensação de liberdade falar na língua da
Igreja e sentir de volta a consciência do pensamento livre, associações que podem ser feitas ao vôo dos pássaros no espaço e não ao rastejar das tartarugas no chão. Quando tento falar na língua da minha infância, é como se eu tivesse um pedaço de pau na boca em vez da língua. Minha alegria, evidentemente, é maior ao ser chamado para esta audiência, na qual espero ter a oportunidade e o privilégio de poder me apresentar aos senhores.
O arcebispo imediatamente apresentou o bispo Stenar, de Vãxjö. Arn levantou-se mais uma vez e beijou o anel do bispo, antes de voltar a sentar-se.
— O que significa ser você um templário do Senhor e se apresentar com o manto folkeano, com o leão? — perguntou o arcebispo, interessado. Parecia que a conversa estava tomando agora uma outra direção nada semelhante àquela que os dois prelados tinham pensado no início.
— É uma pergunta intrincada, pelo menos à primeira vista, Vossa Eminência — respondeu Arn. — Como esclarece o documento que o lhe apresentei, sou considerado irmão da nossa ordem por toda a eternidade, embora o meu tempo de serviço na força armada fosse limitado a vinte anos, igual ao período de penitência que me foi imposto.
Mas tenho o direito de usar o manto dos templários quando quiser, o que também está mencionado nas palavras do grão-mestre.
— Como templário... o homem não faz também os seus votos monásticos? — perguntou o arcebispo, com uma repentina ruga na testa, de preocupação.
— Naturalmente, todos os templários juram pobreza, obediência e castidade — respondeu Arn. — Mas como está escrito na quarta linha e, no seguimento, na quinta linha do documento, fui liberado desses juramentos no momento em que o meu serviço temporário terminou.
Os dois prelados, mais uma vez, enfiaram os seus narizes na folha "e pergaminho, procurando pelo texto indicado por Arn. Soletraram o escrito e voltaram a abrir a fisionomia, concordando. Eles pareciam também muito aliviados, o que para Arn ficou difícil de entender.
— Portanto, você está livre para ter bens e poder casar — constatou o arcebispo, com um suspiro de satisfação, enrolando o pergaminho e estendendo-o de novo para Arn, que, com uma vênia, o recebeu de volta e o enfiou na sacola redonda de couro. — Mas diga-me, quando você veste o manto branco dos templários, um direito que você inquestionavelmente detém, a quem obedece? — perguntou o arcebispo. — Ouvi dizer que vocês, os templários, não devem obediência a ninguém. É realmente assim?
— Não, mas há um cunho de verdade nisso, Vossa Eminência — respondeu Arn, saboreando essa língua que obedecia à menor nuança do pensamento. — Como templário no posto de comandante de fortaleza, obedeço ao Mestre de Jerusalém e ao grão-mestre da ordem. E todos obedecem diretamente ao Santo Padre, em Roma. Mas na ausência dos irmãos mais graduados e na ausência de Sua Santidade, não obedeço a ninguém. Por isso, nessa situação, acontece exatamente como Vossa Eminência pensou. Com o manto de folkeano com o qual estou vestido, obedeço ao rei dos sveas e dos gotas e, portanto, à minha família, como a tradição estipula aqui entre nós.
— No momento em que coloca de novo nos ombros o seu manto branco, você fica inatingível por todos os que estão no comando, aqui, na Escandinávia — resumiu o arcebispo. — Isso é, sem dúvida, uma situação excepcional.
— Um pensamento fascinante, Vossa Eminência. Mas seria totalmente errado da minha parte, como verdadeiro cristão de volta à sua terra natal, fugir do seu julgamento através de um gesto, o de lançar sobre os ombros a capa branca da invisibilidade, tal como se conta na mitologia grega.
— A sua fidelidade, em primeiro lugar, é para o reino de Deus e, depois, para a sua família, certo? — perguntou o arcebispo, de maneira suave, mas com uma expressão engraçada.
— Esse dualismo é uma concepção puramente falsa da diferença entre o espiritual e o secular. Ninguém jamais vai poder dominar as leis do Nosso Pai Celestial — reagiu Arn, disfarçando sua ligeira preocupação diante dessa pergunta idiota.
— Você se exprime com admirável eloqüência, Arn de Gothia — elogiou o arcebispo, ao mesmo tempo que escutava qualquer coisa para a qual Stenar de Váxjö, em voz baixa, lhe tentava chamar a atenção. E com a qual o arcebispo concordou. — Esta nossa conversa se prolongou num tom muito agradável e com inesperado conteúdo — continuou o arcebispo. — Mas o tempo urge. Temos almas aguardando lá fora e, por isso, temos de ir direto para a questão principal. O tempo de penitência lhe foi imposto por um pecado carnal com a sua mulher prometida, Cecília Algotsdotter. Foi assim, não é verdade?
— Assim foi — respondeu Arn. — E esse tempo de penitência, cumpri com lealdade e honra até o último dia no exército do Senhor e na Terra Santa. O que quero dizer com isso não implica, evidentemente, nem sequer a insinuação de que sou um homem livre de pecados, mas apenas a constatação de que esse pecado que deu origem à minha penitência passou por uma purificação.
— É isso que pensamos, também — declarou o arcebispo, um pouco forçadamente. — Mas o seu amor por essa Cecília conservou-se aceso e forte durante todo esse longo tempo, assim como o amor dela por você ardeu com a mesma chama viva?
— Nas minhas preces diárias para a Virgem Maria foi assim que aconteceu, Vossa Eminência — respondeu Arn, cautelosamente, preocupado com o fato do seu mais precioso segredo ser do conhecimento desse arcebispo rústico e rude.
— E todos os dias você rezou para a Virgem Maria para que Ela o protegesse, assim como ao seu amor por Cecília e a criança nascida dessa ligação pecaminosa, certo? — continuou o arcebispo.
— É verdade — respondeu Arn. — Com as minhas parcas capacidades de entendimento, acho que, pelo que aconteceu, a Virgem Maria ouviu as nossas preces, deixou-Se convencer, trouxe-me são de volta dos campos de batalha para a minha amada, tal como jurei que tentaria fazer, caso não me fosse destinado ter que morrer como templário por minha salvação.
— Justo essa questão devemos ter em mente e considerar com uma certa acuidade — disse o arcebispo. — Durante vinte anos, você podia ter morrido para entrar no Paraíso que é a prerrogativa especial dos templários. Mas você voltou são para o seu país natal. Será que isso não seria um testemunho de Deus de uma grande graça a seu favor e a favor de Cecília Algotsdotter? — questionou o arcebispo, lenta e amistosamente.
— O amor terreno entre homem e mulher tem, sem dúvida, o seu lugar na vida dos seres humanos, tal como as Sagradas Escrituras nos ensinam por diversas vezes e não está, de forma alguma, necessariamente, em conflito com o amor a Deus — respondeu Arn, disfarçando, visto que não havia entendido a razão ainda da mudança que a conversa tinha tomado.
— É também aquilo que eu penso — disse o arcebispo, satisfeito. — Nesta parte um pouco bárbara do reino de Deus na terra, nesta Última Fronteira, as pessoas tendem a se afastar daquilo que é indicado por Deus como um milagre. Aqui os casamentos sagrados e por Deus instituídos são realizados por motivos outros que não o amor, não é verdade?
— Nós temos, sem dúvida, essa tradição — concedeu Arn. — No entanto, estou convencido e acredito que Cecília Algotsdotter e eu recebemos a graça do milagre do amor. Tenho também a convicção de que a Virgem Maria, dessa maneira, iluminou com o Seu rosto a nossa presença e com isso quis nos mostrar alguma coisa.
— Fé, esperança e amor — murmurou o arcebispo, pensativamente. — Aquele que nunca trai a sua fé, que nunca desiste da sua esperança perante a suavidade da Virgem Maria, acaba sendo recompensado. Na minha opinião, é isso que Ela nos quer mostrar, a todos nós. Não é assim que pensa, Arn de Gothia?
— Longe de mim, muito longe mesmo, entender a maravilha do que nos aconteceu de outra maneira que não a mesma de Vossa Eminência — concedeu Arn, cada vez mais preocupado com os conhecimentos secretos do arcebispo e com a boa vontade que ele demonstrava.
— Então, conforme nosso pensamento... — começou o arcebispo, lentamente, olhando para o bispo Stenar, que acenou, confirmando tudo, após profunda reflexão — conforme nosso pensamento, seria um grande pecado contrariar a vontade da Mãe de Deus e, por conseqüência, a vontade de Deus nesta questão. Venha, meu filho, deixe que eu o abençoe!
Arn avançou novamente, dobrou o seu joelho no chão, diante do arcebispo que, de um dos seus capelães, recebeu uma taça de prata com água benta.
— Em nome do Pai, do Filho e da Virgem Maria, eu te abençôo, Arn de Gothia, que recebeste a graça, que viveste o milagre do amor, para que todos nós melhor encarássemos a vida terrena. E queira Deus te iluminar, queira a Virgem Maria para sempre estar a teu lado. E que tu e a tua amada Cecília possam em breve colher o fruto dessa graça, pela qual ambos, com fé intensa, tanto esperaram. Amém!
Durante a bênção, o arcebispo tocou na testa, nos ombros e no coração de Arn com a água benta.
Tonto e confuso, Arn saiu para a luz do dia que o atingiu cortante nos olhos. O sol tinha baixado no poente.
De volta para a praça do burgo, Arn estava certo de encontrar o seu irmão ainda na tenda da cerveja e repensava nos mínimos detalhes tudo aquilo que acabava de lhe acontecer.
Não via a mão de Nossa Senhora por trás de tudo isso, ainda que tudo estivesse de acordo com os Seus desejos. Viu, sim, a vontade das pessoas, suas intenções, mas não entendia direito como tudo se encaixava, nem também como era possível para um simples bispo nórdico ter conhecimento de tantos segredos pertencentes apenas a ele, Cecília e Nossa Senhora.
Ele não encontrou Cecília antes da grande festa do conselho no salão do castelo onde se reuniram umas cem pessoas, logo depois do por-do-sol. Os banquetes do conselho eram os melhores, atrás apenas das festas do Natal.
Por ordem da rainha Blanka, foi colocada uma cesta de folhagens em uma das pontas da grande mesa real, o que fez com que as mulheres, ao entrarem no salão, apontassem e tecessem seus comentários em voz baixa, impressionadas com a decoração.
O salão encheu-se segundo uma ordem predeterminada. Os convidados menos importantes entraram primeiro e se sentaram, ocupando todos os espaços numa mesa paralela à do rei. Muitos ficavam insatisfeitos com essa disposição, mas os assistentes do rei cuidavam para que ninguém ocupasse um espaço melhor do que merecia.
Depois, entraram os convidados que tinham lugar na mesa do rei e sempre vinham vestidos com as melhores roupagens, de modo que os que já estavam sentados eram obrigados a esticar o pescoço para ver passar os modelos. Ou para reclamar de algum vizinho ou mal-quisto que, imerecidamente, tinha sido convocado para se sentar na mesa do rei.
Arn estava entre os convidados para a mesa do soberano, assim como Harald, que aproveitou a circunstância para reclamar junto do amigo o fato de ainda não ter sido convocado para se encontrar com o conde ou o rei, na qualidade de amigo e fidalgo norueguês. Arn segredou que havia razões que nada tinham a ver com a honra de Harald, mas, sim, com a importância das discussões que duraram tempo demais.
Em penúltimo lugar, entrou a família real, devidamente coroada, com o símbolo das três coroas, assim como o conde, também coroado. O rei e a rainha estavam vestidos com as roupagens importadas mais impressionantes e grandiosas, brilhando com todas as cores do arco-íris, além dos mantos azuis com peles de arminho. Estavam acompanhados dos três filhos que avançaram falando uns com os outros, como se estivessem entrando para se sentar a uma mesa qualquer.
Quando o rei se sentou, entrou o séquito do arcebispo, com todos vestidos de maneira esplêndida, comparável, sem dúvida, à dos soberanos. O arcebispo abençoou primeiro a família real, antes de se sentar, junto com todos os bispos presentes.
Arn viu Cecília lá longe e tentou atrair o olhar dela, mas era como se ela tentasse se esconder entre as damas de companhia, junto das quais estava sentada e não ousasse olhar na direção dele.
Quando todos os lugares já estavam ocupados, com a exceção de dois numa das pontas da mesa real, justo a que estava decorada com as folhagens da época, a rainha levantou-se, de repente, com dois ramos de folhagem semelhante, levantados sobre a cabeça, um de bétulas e outro de freixos. Houve logo um murmúrio crescente no salão, um vozerio de aprovação e de expectativa, enquanto a rainha com os dois ramos na mão, andando e estendendo os ramos para um e para outra, umas vezes de brincadeira, outras vezes de semblante sério, para logo recolher os ramos diante das mãos esticadas, prontas para os receber. Era um efeito teatral que agradava a todos e que acabava estimulando adivinhações a respeito de como o espetáculo iria terminar.
Assim que a rainha parou junto de Cecília Rosa, esta corou e abaixou a cabeça, os olhos na mesa. Todos entenderam pelo menos metade da história. Houve gritos de estímulo, aplausos e votos de felicidades para Cecília que, ainda de cabeça baixa, recebeu o ramo de bétulas, se levantou e seguiu a rainha até o lugar reservado na ponta da mesa.
De novo, os murmúrios aumentaram, assim que a rainha levantou acima da sua cabeça o outro ramo de freixos e, lentamente, seguiu em frente, ao longo da mesa, até parar junto do lugar onde estava Arn, esse Arn que todos conheciam por ouvir falar e que poucos tinham tido até então a honra de apertar a mão. Ecoou um grande aplauso de aprovação pelas paredes do salão, decorado, todo ele, com bandeirolas erikianas, com as três coroas douradas sobre o fundo azul.
Arn hesitou, sem saber ao certo como se comportar. Mas a rainha Blanka sibilou para ele pegar no ramo e a seguir antes que fosse tarde demais. Ele se levantou e a seguiu.
A rainha Blanka levou Arn até a sua amada Cecília, e os aplausos se tornaram tão grandes e barulhentos que nem os gritos do rei ou do conde poderiam ser ouvidos.
Assim que Arn, com um sorriso hesitante e o coração batendo forte como diante de uma luta no campo de batalha, se sentou ao lado de Cecília, os convidados começaram a bater com as suas mãos nas mesas, de modo que o barulho aumentou ainda mais e a oportunidade de qualquer intervenção por parte do rei ou do conde desapareceu com a velocidade de um vôo de pássaro, até que o barulho foi diminuindo lentamente e terminou, com os convidados passando a falar em voz baixa, na expectativa mais da chegada da comida do que da surpresa que acabavam de testemunhar.
O conde estava sentado com as mãos entrelaçadas e pareceu estar prestes a se levantar, mas o arcebispo se antecipou a ele, tendo erguido os braços a pedir silêncio. O silêncio se fez e ele pegou a sua estola branca, o sinal sagrado da sua alta dignidade, colocou-a sobre os ombros e o peito e foi andando até chegar onde estavam Cecília e Arn.
Parou, então, colocando a mão direita no ombro de Cecília e a esquerda no ombro de Arn.
— Testemunhem agora o milagre do amor e do Senhor! — gritou ele, bem alto, conseguindo, então, o silêncio total no salão. Afinal, o que estava acontecendo era algo de novo. — Esses amantes, na realidade, receberam as graças de Nossa Senhora, esses amantes foram feitos um para o outro. E isso foi Nossa Senhora que demonstrou mais claro do que água. Sua festa de noivado ocorreu há muitos anos. Por isso, o que está acontecendo agora é apenas uma confirmação. Mas, quando o casamento se realizar, prometo que ninguém menos do que o próprio arcebispo estará presente para os abençoar no portão da igreja. Amém!
O arcebispo avançou com toda a dignidade, lentamente e satisfeito, de volta para o seu lugar. Durante a caminhada, trocou um sorriso de compreensão com a rainha, evitando olhar para o rei ou para o conde. Retirou a estola, sentou e começou logo a falar com o bispo que estava a seu lado. Estava agindo como se tudo já fosse dado como decidido.
O que realmente estava. Uma abadessa, ela jamais poderia ser, desde que o arcebispo já havia abençoado a união instituída por Deus entre o homem e a mulher. Visto que aqueles que Deus uniu jamais o homem podia separar.
O conde estava branco de raiva, sob o seu manto com o leão folkeano, a única marca que podia ser vista no salão, além das três coroas sobre fundo azul.
De repente, levantou-se, zangado, derrubou o caneco de cerveja que já tinha sido colocado na sua frente e saiu a passos largos da sala.
O novo senhor, duro e exigente, chegou a Forsvik. Além disso, chegou logo no dia seguinte àquele em que viajou, de barco à vela, para o castelo do rei, em Nas. Ninguém esperava por ele tão cedo.
Ao chegar, pouco falou com Erling e Ellen. Nem disse nada do que tinha acontecido em Nas, nem a razão de ter vindo já no dia seguinte. Em contrapartida, passou logo a atuar como o novo senhor de Forsvik.
A bonita tranqüilidade dos dias de verão que aconteciam na Götaland Ocidental, quando havia apenas umas duas semanas para a colheita do feno, transformou-se imediatamente num duro trabalho de inverno. Se era preciso ir buscar tocos de pinho para lenha na floresta, isso era feito de preferência no inverno, quando era possível puxar a lenha nos trenós e a madeira estava seca, tinindo ao ser cortada. Mas logo depois de ter comido alguma coisa, após a sua inesperada volta, Arn mudou de roupagem, de senhor passou a escravo. Retirou a sua malha de aço e toda a roupa azul, colocando a roupa de couro dos escravos, apesar de continuar de espada à cintura como sinal. Todo o pessoal do burgo que fora dispensado da mudança das cargas entre os barcos no Vättern e as barcaças do rio ele chamou para trabalhar, assim como os cinco escudeiros e os garotos Sune e Sigfrid.
Havia muita coisa que espantava nisso. Acima de tudo, o fato de o senhor Arn trabalhar ele próprio com o machado e os carros de bois, mais do que qualquer outro homem. Mas também espantava quase tanto vê-lo comandar os cinco escudeiros em Forsvik e obrigá-los a trabalhar como escravos. Para não falar de Sune e Sigfrid, que não eram apenas muito jovens para tão duro trabalho como também deviam estar aprendendo a usar a espada e boas maneiras em vez de trabalhar como escravos.
No segundo dia, quando a surpresa diante desses hábitos estranhos diminuiu, sendo substituída por suor e mãos feridas, começaram um e outro a resmungar. O escudeiro Torben, que era o mais velho entre os seus parceiros em Forsvik, ousou dizer bem alto aquilo que todos pensavam, que era uma vergonha para os escudeiros ter que trabalhar como escravos.
Ao ouvir aquilo, Arn endireitou as costas, largando o machado, limpou o suor da testa com o indicador e ficou em silêncio por um longo momento.
— Muito bem — disse ele, por fim. — Quando o sol mudar menos de meia hora de posição, quero que todos os escudeiros estejam na praça, armados e a cavalo. E que nenhum de vocês chegue atrasado!
Eles largaram, surpresos, os seus utensílios e saíram resmungando em direção ao burgo, enquanto Arn terminou de cortar o tronco que tinha começado. Carregou uma carroça de bois com dois troncos bem pesados e dirigiu tudo depois para o burgo, tendo indicado para o pessoal de casa e para Sune e Sigfrid quais as árvores que eram para ser cortadas a seguir e delas retirados os galhos.
Sune e Sigfrid deviam ficar, portanto, entre aqueles que continuariam ocupados com o corte da lenha, mas sua curiosidade foi mais forte do que a vontade de obedecer ao senhor Arn. Esperaram que passasse quase meia hora e se esquivaram depois em direção ao burgo, subindo num dos palheiros de onde podiam observar embaixo através de uma janela de ventilação. Aquilo que eles conseguiram ver e ouvir jamais viriam a esquecer.
Os cinco escudeiros estavam a cavalo em formação de quatro, com Torben à frente como líder. Todos estavam soturnamente silenciosos, mas também demonstravam estar mais inquietos do que desejariam parecer uns para os outros. Ninguém disse nada.
O Senhor Arn saiu, então, da cavalariça com um dos seus cavalos, pequenos e estrangeiros. Deu duas voltas na praça em alta velocidade e observou severamente os escudeiros, antes de virar o animal e parar diante de Torben. Tinha envergado uma malha de aço, mas estava sem elmo. Em uma das mãos empunhava o escudo branco, com a cruz vermelha, o que levou os dois jovens escondidos a sentirem tremores de alegria por todo o corpo. Eles sabiam muito bem que essa era a marca dos templários.
Em vez de espada, Arn empunhou um galho bem forte de pinheiro com o qual fez um ensaio, batendo com ele na barriga da perna nua, enquanto continuava observando os escudeiros.
— Vocês acharam o trabalho na construção desonroso — disse Arn, finalmente. — Querem fazer o trabalho de escudeiros, que acham mais honroso. Vão ter o que querem. Aqueles de vocês que me derrubarem do cavalo ficarão livres. Aqueles de vocês que eu derrubar do cavalo voltam para o corte dos pinheiros.
Mais ele não disse, mas seu cavalo começou andando de lado, quase tão rápido como qualquer cavalo andando em frente. E quando se aproximava de um dos celeiros, mudava de movimento e se afastava na direção oposta, depois para trás em diagonal e, de repente, para a frente. Para Sune e Sigfrid parecia magia. Eles não conseguiam notar quais os movimentos que o senhor Arn realizava para fazer com que o cavalo dançasse daquele jeito. Dessa maneira, ninguém conseguia permanecer montado no cavalo e, no entanto, isso estava acontecendo bem diante dos seus olhos.
De repente, Arn atacou, dando dois saltos para a frente com tal velocidade que aquele escudeiro que estava mais próximo nem teve tempo para levantar o seu escudo e se defender, antes de receber uma pranchada lateral com o galho de Arn. Dobrou-se para a frente, pela dor. E logo Arn veio e lhe deu um único e simples empurrão, fazendo-o cair do cavalo. No momento seguinte, ele fez um recuo rápido para enfrentar Torben, que agora vinha de espada em punho por trás e acabou dando um golpe no espaço vazio.
Antes de Torben ter tempo para se virar já Arn estava chegando por trás e, com mais um empurrão simples, jogou-o de cima da sela. Depois, avançou numa aceleração rápida entre dois dos mais jovens escudeiros que levantaram os seus escudos para se defender.
Mas, em vez de continuar o movimento, o senhor Arn parou no caminho e desviou seu cavalo, de modo que os cavalos dos dois escudeiros sentiram medo e se levantaram nas patas traseiras e não voltaram ao equilíbrio antes de Arn ter dado uma volta neles e com o seu galho bater no elmo de um dos escudeiros, e em outro, no braço que empunhava a espada. Ambos gritaram de dor e se inclinaram para a frente na sela.
Em vez de se preocupar com os dois nos quais já tinha acertado, o senhor Arn forçou seu cavalo a dar dois pulos na direção do quinto escudeiro e levantou o galho para dar um tremendo golpe no adversário que, por sua vez, ergueu o escudo para aparar o golpe, apenas para chegar à conclusão de que o golpe vinha do outro lado. E Arn o empurrou da sela com tal força que ele acabou caindo para trás, de costas no chão.
Sune e Sigfrid nem pensavam mais em se esconder. De olhos espantados, se inclinavam tanto para a frente pela janela de respiração que quase caíam de cima do palheiro para o chão. Aquilo que aconteceu embaixo na praça foi tão rápido que eles quase não tiveram tempo para ver, realmente, o que aconteceu e discutiam em voz baixa, mas vivamente, entre si ou perguntando a si mesmos, tentando descobrir o que fora que acontecera. O senhor Arn tinha tratado os poderosos escudeiros de Forsvik como se fossem gatinhos. Isso, no entanto, qualquer um podia entender muito bem.
— Esse é o trabalho dos escudeiros em Forsvik — disse Arn, ainda montado no seu cavalo no meio da praça, enquanto os outros estavam por terra, sentados ou deitados ou inclinados, agarrados ao corpo, com dores, além de ter os braços doloridos. — Se quiserem continuar o trabalho como escudeiros voltem a pegar em armas, subam novamente nos cavalos e vamos começar a brincadeira de novo.
Ficou observando todos eles durante um momento, sem dizer mais nada. Nenhum deles fez menção de querer voltar a montar no cavalo. Arn, então, acenou com a cabeça como sinal de que se havia confirmado o que estava pensando.
— Muito bem. Então, voltamos todos para a floresta, para preparar troncos de árvores para a construção — disse ele. — Durante dois ou três dias, até o senhor Eskil e o meu amigo Harald voltarem, vamos trabalhar preparando os troncos de pinho. Aquele que fizer um bom trabalho aqui poderá escolher entre voltar para Arnäs como escudeiro ou ficar em Forsvik. Aquele que quiser ficar aqui, é claro que continuará a trabalhar como escudeiro, mas não vai ser fácil se debater como foi hoje.
E sem mais explicações, Arn deu meia-volta com o cavalo e partiu direto para as cavalariças. Sune e Sigfrid aproveitaram a oportunidade para desaparecer do seu posto de observação na fresta de respiração do palheiro e correram rapidamente para a floresta onde voltaram a trabalhar, sem serem descobertos. Afogueados, não paravam de falar no que acabaram de ver. Já tinham entendido, pelo menos, que o senhor Arn tinha aberto um pouco aquela porta que dava para o mundo dos cavaleiros templários. Era a visão de sonhos maravilhosos, coisa pela qual qualquer jovem folkeano daria vários anos da sua vida para poder fazer apenas metade daquilo que tinham visto um verdadeiro templário fazer.
Nenhum dos dois deu a entender ter visto fosse o que fosse, quando Arn e os cinco escudeiros, cheios de manchas roxas e absolutamente silenciosos, voltaram com uniforme de trabalho para o local. Sune e Sigfrid se esforçavam ao máximo para realizar bem o seu trabalho e se obrigaram a não perguntar nada a respeito do que havia acontecido lá na praça.
Quando os dois jovens folkeanos foram descansar tarde da noite nos seus beliches em uma das grandes caixas-dormitório na praça, eles, apesar dos corpos cansados e doloridos, tiveram dificuldade em adormecer. Repetidamente, passavam em revista para si próprios e de um para outro o que tinham visto naquela tarde. Um cavalo que se movimentava como se fosse um pássaro, tão rápida e inesperadamente como um pássaro, um cavalo que obedecia ao seu cavaleiro como se fosse através do pensamento e não com os joelhos, as rédeas e as esporas. E um cavaleiro que parecia ter crescido do próprio cavalo, um ser unificado, como se fosse uma figura lendária. E se o senhor Arn tivesse uma espada na mão em vez de um toco de árvore, ele teria matado os cinco escudeiros tão facilmente quanto uma lebre recém-apanhada. Era um pensamento terrível. Só de imaginar que eles queriam ser apenas uns simples escudeiros.
Enfim, era o pensamento maravilhoso de dois jovens sonhadores, imaginando como seria aprender com o senhor Arn a se tornarem cavaleiros. Esses sonhos não estavam ausentes quando Sune e Sigfrid, finalmente, não resistiram mais e deixaram que o cansaço vencesse a excitação do momento.
Durante três dias de trabalho duro, reuniu-se uma boa porção de troncos de pinho do lado de fora do castelo de Forsvik. O que seria construído com todas aquelas toras de madeira ninguém sabia e também ninguém ousava perguntar ao senhor Arn de poucas palavras, aquele que, apesar de senhor, tinha trabalhado mais do que qualquer outro.
No terceiro dia, entretanto, chegaram o senhor Eskil e o norueguês Harald, voltando de Näs, o castelo do rei. E, então, os cinco escudeiros de Forsvik puderam descansar do duro trabalho na floresta. Arn disse para eles que, se alguém quisesse assumir o serviço em Arnäs, só tinha que estar preparado para viajar durante esse mesmo dia. Aquele que quisesse ficar para servir em Forsvik, para trabalhar duro e aprender a arte da guerra, devia se pronunciar nesse sentido. Nenhum dos escudeiros mudou de expressão ao ouvir aquelas palavras. Nenhum deles quis ficar em Forsvik.
Houve muita pressa e muita correria naquele dia, visto que muitos estavam de mudança e prontos para viajar de barco para Arnäs e Kinnekulle. Erling e Ellen que, junto com os seus filhos e mais algumas pessoas entre os servos mais chegados, deviam deixar Forsvik em troca por um burgo muito melhor, tentaram pela última vez, seriamente, dissuadir seu filho Sigfrid e seu filho de criação Sune de ficarem e se separarem da sua mãe e de seu pai ainda em tão tenra idade. Erling se comoveu até as lágrimas ao ver como ambos ficaram trabalhando como se fossem escravos e ficou ainda mais espantado ao ver que essa ofensa ainda tornou ambos os jovens mais decididos na sua vontade de servirem ao senhor Arn. No entanto, ainda tinham mais um pouco de tempo para mudar de opinião, pois iriam seguir com seus irmãos e seus pais na viagem para Arnäs, onde havia muitos cavalos a trazer para Forsvik. Mas mesmo esse trabalho acelerava a imaginação dos dois jovens, já que eles tinham a percepção de que esses cavalos eram de uma linhagem muito especial.
Assim que foram dadas as boas-vindas, entretanto, o senhor Eskil e seu irmão, mais o norueguês se afastaram e se sentaram na praia, conversando. Ninguém se aproximou, visto que tinham demonstrado querer falar a sós, exceto no momento em que Eskil pediu mais cerveja.
Primeiro, Eskil reclamou meio de brincadeira que era insuportável beber cerveja na companhia de um irmão malcheiroso e vestido como se fosse um escravo. Arn respondeu, dizendo haver uma diferença entre o suor que vinha da indolência e dos excessos de comida e bebida e o suor que vinha do trabalho duro e abençoado pelo Senhor. E quanto aos trajes de escravo, poucos eram os escravos que podiam trabalhar usando à cintura uma espada de templário. Entretanto, havia muita coisa muito mais importante de que falar e quanto mais depressa melhor. Arn disse ainda que tinha se dedicado ao trabalho duro para manter afastados os pensamentos, já que havia muita coisa em que ele pensava e não sabia direito como entender.
Isso era totalmente verdade. Não era fácil entender que espécie de jogo tinha sido apresentado no castelo real de Näs. Tinha apenas ficado claro desde o início que a rainha Blanka havia mexido com os seus pauzinhos em tudo o que aconteceu.
Bem cedo, depois da reunião do conselho, ela havia mandado uma mensagem para Arn. Nessa mensagem, ela disse que estava tudo em jogo. E que, diante dessas palavras, restava apenas obedecer e ficar à disposição.
Ao nascer do sol, Arn se encontrou com ela na área de tiro entre as duas torres em Näs. Foi uma conversa curta, pois ela disse que não seria uma boa coisa verem a rainha sozinha no muro da fortaleza junto com um homem solteiro, mesmo que fosse muito pior se o lugar fosse mais escondido.
Aquilo que ela tinha a dizer disse-o rápido. Que Arn devia deixar Arnäs imediatamente e tomar o barco para Forsvik e esperar lá durante alguns dias até que a reunião do conselho terminasse. Do jeito que as coisas estavam, havia muitos inimigos e muitas más línguas em Näs e acima de tudo era necessário que ninguém sequer pensasse que Arn e Cecília teriam estado juntos em segredo e a sós. Esses rumores estragariam tudo.
No entanto, o casamento iria acontecer, garantiu a rainha. Assim que as três semanas impeditivas de banhos tivessem passado antes da festa de midsommar, a festa do sol e do calor na Escandinávia. Até lá Arn e Cecília não deviam se encontrar. A não ser na casa dos pais de Cecília, em Husaby, com muitas testemunhas. Foi o que ela disse nas suas explicações, acrescentando que esse era um casamento que muitos achavam que iria levar à guerra e à destruição e que, portanto, devia ser evitado por todos os meios possíveis e imagináveis.
Arn contou para Eskil e Harald que ficou atormentado com as palavras da rainha. A maneira séria como ela falou não dava para duvidar. Nem dava para duvidar da sua sensatez. No entanto, não foi fácil render-se e ir embora.
Arn tentou argumentar, dizendo ter sido elevado ao posto de marechal no conselho real e, portanto, era contra sua vontade deixar Näs. Em relação a isto, a rainha Blanka soltou uma gargalhada, explicando que não teria a menor importância, visto que o conde Birger Brosa, num momento de raiva, tinha jurado que não se sentaria no mesmo conselho em que estivesse Arn Magnusson, o quebrador de promessas.
A respeito dessa idéia de quebrador de promessas, Arn explicou a situação para a rainha. Contou que na reunião do conselho tinham chegado a um acordo, o de deixar o tempo correr antes de tomar uma decisão. E isto não foi o que aconteceu, quando, logo na festa daquela noite, Arn ficou sentado ao lado da sua noiva. Mas ele também asseverou para a rainha que não era homem para faltar à sua palavra e que não tinha culpa do que acontecera e nem sequer entendia como acontecera. A isso ela reagiu, dizendo que de momento não importava, que as decisões da assembléia ficariam claras para todos no momento próprio, mas que o tempo era escasso e que eles não podiam continuar ali sozinhos no muro, à vista de todos aqueles que saíam para urinar. Ela iria explicar tudo para Eskil. E isto foi o que ela disse por último, antes de partir em disparada e de acenar, evitando novas perguntas de Arn. No entanto, ele acreditou e obedeceu às palavras dela.
Eskil acenou, concordando seriamente. Também ele tinha acreditado nas palavras da rainha. E ela tinha voltado a conversar com ele, mais tarde, informando que seu irmão já havia partido de Näs, a seu insistente pedido, e estaria esperando em Forsvik, enquanto o conselho estivesse reunido. Até mesmo Eskil fez objeções, que a ausência de Arn na reunião era imprescindível, mas também recebeu explicações, que a idéia de investir Arn com as prerrogativas honrosas de marechal do reino surgiu no momento em que o conde jurou que isso só iria acontecer por cima do seu cadáver.
De resto, a reunião do conselho correu bem, e o arcebispo não demonstrou nenhuma surpresa diante do fato de não se ter falado jamais a respeito de uma nova abadessa para Riseberga, mas ficou muito mais satisfeito ao ouvir as palavras do rei, dizendo que doaria à Igreja terras e florestas no valor de seis marcos de ouro para a construção de um novo mosteiro em Julita, na província de Svealand.
Juntados todos esses conhecimentos, estava claro que a rainha tinha combinado alguma coisa com o arcebispo. Segundo Arn, isso explicava o fato de também os dois bispos que ele encontrou saberem, tanto quanto ele próprio e Cecília, coisas de que mais ninguém poderia saber. A rainha e ninguém mais tinha feito os convites para aquela festa de noivado. Mas Arn não sabia de nada. E também não poderia ter agido por trás das costas do rei, do conde e do seu irmão, pois tinha dado a sua palavra a Birger Brosa de repensar o assunto.
Eskil não duvidava de que Arn tivesse estado tão ignorante quanto ele a respeito do que acontecera.
O que era difícil de entender, em contrapartida, era a maneira como a rainha tinha podido realizar tudo isso que, notoriamente, ia contra seus próprios interesses. Isto porque, se Cecília Rosa, como Eskil a chamava, se casasse com Arn, morreria a idéia de ela se apresentar como testemunha contra o perjúrio da maldita madre Rikissa. E, portanto, ficou incerta a entronização do seu próprio filho Erik como herdeiro da coroa. Na posição de marido da rainha Blanka e de rei, podia-se considerar a atitude dela como traição.
Arn achava que essa era uma palavra forte demais para usar antes de saber o que as duas Cecílias, realmente, tinham pensado. Ele próprio nada pôde saber a respeito do assunto, durante o tempo que esteve junto da sua Cecília, sob as bétulas e freixos, no banquete. Muitos ouvidos estavam apurados à sua volta, muito barulho se fazia na sala e infinitamente muito havia do que falar. Ele sabia agora um bom bocado do que um yconomus fazia num convento, uma yconoma, corrigiu ela. E muito ficou sabendo também a respeito da amizade profunda que passou a existir entre as duas Cecílias a partir da época de muito sofrimento para elas, em Gudhem. Mas ele nada sabia a respeito das intrigas femininas armadas pelas duas.
Talvez fosse tudo muito simples e inocente, pensou Harald em voz alta, que há muito tempo não dizia nada. Tal como os homens sempre pensavam, em tudo havia intrigas e jogadas escusas, caso acontecesse alguma coisa de inesperado. Por isso, talvez fosse de acreditar ter havido traição por parte da rainha e uma relação secreta entre ela e o arcebispo. O arcebispo, sem dúvida, tinha desempenhado o seu papel na preparação do caminho para o casamento de Cecília. Mas e se tivesse havido apenas amizade? Tendo estado essas duas mulheres juntas durante tantos anos na sua juventude, até que ponto estariam bem próximas uma da outra? Não seria ele, Harald, capaz de fazer a mesma coisa por Arn? E não seria Arn capaz de fazer a mesma coisa por seu amigo? Quem não seria capaz de se deixar prejudicar ao saber que a felicidade do seu amigo estaria em jogo?
Eskil achou que essa era sem dúvida uma maneira inteligente de pensar, mas que esse tipo de inteligência só podia ser encontrado entre os homens. De duas mulheres não era de esperar tal coisa.
Mas aí Arn objetou, dizendo que inteligência não seria certamente a palavra certa, embora os outros dois, na sua companhia, devessem saber melhor do que ele qual a tal palavra nórdica certa. Isto porque no que dizia respeito à inteligência das duas Cecílias nada havia que reclamar. Em menos de um dia, elas tinham enganado todos os homens, o rei, o conde, Eskil e o próprio Arn. A questão, portanto, era outra. Seriam as mulheres capazes de manter-se ligadas por amizade eterna como os homens e agir sem egoísmo e apenas por uma questão de amizade?
Harald Dysteinsson achava que esse poderia ser o caso, em especial ao pensar como as duas Cecílias agüentaram juntas tanto sofrimento durante tantos anos. Os outros dois estavam menos seguros a respeito dessa questão. Mas, mais cedo ou mais tarde, seria possível saber a verdade. Por enquanto, não seria preciso gastar mais palavras com o assunto.
Isso porque existia uma outra questão mais importante que preocupava Eskil. Ele era responsável pela organização do casamento em Arnäs, pois o casamento seria em Arnäs e não em qualquer outro lugar.
Se organizasse esse casamento, teria Birger Brosa como inimigo. Se não organizasse, teria seu próprio irmão como inimigo. Não era uma escolha agradável.
Houve um momento de silêncio, logo depois de Eskil ter lançado a sua cartada angustiante, de maneira curta e grossa.
— Como entendo a sua angústia, pode ficar sabendo que jamais serei seu inimigo, qualquer que seja a sua decisão — disse Arn, finalmente. — A viagem dos noivos será longa e perigosa, certamente, feita de Husaby, o burgo de Cecília, para Forsvik, em vez de apenas para Arnàs. Mas tudo poderá ser arranjado desse jeito.
— Não! — reagiu Eskil, de súbito. — Você jamais vai escolher Ylva em vez de Cecília como é o desejo de nosso tio. Nada poderá deter você e Cecília Rosa. Portanto, já nem me importo mais com as razões de por que é assim. Sei apenas que é assim. Por isso, aquilo que vai acontecer não acontecerá na sombra e na vergonha. Vai acontecer em Arnäs, com flautas e tambores, além de convidados até o terceiro escalão!
Depois de passar por esta dificuldade na conversa, todo o resto ficou muito mais simples e em breve estavam falando rápido e fácil sobre o que devia ser feito nos tempos mais próximos. Harald tinha recebido carta com os sigilos, tanto de Birger Brosa quanto do rei Knut para viajar e visitar o rei Sverre, da Noruega. O navio em Lõdõse devia ser equipado e receber nova tripulação, já que em breve Harald iria começar a sua primeira viagem para trazer o tal peixe seco, o bacalhau. Talvez conseguisse fazer duas viagens para Lofoten ainda no verão, antes de as tempestades de outono chegarem, com ventos do norte que dificultavam as viagens à vela. Mas mesmo duas viagens apenas dariam um bom lucro e Harald não ficaria sem o seu quinhão.
Melhor ainda que Harald estivesse precisando de tripulação, segundo Arn. Em Arnäs, encontravam-se cinco escudeiros noruegueses que, com certeza absoluta, poderiam e quereriam viajar no barco de Harald, em especial sabendo que Harald estaria viajando com salvo-conduto real. E em Forsvik, havia cinco escudeiros que tinham perdido a vontade de continuar trabalhando a serviço de Arn. Já no dia seguinte, eles poderiam substituir os cinco noruegueses em Arnäs.
Além disso, Arn iria precisar de alguns escravos bons de construção de Arnäs e ele tentou lembrar-se dos nomes de dois que estavam entre os melhores quando ele ainda era uma criança. Eskil pensou bastante e chegou à conclusão de que um deles já tinha morrido e o outro que ainda vivia e se chamava Gur já era velho demais, mas continuava vivendo em Arnäs com direito a comida e dormida, mesmo não podendo mais trabalhar. Seu filho, chamado Gure, era, no entanto, tão talentoso quanto o seu pai fora na construção de muros e de casas de madeira. Havia, entretanto, alguns outros escravos bons de construção em Arnäs, embora Eskil não se lembrasse mais de seus nomes.
Metade dos estrangeiros em Arnäs iria também para Forsvik, continuou Arn. Apenas uma parte deles servia para trabalhar com pedra. Os outros eram especializados em áreas que melhor serviam em Forsvik.
Ao resolver todas essas coisas, Eskil tinha que apresentar uma questão mais difícil para Arn. Tratava-se do seu único filho, Torgils.
Na realidade, Eskil gostaria que Torgils fosse como ele, um homem para lidar com o comércio e com a prata, rico e inteligente. Ele tinha se preocupado demais e por tempo demais, mas reconhecia que não dava para mudar Torgils. Desde os dezessete anos que ele se inscreveu como escudeiro do rei e sua vontade se inclinava muito mais para o arco e flecha e a espada do que ser como seu pai. Torgils queria ser como o seu tio. Nada podia mudar essa situação.
A tristeza do pai derivava do fato de saber que um jovem, escolhendo a carreira que Torgils escolhera, mais rápido estaria em condições de encontrar a morte do que aquele que escolhesse o comércio e as contas. Durante muitas noites de angústia, Eskil via como o seu o amado filho era esmagado debaixo de cavalos e mutilado por espadas e flechas. Mas os jovens tinham dificuldades para entender tais preocupações paternas.
— Mas, então, o que é que, na realidade, você quer me dizer com isso? — perguntou Arn.
— A minha questão é simples de dizer, mas difícil de apresentar — disse Eskil. — O meu filho Torgils ainda não sabe que você voltou para o nosso reino. Mas sabe de cor todas as canções a seu respeito e existem momentos em que acho que ele ama mais essas lendas do que ele ama o seu próprio pai.
— Isso, certamente, não deve ser verdade — disse Arn. — Mas os jovens gostam mais de sonhar com espadas do que com contas. E seus sonhos a gente não pode evitar. E não deve nem tentar. É preferível transformar os sonhos deles em algo de útil. Mas voltemos à Sua questão.
— Torgils está com o filho mais velho do rei, Erik, e teu filho, Magnus, em Bjälbo, neste momento — disse Eskil, em voz baixa. —
Estariam disputando um torneio de arco e flecha. Por isso, nenhum deles estava em Näs...
— Já sei disso — interrompeu Arn, impaciente. — Alguma coisa acabamos falando, eu e Cecília, em Näs... Mas qual é a sua pergunta?
— Será possível você ensinar tudo a Torgils? — perguntou Eskil, rápido. —A minha idéia é a de que se ele tiver que viver à custa da sua espada, é bom que tenha o melhor dos professores e...
— É claro! — interrompeu Arn. — E pelo visto nem sequer você pressentiu o quanto estive perto de fazer essa pergunta primeiro, embora receasse que uma questão assim não lhe daria muitas alegrias. Mande Torgils para mim e farei dele alguém que nunca na vida ele iria ser, se ficasse como escudeiro do rei. O jovem Sigfrid Erlingsson e Sune Folkesson já estão ao meu serviço!
Eskil abaixou a cabeça, aliviado. Olhou de esguelha para o seu caneco de cerveja há muito vazio, mas dominou seus desejos, lem-brando-se, de repente, de fazer mais uma pergunta.
— Você pensa em organizar uma força de cavalaria folkeana? — indagou, animado.
— Isso mesmo. É o que penso fazer — confessou Arn, olhando para Harald. — E agora vou dizer uma coisa que não poderá chegar aos ouvidos de mais ninguém, embora Harald, sendo meu amigo mais próximo, não esteja incluído entre os outros. Aqui, em Forsvik, vou organizar uma cavalaria capaz de enfrentar a dos francos ou dos sarracenos, desde que eu consiga reunir homens ainda suficientemente jovens para poder aprender. Mas devem ser também e apenas folkeanos, visto que não quero que esse poder saia das mãos da nossa família. E em relação a Torgils, é essa questão especialmente importante. Afinal, ele irá ser o senhor em Arnäs. É ele que um dia estará lá em cima, nos muros do castelo, olhando para baixo, para o exército sverkeriano. E nesse dia ele saberá tudo o que um vencedor precisa saber. Mas quero apenas folkeanos, lembre-se disso, Eskil!
— Mas... E os erikianos? — objetou Eskil, hesitante. — Os eri-kianos são nossos irmãos, certo?
— Neste momento, eles são. E eu próprio jurei fidelidade ao rei
— disse Arn, tranqüilamente. — Mas do futuro ninguém sabe. Talvez os erikianos e os sverkerianos se unam um dia contra nós, por razões que a gente, hoje, nem sequer pode imaginar. Mas uma coisa é certa.. Se a gente reconstruir Arnäs, de forma a fortalecer o castelo, e se Deus e o nosso trabalho nos presentearem com uma cavalaria folkeana, ninguém poderá nos resistir. E se ninguém nos puder resistir, poderemos evitar a guerra ou, pelo menos, encurtar a guerra e todo o poder será nosso. Harald, meu amigo, ouviu agora aquilo que é para ser dito apenas aos ouvidos dos parentes mais próximos. Mas pergunte a ele e ele irá atestar que estou com a razão!
— É verdade aquilo que Arn está dizendo — reagiu Harald, ao olhar sério de Eskil. — Arn foi quem me ensinou a lutar, embora talvez eu já fosse velho demais quando entrei para o seu serviço. Arn ensinou um esquadrão atrás do outro, ou seja, grupos de cavaleiros, a atacar enfrentando as forças inimigas, avançando, e a atacar, recuando. Assim como ele e muitos outros ensinavam e preparavam arqueiros, sapadores, infantaria e a cavalaria ligeira, assim como a cavalaria pesada, para não falar dos produtores de equipamentos e de espadas. Se uma única família na Escandinávia incorporar toda a sabedoria dos templários, quer sejam os birkebeienses ou folkeanos, erikianos ou sverkerianos, essa família terá nas mãos todo o poder. Pode acreditar em mim, Eskil. Eu já vi tudo isso acontecer com os meus próprios olhos. Tudo o que estou dizendo é verdade. Sou norueguês, filho de rei, e dou a minha palavra!
A rainha Cecília Blanka não deixou o seu marido e rei em paz, durante um momento sequer, até conseguir o que queria. Ele suspirou. Aquela paz que costumava envolver Nas depois de três dias de reunião do conselho, dessa vez, foi uma paz muito frágil. A cada objeção que ele fazia, a rainha raramente tinha menos de duas razões para justificar o contrário. Ele achava que era uma honra grande demais para uma senhora ainda solteira como Cecília Rosa viajar com mais de doze escudeiros reais como segurança. Desse jeito viajava um conde-ministro, não uma mulher solteira.
Mas a rainha respondeu dizendo que nada podia evitar que ela mandasse os seus próprios escudeiros, visto que Cecília Rosa era a sua amiga mais querida na vida e todos sabiam disso. Quem poderia reclamar ou ficar com inveja só porque a rainha queria honrar a sua amiga mais querida?
O rei Knut insistiu dizendo que era um exagero mandar tantos homens armados com uma única mulher. Era como se houvesse o receio de uma emboscada.
A rainha respondeu, então, que nenhuma força poderia ser considerada grande demais, caso se quisesse ter a certeza de poder evitar um ataque. Nada poderia ser pior para o reino nesse momento do que acontecer alguma coisa de ruim a Cecília Rosa durante a viagem perigosa que ela precisava realizar. O rei Knut lastimou-se, suspirou e disse que Cecília Rosa não poderia piorar a situação com a sua morte mais do que piorara com o seu casamento, em vez de ir para o convento de Riseberga.
Essas palavras ele logo lamentou ter dito, quando a rainha, sem a mínima suavidade caseira na voz, lhe disse como o reino seria atingido caso Cecília Rosa fosse ferida ou morta. Isso logo iria dividir os folkeanos, com Eskil e Arn Magnusson de um lado e Birger Brosa e seu ramo de folkeanos de Bjälbo, do outro. E como ficaria Magnus Mâneskõld que era filho de criação de Birger Brosa e filho mesmo de Arn, nessa situação, nessa luta? E se o apoio da família folkeana à coroa começasse a vacilar, o que aconteceria ao poder no reino?
Com palavras suaves e bem pensadas em vez da voz grossa que muitos homens teriam escolhido diante dos argumentos propostos por sua esposa, o rei Knut admitiu sem restrições que só a idéia de uma separação entre os folkeanos seria como um pesadelo durante a noite. Significaria que ele próprio e a sua família erikiana iam ficar no meio de uma luta em que não apenas tornaria incerta a herança de Erik à coroa, como, ainda pior, tornaria insegura a coroa na sua própria cabeça. Até aí ele admitiu, tal como costumava acontecer quando os dois estavam sozinhos, que ela tinha muito mais razão do que ele. Mas a separação já existia, visto que Birger Brosa voltara furioso para Bjälbo, vociferando contra Arn e Eskil.
A rainha Blanka achava que o tempo iria sarar essa ferida. O mais importante era garantir que Cecília Rosa chegasse sã e salva ao casamento com Arn Magnusson. Assim que a vontade de Deus estivesse clara e assente e que nada mais pudesse mudar, toda a poeira voltaria a assentar também. Mas se isso não acontecesse e, pior ainda, se acontecesse alguma coisa de ruim a Cecília Rosa antes da sua noite de núpcias, eles teriam pela frente um inimigo terrível na pessoa de Arn Magnusson.
Não foi difícil para o rei Knut concordar que pior do que estava não poderia ficar. Num mundo em que tanta coisa era decidida pela espada, nada melhor do que ter Arn Magnusson do seu lado. Por outro lado, pior era saber também que Birger Brosa, no seu inesperado ataque de raiva, jurara preferir abandonar o poder de conde-ministro do que dar as boas-vindas a Arn como marechal do reino. Por muito que se quisesse virar e revirar a questão, tudo continuava na mesma, como uma terrível dor de dentes.
A cura mais certa para essa dor era retirar o dente atingido. E quanto mais depressa, melhor. Esta foi a reação da rainha, como se nada mais precisasse ser dito.
Para Cecília Rosa, as semanas seguintes foram como se lhe tivessem retirado a liberdade e até a vontade própria. Era como se ela fosse uma rolha seca flutuando na corrente, sem que pudesse decidir por si própria nem o mínimo dos detalhes. Nem mesmo uma coisa tão simples quanto a de decidir, como tantas vezes tinha feito antes, viajar entre Näs e o convento de Riseberga.
Como ela teria de seguir com um séquito de doze escudeiros, a viagem já iria demorar mais dois dias. Se pudesse decidir sozinha, ela viajaria de barco para o norte no Vättern, até Âmmeberg e dali continuaria com um barco menor por Ámmelângen e pelas duas lagoas seguintes até chegar ao lago õstansjõ. Dali para a frente, bastava um dia de cavalo até Riseberga.
Mas com doze escudeiros e seus cavalos e toda a bagagem, não daria para fazer a viagem de barco, antes seria necessário começar a viajar montados a cavalo já a partir de ämmeberg.
Habitualmente, ela viajava na companhia de um ou dois homens sobre os quais tinha o comando. No momento, a situação era outra. Os escudeiros do castelo real iriam dizer a ela o que fazer. Iriam tratá-la como se fosse uma coisa, a distância, embora ela estivesse em pé ou a cavalo ali mesmo ao lado. Tratavam-na como a "mulher", discutiam entre si a respeito do que seria melhor para a segurança da mulher, o quanto a mulher poderia agüentar e onde a mulher devia procurar dormir durante a noite. A viagem demorava mais ainda porque o líder dos escudeiros mandava alguns dos seus homens se adiantarem para espiar a floresta, antes de todos seguirem em frente ou para atravessarem um vau antes de todos fazerem o mesmo. Com tudo isso, levaria mais de quatro dias para chegar a Riseberga.
A princípio, ela tentou fechar os ouvidos e voltar-se para dentro de si e de seus sonhos a respeito de tudo o quanto de maravilhoso lhe aconteceu, agradecendo a Nossa Senhora a toda hora. No segundo dia, ela não podia mais disfarçar a inquietação por não ser informada do que ia acontecer e ser tratada como se fosse a última prata da casa e não como pessoa. Resolveu, então, avançar o cavalo e ficar ao lado do escudeiro Adalvard, que era da família erikiana e líder da viagem.
Ela contou que tinha feito essa viagem muitas vezes e que apenas numa única vez se deparou com salteadores e que esses a deixaram passar sem problemas quando ela explicou que pertencia ao convento e que o que carregava eram manuscritos e prata religiosa. Os salteadores eram jovens, tinham poucas armas e não a amedrontaram nem um pouco. Como poderia um esquadrão de cavalaria real, com o escudo das três coroas na frente, uma visão que devia congelar o sangue da maioria dos salteadores, precisar se resguardar tanto e demonstrar tanto medo diante de cada curva no caminho?
Adalvard respondeu-lhe, curto e grosso, que aquilo que era seguro ou não, nessa viagem, era ele que decidia, conforme seu próprio entendimento e sua própria experiência. Uma mulher do convento, certamente, sabia muitas coisas que ele desconhecia. Mas a questão agora era a de atravessar com vida as florestas de Tiveden. E isso era a sua área.
Cecília Rosa não ficou satisfeita com esta resposta e tentou persuadi-lo, mudando a pergunta, várias vezes, sem conseguir outra resposta, a não ser aquela que já tinha recebido, eventualmente com a mudança de uma ou outra palavra. Era importante ter ordem em termos de segurança, sendo preciso manter essa ordem a todo custo. Mais longe ela não andou no seu raciocínio nesse segundo dia, visto que o séquito tinha acabado de chegar a uma fazenda que parecia ser suficientemente grande para abrigar os doze escudeiros, seus cavalos e uma mulher.
O povo da fazenda teve de sair da sua própria casa-grande, todas — as armas foram reunidas em uma casinha e uma das salas adjacentes passou por uma rigorosa limpeza, a fim de acolher Cecília Rosa e ela ficar à vontade. Depois, chegaram algumas escravas da casa, acompanhadas de escudeiros, trazendo a ceia e cerveja para ela. E, durante a noite, dois escudeiros ficaram de sentinela do lado de fora da sua porta.
Dois homens armados não constituíam nenhuma alegria e satisfação, já que ninguém pensou em deixar um urinol para ela. E quando ela ia sair, a fim de corrigir a falta cuja solução não mais podia ser providenciada, os dois guardas ficaram tão amedrontados diante da idéia de deixá-la longe da vista que, primeiro, disseram, sem a menor vergonha, ter que segui-la até na hora de realizar aquela atividade feminina, bem pessoal, que nenhum homem de honra deveria perturbar. Como tinha esperado demais antes de se decidir a sair, ela estava em tal estado de necessidade que achou não ter tempo nem para considerar mais a questão, antes pediu para que a seguissem um pouco mais adiante e virassem as costas no momento do ato em si.
Na manhã seguinte, quando tinha cavalgado um pedaço do caminho, ela avançou e emparelhou com Adalvard, reclamando que era pouco honroso ser tratada como uma prisioneira, pronta para ser levada para o cadafalso e enforcada. Essas palavras bateram mais forte nele do que a conversa anterior sobre segurança. Ele pediu desculpas, dizendo que todos respondiam por ela com a sua própria vida.
Primeiro, ela achou difícil acreditar que ele falava sério. Achava que era mais uma conversa de macho, disposto a contar vantagem e a exagerar. Ela examinou o rosto dele, disfarçadamente. Tinha sulcos de tempo e de vento, cicatrizes de espadas ou flechas, e naquele rosto havia apenas seriedade, mas nem um traço de vaidade ou de jactância.
Seria verdade, reatou ela a questão, depois de um momento de silêncio, que todos respondessem por ela como se ela valesse todo o seu peso em prata?
— Pior do que isso, minha senhora — reagiu ele, asperamente. — Uma desgraça seria perder toda essa carga de prata e pouco mais eu teria a esperar ao serviço do rei. Mas perder a senhora seria perder a nossa vida. Foi isso que o rei disse. E nada mais precisa ser dito.
Então, abateu-se um grande calafrio sobre ela no meio do mais agradável dos dias de verão. Um reflexo de luz piscando na lagoa que eles tinham acabado de passar tornou-se uma ameaça em potencial, o barulho das folhas quebradiças das faias na coroa das árvores avisava dos malefícios secretos da floresta, assim como os ramos se transformavam em seres mágicos que a toda hora pareciam erguer seus braços e se voltar para ela. Os homens de expressões implacáveis e atentas que cavalgavam à volta dela nada viam do bonito dia de verão, nem percebiam o belo canto dos pássaros. Ouviam apenas a sua sentença de morte e viam apenas o machado do carrasco.
Demorou até que ela voltasse a falar de novo com o escudeiro Adalvard. Primeiro, ela tentou repensar tudo o que estava acontecendo e que não podia controlar. Estava a caminho do casamento com Arn e isso acontecia porque Nossa Senhora havia ouvido suas orações e Se deixou seduzir. E Ela poupara a vida de Arn para um caminho diferente do martírio da morte, direto para o Paraíso.
Era a pura verdade. Nenhum bom senso poderia alterar essa situação com uma única pergunta ou objeção.
Afinal, que espécie de segurança ela precisaria na sua simples viagem para Riseberga, além da proteção das mãos suaves de Nossa Senhora?
Cecília Rosa entendeu muito bem que uma lógica religiosa desse nível pouco poderia impressionar um homem como Adalvard. Ele agia sob o comando do rei e para ele, primeiro, havia a vontade das pessoas e depois, eventualmente, havia a vontade de Deus. Ou, também, suavizou ela, talvez ele visse que era dever das pessoas fazer todo o possível para satisfazer a vontade de Deus.
Em tudo o que lhe acontecia naquele momento, ela viu a ação das pessoas querendo satisfazer a vontade de Nossa Senhora, até o ponto em que era possível conhecer essa vontade. Por isso, ela estava flutuando, descendo pela corrente da vida, como uma folha de árvore sem vontade própria, tudo porque muitas pessoas com poderes sobre as terras e as florestas, a prata e a espada, a Igreja e o convento, faziam força no mesmo sentido. Como seria bom o mundo em que todos viveriam se passassem a fazer força no mesmo sentido!
Assim, ainda se tornava mais difícil entender que o que estava acontecendo era feito a favor dela e de Arn, dois pobres pecadores, de forma alguma superiores aos outros.
Não, havia uma coisa que não estava certa. Não fazia parte da bondade das pessoas e da sua vontade permanente de seguir os ditames do Senhor, que ela seguisse rodeada de doze guerreiros que não a deixavam se afastar mais do que o comprimento de um braço. Devia existir um perigo que ela desconhecia, mas que os homens à sua volta, temendo por sua própria vida, deviam entender muito melhor.
Mais uma vez, ela saiu da fila e avançou até ficar ao lado de Adalvard, sem disfarçar todos os inconvenientes que estava causando, visto que os escudeiros deviam manter uma formatura que a conservasse no centro, com homens à frente, atrás e dos lados. Mas queria saber e havia pensado em uma nova maneira de conseguir que Adalvard dissesse alguma coisa mais substancial a respeito dos segredos que ela nem sequer conseguia imaginar.
— Pensei muito, Adalvard, sobre aquilo que você me disse de que todos respondem por mim com suas próprias vidas — começou ela. — Evidentemente, eu devia me mostrar muito mais agradecida e, menos rude, pelo que peço desculpa.
— A minha senhora não tem nada de que se desculpar. Juramos obedecer às ordens do rei à custa até de nossas vidas e até agora não vivemos nada mal — respondeu Adalvard.
— Para mim, tratava-se de uma viagem normal até que você falou a respeito da seriedade da sua missão e, por isso, devo dizer sinceramente que me sinto muito honrada, tendo esses lutadores formidáveis ao meu lado no momento do perigo — continuou Cecília, de maneira inocente.
— Somos escudeiros do rei — reagiu Adalvard. — Alguns pertencem à guarda da rainha, mas nem por isso são piores — acrescentou ele, com um pequeno sorriso, o primeiro que ele mostrou durante toda a viagem.
— Você deve ter notado que estou cavalgando com estribos de ambos os lados — continuou Cecília. — Você não se perguntou por quê?
— Sim, estranhei um pouco — disse Adalvard. — Mas nem por isso achei que devia perguntar a razão de a senhora fazer o que faz, visto que continua se mostrando muito senhoril em cima da sela. E nem achei que devia ficar olhando para seu corpo quando sobe e desce da sua montaria.
— É que faço muitas viagens a cavalo, tratando de assuntos de Riseberga. Talvez cavalgue tanto quanto qualquer escudeiro — continuou Cecília, como se a conversa versasse apenas sobre assuntos inocentes. — Por isso, costurei um vestido para mulher, nós costuramos muito no convento, como você talvez saiba, um vestido que, na realidade, é constituído de duas partes, cada uma vestindo uma das pernas. E, depois, ainda tenho uma saia. Ou seja, continuo parecendo mulher, mas cavalgo como um homem. Por isso, é preciso que você saiba uma coisa. Se o perigo chegar, esse perigo de que você falou, poderei fugir mais rápido do que a maioria dos meus defensores com os seus cavalos pesados. Se quiserem me defender de qualquer ataque, não precisamos ficar no lugar, antes poderemos fugir rápido, sem problemas.
Finalmente, Cecília disse uma coisa que levou Adalvard a considerá-la como pessoa com idéias próprias e não como um monte de prata. Depois de um aceno respeitoso de desculpas, afastou-se e ficou conversando energicamente com alguns dos seus homens, enquanto fazia gestos abrangentes. E ao terminar, os homens com quem falou, retiraram-se e foram espalhar as boas novas.
De novo ao lado de Cecília, mostrou-se satisfeito e mais conversador do que no resto anterior da viagem. Foi então que Cecília considerou que o campo estava aberto para a pergunta que ela queria fazer.
— Me diga, Adalvard, meu fiel defensor, você que é um homem que vive em Näs, no castelo do rei, e sabe muito mais do que uma simples mulher do convento, por que razão, eu, uma pobre mulher da fraca família paliana, poderá ser vítima de um ataque?
— Pobre! — riu Adalvard, olhando para ela, com um olhar investigador, para verificar se ela estava fingindo ou de brincadeira. — Bem, pode ser que seja, agora — grunhiu ele. — Mas em breve a senhora vai se casar e como esposa de um folkeano terá direito a um terço da fortuna dele. A senhora será rica. Aquele que conseguisse raptá-la ficaria rico também com o resgate. Isso já aconteceu, ainda que eu não conheça ninguém que tenha sobrevivido depois de cometer um ato malvado desses. Mas que aconteceu, aconteceu.
— Muito bem. Na realidade, é bom se sentir protegida, tendo esses guerreiros a meu lado — respondeu Cecília, ainda que apenas meio satisfeita com o que acabara de saber. — Mas essa, com certeza, não deve ser a única razão, certo? Para se defender de pobres salteadores e ladrões, mal armados, não seria necessária uma força do tamanho desta que trouxemos. Bastaria eles verem o nosso escudo com as três coroas, certo?
— Sim, é verdade, minha senhora — respondeu Adalvard. E excitado pela conversa, acabou continuando a falar aquilo que Cecília esperava ouvir. — Eu sou da família do rei Knut e de seu pai, o abençoado
Santo Erik. Mas os irmãos mais velhos do que eu receberam as propriedades por morte de meu pai e, por isso, me tornei escudeiro. Eu não reclamo. Se a gente pertence à família erikiana, já sabe de que lado está no reino quando se trata da luta pelo poder. A sua vida, minha senhora, faz parte da luta pelo poder. Assim como a sua morte.
— Não consigo compreender muito do mundo dos homens — reagiu Cecília, humildemente. — Mas então maior é a minha satisfação por saber estar cavalgando junto de um erikiano que pode me explicar aquilo que as mulheres do convento têm dificuldades em entender. O que tem a minha vida ou a minha morte a ver com a luta pelo poder? Eu lhe peço, Adalvard, me explique realmente.
— Bom, não lhe vou dizer algo que a senhora não virá a saber mais tarde — respondeu Adalvard, satisfeito por ser aquele que dominava a verdade da vida. — A senhora deveria ter se tornado abadessa e, então, eu não estaria agora aqui falando consigo tão irreverentemente. Mas como abadessa a senhora teria jurado seus votos e o filho mais velho do rei Knut teria podido herdar a coroa. Até aí a senhora já deve saber tudo, certo?
— Sim, tudo isso eu já sei. Mas como isso não vai acontecer, por que razão algum dos sverkerianos iria continuar a querer me fazer mal?
— Se alguém nos matar, a senhora, a mim e os meus homens, cada cabeça neste reino irá pensar que foram os sverkerianos que cometeram esse ato ignóbil, mesmo que não fosse assim — respondeu Adalvard, de repente, sem querer. A conversa tinha entrado, então, num caminho em que, notoriamente, ele lamentava ter seguido.
— Não teria sido mais inteligente matar Arn Magnusson? — perguntou Cecília, sem o menor tremor na voz.
— Sim, sem dúvida. Todos sabem que nós, os erikianos, iríamos ganhar com esse assassinato, visto que, assim, não haveria casamento. E a senhora se tornaria abadessa mais depressa ainda, já que a tristeza e a solidão iriam empurrá-la para o convento. Mas juro que não pensamos nisso. Seria quebrar todos os laços entre os erikianos e os folkeanos, selados por tantas juras. Se os erikianos e os folkeanos entrarem em conflito, ambas as famílias vão perder todo o poder para os sverkerianos.
— Quer dizer, os sverkerianos poderão querer matar Arn Magnusson, desde que possam culpar os erikianos pela sua morte — completou Cecília o pensamento, sem ainda qualquer tremor na voz, embora fosse como se um raio tivesse atravessado o seu coração no momento em que pronunciou aquelas palavras.
— Minha nossa... — sorriu Adalvard. — Se os sverkerianos pudessem matar Arn Magnusson e deitar a culpa em nós, erikianos, ganhariam com isso, sem dúvida. Mas quem é que eles iriam mandar para Arnäs ou Forsvik para executar um trabalho tão ignóbil? Oden, aquele deus mitológico que sabia se tornar invisível? Ou Tor, aquele outro deus cujo martelo fazia tremer o mundo inteiro? Não, minha senhora, ninguém conseguirá se aproximar de Arn Magnusson, clandestinamente, pode estar certa disso.
O escudeiro Adalvard soltou uma longa gargalhada diante da sua proposta de mandar Oden e Tor fazer o serviço. Por muito ímpia que essa brincadeira parecesse para Cecília, ela, ainda assim, conseguiu encontrar nela alguma consolação.
Uma única vez, no caminho para o convento de Riseberga, aconteceu uma coisa perturbadora. Depois do lago õstansjõ, já depois de terem passado pelas grandes florestas e de terem chegado a campo aberto com algumas esparsas fazendas, eles se depararam com um rebanho bastante grande de carneiros, descendo em correria por um morro e atrás do rebanho apareceram quatro pastores de vestes largas, marrons, que, com as suas varas, tentavam reagrupar os amedrontados animais.
O escudeiro Adalvard, imediatamente, mandou quatro cavaleiros na direção dos pastores, de espadas desembainhadas, cavalgando rápido. E os pastores logo se jogaram no chão, o rosto na terra, as mãos e os pés esticados, embora um ou outro ainda levantasse os olhos, vendo de esguelha o rebanho se afastando.
Ao mesmo tempo que os quatro escudeiros corriam para os pastores, os outros oito se fechavam em torno de Cecília, com Adalvard um pouco à frente, todos de espadas desembainhadas e na mão.
Os pastores eram mesmo pastores e nada mais do que pastores. Mais tarde, Adalvard explicou para Cecília que uma pessoa nunca sabe ao certo, que às vezes a pretensão é que leva à morte, quando uma pessoa acha que sabe de tudo quanto vê, no momento em que vê. Uma boa coisa foi que ninguém saiu machucado. E os animais acabaram sendo reunidos com um pouco mais de trabalho. E foi assim que tudo terminou.
Finalmente, chegaram a Riseberga e logo Cecília se dirigiu à sua sala, onde ficou bastante tempo com a mão num dos ábacos, entre odores de pergaminho e tinta. Uma sala cheia de pergaminhos escritos exalava um cheiro especial que não dava para enganar e ela sabia que a qualquer altura na vida esse cheiro voltaria à sua memória.
Aquilo que ela tinha dificuldade em entender era que, realmente, tinha chegado a hora da despedida. Durante tanto tempo, vivendo entre esses escritos e essas contas, muitas vezes achava que nunca mais faria outra coisa pelo resto da vida. Nada mais faria no mundo real, já que o mundo dos sonhos, esse, pertencia a Arn Magnusson.
A despedida foi difícil e não sem lágrimas. As duas jovens sverkerianas que pediram asilo em Riseberga e foram acolhidas, se bem que, mais tarde, Birger Brosa não tenha gostado nada dessa decisão, choraram mais do que as outras. Foram elas que mais se aproximaram de Cecília, que as ensinou a costurar, a produzir legumes e flores na horta e a fazer a contabilidade. Agora, no entanto, as duas ficariam sozinhas, sem a proteção da yconoma e sem esperança de que Cecília voltaria como abadessa.
Cecília tentou consolá-las o mais possível e garantiu que em qualquer momento podiam mandar uma mensagem para ela. Melhor, ela tentaria ficar atenta a tudo o que se passasse em Riseberga. Melhor ainda, ela voltaria de vez em quando para saber ao certo tudo o que estivesse acontecendo.
Essas palavras não serviram de muito consolo. Pelo menos, não tanto quanto ela pretendia. Ambas as jovens achavam impossível acreditar que Cecília pudesse ter alguma influência, com seu poder secular, sobre a vida em Riseberga. Por isso, e só por isso, Cecília teve de ficar mais um dia além do que esperava.
Ela ficou com as duas, que se chamavam Helena e Rikissa, para uma longa conversa na sala das contas. Enquanto repassavam tudo o que era preciso ser feito, mais de uma vez, indicando quais as prateleiras onde deviam ser guardados os papéis das dívidas e as contas, a correspondência com solicitações para os bispos, os recibos de impostos e de arrendamentos, e todo o resto, Cecília foi contando, mais do que nunca, como havia acontecido de ela viver entre familiares num convento em que quase todas eram de famílias inimigas. Foi assim que ela e a rainha Blanka viveram e sofreram durante muitos anos até que chegaram tempos melhores.
E contou a respeito do que uma velha senhora chamada Helena Stenkilsdotter, muito inteligente e pertencente a uma família real já desaparecida, lhes havia ensinado. Que era muito importante, quando jovens, jamais escolherem seus inimigos. Que os inimigos de hoje podiam ser os amigos de amanhã.
Dentro de si, Cecília chegou a pensar que, de certa forma, ela estava começando a se parecer com essa Helena Stenkilsdotter, conseguindo demonstrar tanto carinho para com as duas jovens com os odiados nomes sverkerianos de Helena e Rikissa.
Cecília avisou-as ainda de que não deviam fazer os seus votos antes de sentir, realmente, a chamada definitiva para a vida monástica. E nunca deviam perder a esperança, dando a entender que até mesmo as pobres filhas sverkerianas, precisando pedir asilo no convento inimigo, teriam a sua chance de serem chamadas para o mundo lá fora, mais cedo do que seria de esperar. Ela própria, Cecília, nunca deixaria de conservá-las na memória.
Deixada sozinha, depois daquele tempo todo de consolação, eventualmente falsa, Cecília passou a tratar da sua própria despedida. O ábaco que ela própria produziu e com o qual mais facilmente fazia as contas era, considerou ela, de sua propriedade. Esse, ela levaria consigo. O cavalo e a sela também eram dela. O seu manto de inverno, com pele de cachorro, assim como as botinas com pele do mesmo animal, ela havia pago com o seu próprio salário. Além disso, tinha as roupas do corpo e, possivelmente, as roupas para festas que estavam em Näs.
Quando ela e Cecília Blanka eram jovens, tinham as mesmas medidas de roupa, mas agora que sete gravidezes as separavam, Cecília Rosa era a única que continuava a poder usar as mesmas roupas da juventude. Talvez não fosse conseqüência apenas das gravidezes. Em Näs, comia-se muita carne de porco ou, pior ainda, carne de porco salgada, o que exigia muita cerveja. No convento, onde Cecília Rosa continuou vivendo a maior parte do tempo, nos últimos anos, tudo o que era gula estava proibido.
Ter um ou vários dos vestidos que já não serviam mais na sua melhor amiga não era o mais importante. Além disso ela tinha um marco e meio de prata que havia ganho honestamente como salário de yconoma durante o tempo que serviu no convento de Riseberga, não como penitente, mas como mulher livre. Retirou a prata, pesou-a e anotou no respectivo livro o que havia retirado e lhe pertencia.
Naquele momento, ela reconheceu que sabia muito pouco a respeito da sua pobreza ou riqueza. Era como se ela há muito tempo estivesse a caminho de realizar os seus votos monásticos e se visse já como pobre, sabendo infinitamente muito mais sobre cada plantinha que pertencia ao convento do que a respeito de si mesma.
Quando o seu pai Algot faleceu, deixou apenas as duas filhas, Cecília e Katarina, como herdeiras. Nessa altura, ela devia ter recebido, portanto, metade das fazendas que pertenciam à família à volta de Husaby e Kinnekulle. Katarina devia ter recebido a outra metade. Mas Katarina tinha entrado para o convento de Gudhem por seus pecados e, com isso, renunciado a todas as suas propriedades terrenas. Portanto, renunciara também à sua herança? Para quem, então, essa herança tinha ido, para Cecília ou para Gudhem? E quanto lhe pertencia num caso ou no outro das fazendas à volta de Husaby?
Isso era uma pergunta que nunca havia feito a si mesma. Era como se ela nunca tivesse pensado em si mesma como proprietária de riquezas seculares, mas apenas como administradora de bens da Igreja.
Aquele marco e meio de prata que ela tinha na mão seria suficiente para comprar um belo manto. Mas havia um manto folkeano em que ela trabalhava já há três anos, o mais belo de todos, com forro de pele de marta e o leão desenhado com fios de ouro e prata de Lübeck, e com fios vermelhos franceses para marcar a boca e a língua do leão. Nenhum manto em todo o reino tinha uma cor tão forte. Era o trabalho mais bonito que ela tinha feito em toda a sua vida no convento. E tinha um sonho que jamais escondera para ninguém, muito menos para si mesma, que era o de ver um dia esse manto sobre os ombros de Arn Magnusson.
Um manto como aquele, ela sabia muito bem, valia bem uma fazenda, com escravos e animais inclusos. O manto pertencia ao convento de Riseberga, embora tivesse sido feito com as suas próprias mãos.
No entanto, esse manto era o seu sonho, não podia ser usado por outro que não um folkeano. E nenhum outro folkeano que não o seu Arn. Durante muito tempo ela ficou com a pena na mão, antes de vencer a sua hesitação. Então escreveu um título de dívida de quinze marcos de prata, abanou o escrito para secar a tinta e inseriu o título na prateleira certa.
Depois, foi até a câmara de refrigeração, procurou o manto, acariciou o seu rosto com ele e inspirou seu cheiro forte que era mais para manter as traças a distância do que para inspirar seus sonhos. Em seguida, dobrou-o e saiu carregando-o debaixo do braço.
Na missa de despedida, ela passou pela comunhão.
Para o jovem Sune Folkesson e seu irmão de criação, Sigfrid, a cavalgada entre Arnäs e Forsvik era o seu desejo mais ardente que, inexplicavelmente, acabou acontecendo.
Eles montaram cada um no seu cavalo estrangeiro. Sune, num cavalo malhado de crina e rabo negros, e Sigfrid, num cavalo baio, de crina e rabo claros, quase brancos. O senhor Arn tinha escolhido e aprovado os dois jovens garanhões, experimentou-os e brincou com os dois, antes de decidir qual dos garotos devia ficar com qual dos cavalos. Arn explicou de forma resumida, mas séria, que ambos os animais eram bem jovens, assim como seus novos donos, e que era importante que eles fossem envelhecendo junto e ao mesmo tempo que seus cavalos. E que esse era o começo de uma amizade que devia durar até que a morte os separasse. Isso porque só a morte podia separar o homem do seu cavalo do Ultramar.
Arn não pôde dedicar muito tempo para explicar a diferença entre esses e os cavalos nórdicos, talvez porque tivesse visto nos olhos dos dois jovens amigos que eles já tinham entendido. Ao contrário dos adultos da Götaland Ocidental, os dois rapazes tinham compreendido por si mesmos que esses cavalos eram como seres lendários, comparando com os cavalos que os escudeiros nórdicos montavam.
Sune e Sigfrid, assim como quase todos os garotos da sua idade, de famílias fidalgas, tinham aprendido a montar, logo depois de terem aprendido a andar. Montar para eles era como respirar ou beber água, coisas que não precisavam mais aprender.
Até aquele momento, em que tudo começava de novo, desde o início. A primeira diferença que encontraram foi a velocidade. Se comandassem esses cavalos do jeito que faziam com os cavalos nórdicos, a velocidade, dali a duas, três passadas, ficava tão vertiginosa que seus olhos tornavam-se lacrimosos e o vento levantava para trás seus cabelos longos. A segunda diferença era a vivacidade. Enquanto qualquer cavalo nórdico dava três passadas na lateral, esses cavalos conseguiam dar talvez dez. Isso dava ao cavaleiro a sensação de flutuar na água. Não se conseguia notar os movimentos, apenas a mudança de posição. Enquanto o cavalo nórdico avançava na mesma direção da cabeça, esses outros flutuavam no ar ou por mágica, avançando como se estivessem brincando. Era como se estivessem num barco, numa sucessão de saltos rápidos, sem conseguirem realmente dirigir a embarcação e onde qualquer movimento mínimo inesperado podia levar a uma conseqüência muito diferente daquela pretendida.
Por isso, era como se fosse começar tudo de novo. Teriam que reaprender a montar, visto que existiam mil e uma novas maneiras de dominar a montaria, justo como fez o Senhor Arn lá na praça em Forsvik, quando conduziu o seu cavalo em movimentos que pareciam impossíveis de conseguir, ao mesmo tempo que brincava com os escudeiros como se fossem apenas gatinhos recém-nascidos.
De vez em quando, Sune e Sigfrid examinavam os estrangeiros à sua volta. Todos falavam uma língua com o senhor Arn que era totalmente incompreensível. Uma parte dos estrangeiros de olhos escuros parecia cavalgar com a mesma segurança que a do próprio senhor Arn. Eles cresciam como que ligados aos seus cavalos. Avançavam brincando, mesmo quando a floresta ficava espessa e difícil de atravessar, ainda mais por causa das ventanias que sempre aconteciam antes de chegar o verão. Mas quase a metade dos estrangeiros parecia cavalgar obstinadamente, pensativos, e de forma esforçada como Sune e Sigfrid.
Treze homens estavam atravessando a floresta, se incluídos Sune e Sigfrid, o que, certamente, eles próprios faziam. Em Arnäs, o senhor Eskil deu a cada um deles um manto azul, meio desbotado, que ele disse não dar mais, praticamente, para usar, mas ambos usavam esses mantos como jovens orgulhosos. Havia, portanto, três homens viajando com mantos azuis folkeanos, com o senhor Arn na frente.
Os estrangeiros tinham envolvido o corpo com várias faixas de tecido e a cabeça ou com um turbante ou com um elmo estranho, pontiagudo, com tecido na borda inferior. Os que cavalgavam com esses elmos eram os melhores cavaleiros e eram portadores de espadas estranhamente curvas, além de arco e aljava nas costas.
Todos cavalgavam numa formatura em círculo esticado e, entre eles, seguia o resto dos cavalos sem cavaleiros. Não era fácil de entender como acontecia, mas logo após cerca de uma hora de marcha todos os cavalos soltos seguiam rigorosamente o caminho trilhado pelo cavalo do senhor Arn.
Essa cavalaria a caminho de Forsvik atravessava diretamente as florestas onde não existia nenhum caminho. Como o senhor Arn podia estar certo da direção a seguir numa região sem caminhos nem trilhas também não era fácil de entender. De vez em quando, ele olhava para o sol. E isso era tudo. No entanto, no final do dia, viu-se que ele tinha avançado certo e estava chegando a Uttervadet, na margem do rio Tidan, um pouco ao norte do local de reuniões de Askeberga. Assim que a floresta de faias começou a ficar menos espessa e a paisagem se abriu, puderam ver o rio, lá embaixo, como uma sinuosa serpente brilhante e logo chegaram ao local onde os cavalos poderiam passar sem qualquer dificuldade.
Ao anoitecer, chegando perto de Askeberga, eles começaram a passar ao lado das barcaças que vinham carregadas de Arnäs e traziam alguns dos estrangeiros que não quiseram viajar a cavalo. Ao que parecia, uma parte da carga desses estrangeiros era tão valiosa que eles nem queriam se separar dela, viajando sentados em caixas de madeira e, ainda desconfiados, se amarravam com cintos a elas. Sune achava que deviam ser caixas com ouro ou prata, as que guardavam com tanto cuidado, mas Sigfrid discordava, dizendo que esses valores deviam ter ficado numa sala da torre de Arnäs. A seu tempo, quando todo o grupo chegasse a Forsvik, iriam saber. E assim se consolavam, enquanto esperavam.
Em Askeberga, retiraram-se todas as selas dos cavalos que foram escovados e levados para beber água. O senhor Arn foi então até Sune e Sigfrid para mostrar a eles com que cuidado e carinho deviam tratar dos seus cavalos dali em diante. As bardanas todas, mesmo as menores, deviam ser retiradas dos rabos e das crinas, e seus corpos deviam ser examinados, centímetro por centímetro, e acariciados, assim como verificados deviam ser seus cascos, de modo a ter a certeza de que estavam limpos, sem pedras ou raízes agarradas. E enquanto eram realizados esses trabalhos deviam falar o tempo todo com seus amigos, pois de amigos se tratava. E quanto maior fosse a amizade entre cavalo e cavaleiro, melhor iam trabalhar os dois em conjunto. A amizade era mais importante do que aquilo que se fazia com as esporas e as mãos para comandar o animal. No devido tempo, iriam aprender a esse respeito muito mais do que poderiam imaginar. Não só iriam ser mais rápidos do que qualquer outro cavaleiro na Escandinávia como também iriam aprender a cavalgar para trás e para os lados como nenhum dos seus parentes ou amigos saberia fazer. Mas isso ia levar tempo.
Mas, entretanto, deviam fortalecer a amizade com seus cavalos, fazendo com que essa amizade crescesse dia após dia, pois isso era o fundamento de toda a arte de cavalaria.
Sune e Sigfrid logo se sentiram totalmente convencidos por tudo o que o senhor Arn lhes tinha dito e que, eventualmente, aos olhos dos outros devia parecer mais uma loucura do que coisa inteligente. Mas era parte de um grande segredo. Pois a visão do senhor Arn a cavalo na praça em Forsvik continuava gravada nas suas memórias.
Ao anoitecer e no começo da noite, não pararam de chegar as barcaças de Arnäs, uma atrás da outra, e o liberto Gurmund teve muito que fazer, servindo muita cerveja e providenciando lugares para dormir. —
Uma hora antes das orações vespertinas, Arn foi buscar o seu arco, o esticou-o, pegou uma cesta de flechas e preparou-se para uma sessão de treino. Ele já não vivia mais sob o duro Regulamento que, durante tantos anos, tinha sido sempre a sua medida de comportamento. Tantos anos que chegava a não se lembrar mais de como era antes. Ele não era mais um templário. Antes pelo contrário. Em breve, iria contrair diante de Deus uma união carnal abençoada entre homem e mulher. Mas o Regulamento condenava a preguiça, tanto quanto condenava a pretensão orgulhosa. A preguiça de não treinar a arte da luta armada, a fim de servir bem a Deus na hora do perigo. E a pretensão de se achar suficientemente competente para não precisar mais de treino.
Por isso, procurou pela bola de palha que ele e Harald tinham usado como alvo da última vez que haviam estado em Askeberga e dirigiram-se para o rio à procura de um lugar onde pudessem atirar à vontade, sem perturbar alguém ou serem perturbados. O jovem Sune e seu irmão de criação, Sigfrid, logo os seguiram, acreditando não serem vistos e descobertos, nem por um templário como Arn. Este, primeiro, achou melhor fingir que nada tinha notado como daquela vez em que os dois assistiram à brincadeira de Arn com os escudeiros em Forsvik. Mas, depois, resolveu de outra maneira. Apressou o passo e um pouco mais à frente se escondeu atrás de um carvalho bem grosso e avantajado e logo agarrou os dois pelo pescoço quando os jovens passaram.
Então, Arn os admoestou duramente, dizendo que não deviam nunca perseguir secretamente um templário daquele jeito. Isto porque, segundo certamente tinham ouvido em Arnäs, seu irmão Eskil até queria mandar junto uma escolta de doze escudeiros para acompanhar a viagem de volta para Forsvik, havendo rumores de que mais de um homem poderoso no reino estaria disposto a pagar por um matador, a fim de evitar o casamento em Arnäs. Portanto, pior momento do que esse os jovens Sune e Sigfrid não podiam ter escolhido para essa perseguição sigilosa. Os rapazes ficaram envergonhados, abaixando a cabeça e pedindo perdão, mas logo ficaram excitados diante da perspectiva de poder ajudar o seu senhor, indo buscar no alvo as flechas disparadas por ele.
Arn aceitou a ajuda, formalmente, de rosto sério, mas teve dificuldade em manter essa atitude. Indicou, então, um cepo podre onde colocar o alvo. Eles acharam que era longe demais, mas obedeceram sem pestanejar.
Ao voltar e ao se sentar no musgo de uma grande pedra, na expectativa de ver o que iria acontecer em seguida, Arn assestou a primeira flecha no arco, apontou-o para o alvo e disse que aquela distância era precisamente a mesma de quando ele os tinha visto pela primeira vez, seguindo-o. E aí disparou rápido cinco flechas, uma em seguida à outra, e fez sinal para irem buscá-las.
As flechas estavam todas juntas no alvo, tão juntas que Sigfrid, que chegou primeiro, pôde pegá-las apenas com uma das mãos, retirando-as do alvo. Ao fazer isso, ele simplesmente caiu de joelhos, olhando fixamente, sem acreditar, para as cinco flechas na mão. Sune enfrentou aquele olhar e abanou a cabeça. Não havia nada a dizer, mas também quaisquer palavras seriam desnecessárias.
Cinco vezes Arn disparou, e cinco vezes Sune e Sigfrid foram correndo apanhar as flechas que de todas as vezes menos uma podiam ser apanhadas com uma só mão. A excitação inicial dos rapazes transformou-se, lentamente, em desanimado silêncio. Se era preciso atirar como o senhor Arn para se tornar cavaleiro, nenhum dos dois achava poder conseguir isso e passar na prova.
Arn viu como o estado de espírito deles se modificava e imaginou qual era a razão.
— Vocês não vão atirar com o meu arco — explicou ele, num tom leve de voz, quando os dois voltaram com as flechas pela quinta vez. — O meu arco é o melhor para mim, mas, certamente, não é o melhor para vocês. Quando chegarem a Forsvik, vamos fazer arcos especiais, adequados para vocês, assim como espadas e escudos. Cavalos especiais que se adaptam a vocês já têm. Pensem que isso é apenas o começo de um longo caminho.
— Um caminho muito longo — reagiu Sune, em voz baixa e de — cabeça caída. — Isso porque, como o senhor, ninguém jamais vai poder atirar.
— Desse jeito, ninguém no nosso reino sabe atirar — completou Sigfrid.
— Nesse caso, vocês dois estão errados — disse Arn. — Meu amigo Harald, da Noruega, atira como eu, e vocês vão se encontrar em breve com um monge que talvez atire melhor do que eu; pelo menos, atirava antes melhor do que eu. Não existem limites para aquilo que um homem pode aprender, a não ser os limites que as pessoas colocam na sua própria cabeça. Quando me viram atirar, vocês apenas mudaram para mais longe os limites que achavam ser os máximos. E ruim seria pensar de outra maneira, visto que sou eu quem vai ser o professor de vocês.
Arn riu ao indicar que seria ele próprio o professor dos dois rapazes desanimados e em troca recebeu um sorriso hesitante dos dois.
— É muito simples, aquele que treinar mais irá atirar melhor — continuou Arn. — Eu treino com armas todos os dias, desde quando era muito mais novo do que vocês dois. E nos dias em que não treinei, isso aconteceu porque estávamos em guerra ou houve algum outro tipo de exercício a realizar. Nenhum homem nasce cavaleiro, poderá apenas trabalhar para chegar lá e isso acho justo. E gostaria de saber se vocês ainda continuam dispostos a trabalhar duramente como se exige.
Os rapazes acenaram com a cabeça, concordando, mudos e de olhos no chão.
— Ótimo — disse Arn. — E trabalhar é o que vocês vão fazer. De início, em Forsvik, haverá mais trabalho de construção do que treino com armas, mas logo que entrarmos em ritmo normal, vão ser longos dias de treino com espada, lança, escudo, cavalo e ferraria. No fim da tarde, todos os dias, na hora das preces, seus corpos vão doer de tanto cansaço. Mas vocês vão dormir muito bem.
Arn deu um sorriso de estímulo para os dois para contrabalançar as palavras que mostravam o verdadeiro caminho para chegar a ser cavaleiro, um caminho sem atalhos. Ele sentia um estranho carinho pelos dois. Era como se ele se sentisse de novo como rapazinho diante da escola dura do irmão Guilbert.
— Qual a oração que um cavaleiro deve fazer à noite e a quem dirigir as nossas preces? — perguntou Sigfrid, olhando para Arn, bem nos olhos.
— Você está fazendo uma pergunta maravilhosa e inteligente, Sigfrid — respondeu Arn, dando tempo a si mesmo para pensar. — Qual dos santos de Deus terá mais tempo e melhores ouvidos para as preces de vocês dois? A Nossa Senhora é a quem eu dirijo as minhas preces, mas tenho estado ao seu serviço e montado sob a sua égide há mais de vinte anos. Vocês mencionaram antes São Jorge, que é o protetor dos cavaleiros seculares, e Ele, certamente, estará mais a jeito para vocês dois. Mas é mais fácil dizer o que devem pedir em suas orações. É fortitudine e sapientia, as duas maiores virtudes dos cavaleiros. Fortitudine significa força e coragem. Sapientia, sabedoria e humildade. Mas nada disso vocês vão conseguir de graça. Vão ter que trabalhar para chegar lá. Ao pedir isso ao findar o dia, depois do trabalho duro, servirá apenas como lembrete daquilo por que estão trabalhando e procuram alcançar. Agora, vão para os seus dormitórios e façam pela primeira vez as suas orações para São Jorge!
Eles fizeram uma vênia de despedida e obedeceram logo. E Arn ficou pensativo, olhando para eles e vendo-os desaparecer, de passo estugado, na penumbra do fim do dia. E no fim do caminho havia um novo reino, pensou ele. Um novo e poderoso reino onde a paz dominava com tal força que a ninguém valia a pena fazer a guerra. E justo esses dois garotos, Sune Folkesson e Sigfrid Erlingsson, seriam talvez o começo desse novo reino.
Arn reuniu as suas flechas na aljava que pendurou no ombro. Mas não esticou de novo o arco. Antes desceu em silêncio com ele na mão até o rio, até aquele lugar bonito para fazer suas orações, sob o amieiro e o salgueiro, lugar que ele tinha encontrado na vez anterior, quando esteve em Askeberga.
O rumor que tinha ouvido em Arnäs, de que o inimigo, especialmente interessado em poder, era também aquele que estava pensando em contratar um matador para acabar com Arn Magnusson, ele não levava, realmente, a sério. Não faltava lógica em tal raciocínio, pensava ele, notando na mesma hora que tinha mudado para francês para pensar mais claramente. O assassino secreto que conseguisse dar a entender que o mandante seria Birger Brosa teria muito a ganhar. A guerra interna entre folkeanos ajudaria os sverkerianos na sua pretensão de reconquistar a coroa real, da mesma forma que enfraqueceria a posse da coroa pelos erikianos. Mas todos esses pensamentos eram apenas amadorismos políticos, embebidos em cerveja e vinho. Uma coisa era imaginar todos esses planos, outra coisa era executá-los. Se alguém se aproximasse agora de Askeberga na penumbra da noite para assassiná-lo, onde é que o assassino iria procurá-lo primeiro? E se o assassino, realmente, existisse nas proximidades, agora que a luz do dia estava desaparecendo, impedindo qualquer disparo, como agiria em silêncio para chegar perto e usar o punhal ou a espada?
E se chegasse no escuro, não seria melhor para ele esperar que o ternplário estivesse dormindo e desarmado?
A Mãe de Deus, certamente, não tinha mantido as Suas mãos protetoras sobre ele durante todos esses anos de guerra. Ela, certamente, não tinha evitado para ele o martírio da morte e a ascensão ao Paraíso, apenas para vê-lo assassinado, finalmente, na Götaland Ocidental. Ela tinha dado para ele todos os presentes terrenos possíveis, mas não sem contrapartida. Ao mesmo tempo, Ela tinha dado a ele a maior de todas as missões que podia dar a um dos Seus cavaleiros. Ele não só tinha que construir uma igreja dedicada ao Santo Sepulcro, para mostrar que Deus existe onde o homem existe e não precisa ser procurado na guerra em países longínquos. E a missão ainda maior dada por Ela seria a de construir a paz através da organização de uma força tão poderosa que a guerra se tornasse impossível.
Arn acabou encontrando de novo o lugar junto do rio onde podia descansar e rezar. O curto período de escuridão da noite já tinha passado. Faltavam apenas algumas semanas para o midsommar, o ponto alto do verão na Escandinávia, bem ao norte, e a noite não durava mais do que meia hora. Não havia vento e os sons e os aromas da noite eram fortes. Lá de cima no burgo, não muito longe dos barcos, ele ouviu gargalhadas sonoras de alguém que abriu uma porta e saiu para urinar. Os remadores do rio providenciavam para si toda a cerveja que os estrangeiros evitavam. Um rouxinol parecia ter pousado bem perto dele e seu canto forte encheu durante um momento todos os seus sentidos.
Tal paz de espírito ele nunca tinha conhecido antes. Era como se a Mãe de Deus, com isso, quisesse mostrar para ele que a felicidade celestial também era possível na vida terrena. Em cada curso de acontecimentos, pequeno ou grande, ele via sempre a Sua vontade e infinita graça. O seu pai estava a caminho de retomar todos os seus sentidos como antigamente e logo voltaria a poder andar.
Ibrahim e Yussuf tinham mudado o senhor Magnus para a grande sala da torre, assim que limparam o lugar como numa mesquita e, com a ajuda de alguns escravos, construíram uma ponte com dois caibros onde o paciente podia articular os passos com o apoio dos braços, lentamente, com dificuldade de início, mas sendo possível ver que, dia a dia, as melhoras davam a entender que ele, em breve, poderia voltar a andar sem qualquer apoio. E ele voltou a mostrar, também, muito do seu bom humor, dizendo que iria conseguir andar, talvez como um bom velhote, mas ainda assim com as suas próprias pernas, quando chegasse a hora do casamento. Até chegar essa hora, a do casamento proibido, ainda restavam algumas semanas, e nesse período, ele iria conservar as suas melhoras em segredo, de modo que a força da cura pudesse ser notada por todos que o vissem na cerimônia.
Ele falava, agora, muito melhor, desde quando começara os exercícios todos os dias, e para trás já tinha ficado toda a desesperança inicial. Aquilo contra o que, no começo, ele tanto tinha se insurgido, que era o exercício de mudar uma pedra de uma mão para outra, agora fazia com tal intensidade que Ibrahim e Yussuf, de vez em quando, precisavam tentar acalmá-lo para que ele não exagerasse.
Para Arn ele disse que era como se, ao mesmo tempo, pudesse ver — e sentir como a vida estava voltando, tanto no corpo como na alma. Mas daquilo que disse, o que mais agradou a Arn foi quando ele salientou que nada do que estava acontecendo podia ser considerado um milagre, independentemente do que o povo quisesse acreditar ao vê-lo de novo com saúde. Aquilo era resultado do seu próprio trabalho, da sua própria vontade e, tudo bem, das suas próprias preces, mas, acima de tudo, tinham valido os conhecimentos dos dois estrangeiros. E eles eram pessoas normais, nem santos, nem bruxos, ainda que se vestissem de forma estranha e falassem uma língua incompreensível.
Finalmente, Arn contou para seu pai toda a verdade, que esses dois homens, Ibrahim e Yussuf, que era como os seus nomes deviam ser pronunciados, eram sarracenos.
O senhor Magnus ficou em silêncio um bom tempo, ao ouvir isso, de modo que Arn chegou a lamentar todo o seu ardente amor à verdade. Mas, finalmente, o pai acenou com a cabeça e disse que os bons conhecimentos, quer fossem de perto ou de longe, eram o que tornavam a vida melhor. Foi isso que ele viu com os próprios olhos e sentiu com os próprios membros. E se o povo da Igreja tivesse apenas coisas ruins a dizer a respeito dos sarracenos, isso de nada valia contra aquilo que seu próprio filho houvesse por bem dizer. Seria de perguntar quem saberia melhor a verdade, aquele que era pastor em Forshem ou bispo em Aros Oriental ou aquele que andou em guerra contra os sarracenos durante vinte anos?
Arn aproveitou a oportunidade para contar que todas as fortalezas dos templários tinham sarracenos como curandeiros, por serem os melhores. Portanto, aquilo que era bom para os sagrados exércitos dos templários de Deus tinha de ser bom, também, para quem vivia na Götaland Ocidental, no norte, na Escandinávia.
O bom humor que esta informação produziu fez com que o pai logo pedisse companhia para ir até os muros da fortaleza, a fim de examinar a nova construção.
Arn receava que fosse cedo demais para o pai sair e andar lá fora, ainda que tivesse o filho para apoiá-lo, mas ao mesmo tempo receava que o pai achasse a reconstrução desnecessária e a proibisse, agora que a sua sensibilidade tinha voltado.
Mas até isso correu da melhor maneira possível. Quando o senhor Magnus viu como se erguia um muro totalmente plano e alto à volta das partes externas da fortaleza, mais próximo do lago Vänern e quando entendeu que esse muro estaria em volta de toda a Arnäs, ficou mudo de alegria e orgulho. A construção original, ele já tinha melhorado enormemente quando ainda jovem, mas sempre tinha lamentado não ter feito ainda mais. Arn contou detalhadamente como tudo seria quando ficasse pronto e como nenhum inimigo, depois, conseguiria ameaçar a família folkeana. Em tudo o que contou, Arn recebeu o apoio irrestrito do pai.
A única coisa ruim que ocorreu durante a curta visita de Arn a Arnäs foi a disposição temperamental de Erika. Como ele havia tomado conhecimento da morte de Knut, o seu desconhecido e jovem irmão e filho dela, Arn lamentou o triste acontecido junto de Erika como devia. Entretanto, ela o constrangeu, falando muito mais da vingança a que ela dizia ter direito do que da tristeza que essa morte lhe provocara. Pior ainda ficou quando ela disse que tinha agradecido profundamente a Nossa Senhora por um guerreiro de Deus como Arn ter voltado e assim os dias do vilão Ebbe Sunesson estarem contados. Porque a lei era clara. Se Arn exigisse um duelo para limpar a honra da família, o vilão não poderia se recusar. Erika ficou tão excitada que parecia chorar e rir ao mesmo tempo, ao descrever como Ebbe Sunesson iria reagir ao ser obrigado a empunhar a sua espada contra o irmão mais velho do assassinado e, então, ver pela frente a sua própria morte chegando.
O desejo de vingança de Erika Joarsdotter ele não pôde amenizar. Isso logo ele descobriu ao tentar. Em vez disso, rezou com ela pela alma do irmão Knut. Ainda que ela não pudesse recusar uma tal prece, de qualquer forma ela parecia mais interessada na vingança do que na paz de espírito do assassinado.
Era lamentável verificar esse grave pecado em Erika. Durante o tempo que ficou junto do rio, Arn rezou em primeiro lugar pelas melhoras de Erika e pelo perdão dos seus pecados.
Era como se eles estivessem a caminho do centro da escuridão. Quanto mais longe a viagem no rio os levava, mais certos ficavam os irmãos Wachtian de que deixavam para trás as habitações humanas e de que se aproximavam da barbárie e do inominável. As poucas habitações por onde passavam pareciam cada vez mais pobres, e nas praias do rio corriam o gado e as crianças semi-selvagens de tal maneira que era difícil diferençar os animais das pessoas.
O lugar de descanso onde deviam pernoitar era ignóbil e cheio de homens selvagens e sujos que falavam uma língua cantada, mas incompreensível, e bebiam como bestas até chegar ao ponto de lutar uns contra os outros, ou caíam por terra e adormeciam onde ficavam. Todos os homens do Ultramar, cristãos ou muçulmanos, mantiveram-se juntos e foram acampar um pouco longe da casa, preferindo isso a ficar dentro de casa. A comida que as escravas traziam eles recusavam com repugnância e horror, e, quando a noite chegava, todos rezaram, o povo do Profeta de um lado e os cristãos, do outro, por clemência.
Pela manhã, demorava uma eternidade para seguir viagem, visto que os remadores dorminhocos precisavam ser procurados por seus chefes nos lugares mais inesperados onde por acaso caíam no sono. De olhos vermelhos e irritados, malcheirosos, de vômito e urina, esses homens tal qual animais de tração, finalmente, eram amarrados aos remos. Aí já o sol ia alto e se dizia que Arn e seu grupo montado estavam muitas horas na frente.
No fim daquela tarde, o barco encostou no cais de Forsvik. A descarga começou em seguida. E Marcus e Jacob Wachtian tiveram toda a pressa do mundo para evitar que a sua bagagem saísse prejudicada por essas almas incompetentes e descuidadas, tanto que eles por um momento nem puderam admirar o tamanho da sua infelicidade.
No entanto, podia ter sido muito pior, concluíram eles, quando Arn chamou-os para uma reunião na praça do burgo, bem no meio das casas baixas de madeira, com grama no telhado. Pelo menos, no caso, todos os nórdicos em volta estavam sóbrios e quase adequadamente limpos. Pelo menos, não cheiravam mal como os remadores.
— Em nome do Clemente, do Misericordioso, Ele que é o nosso Deus e de todos, ainda que rezemos por Ele de maneiras diferentes, eu vos saúdo e dou as boas-vindas a minha casa — começou Sr. Arn como, normalmente, em árabe. — Este é o ponto final da nossa viagem — continuou ele. — Portanto, antes de fazer ou dizer seja o que for, vamos rezar em agradecimento por termos chegado sãos e salvos.
Arn abaixou, então, a cabeça para rezar, e todos os homens à volta fizeram a mesma coisa. Ele esperou que todos levantassem a cabeça de novo como sinal de que a prece tinha terminado.
— Aquilo que vocês estão vendo aqui em Forsvik pouco vai impressioná-los, eu sei — continuou Arn. — Mas temos quatro anos de trabalho juntos pela frente, antes de terminar o tempo que combinamos. E nenhum de nós vai reconhecer de novo este lugar depois desses quatro anos. A esse respeito podemos estar certos. Não vamos construir uma fortaleza, mas um seraglio, uma praça de comércio. Não vamos construir muros aqui como em Arnäs, mas ferrarias, fornos de tijolos, fornos de vidros e lojas para fazer selas, cobertores, objetos de barro e roupas. Mas não vai acontecer tudo de uma vez. Primeiro, virá o telhado por cima da cabeça e a limpeza que será a mesma aqui do que no Ultramar. Depois, vamos botar em ordem todo o resto, segundo a prioridade que acharmos melhor. Teto por cima da cabeça, portanto, é a primeira coisa a fazer. Isto porque os invernos aqui na Escandinávia são totalmente diferentes daquele tipo a que vocês estão habituados. Quando cair a primeira nevada e o frio chegar, estou certo de que nenhum de vocês, mesmo nos momentos de maior silêncio, vai me condenar por, nos primeiros tempos, os ter obrigado a trabalhar que nem escravos como simples serventes de obra, apesar de todos os conhecimentos especializados de cada um poderem ser utilizados em coisas mais difíceis do que arrastar blocos. O povo do Profeta, que Ele esteja em paz, jamais vai encontrar comida impura diante de si. Agora, pela frente, só trabalho duro, mas também a recompensa, a menos de meio ano, quando cair a primeira neve!
Como era hábito, Arn repetiu as suas considerações em francês e, depois, avançou na direção dos dois mestres, Aibar e Bulent, levando-os para uma casa menor localizada bem ao lado de água corrente.
— Alguns têm sorte em se livrar do trabalho escravo na construção desde o início — sussurrou Jacob Wachtian. — Que tipo de arte podemos fazer para nos livrarmos?
— Certamente, vamos encontrar uma saída, não se preocupe — respondeu Marcus, despreocupado e puxando pelo seu irmão para estudar mais atentamente o burgo que, notoriamente, iria ser o seu local de trabalho durante os próximos anos.
Eles deram uma volta em Forsvik e, como ambos eram homens encontravam grande prazer em aprender coisas novas em tudo o tivesse a ver com a construção e a manipulação pelas mãos das Pessoas, logo acharam muito do que falar. Com aquela quantidade de madeira recém-cortada que tinham amontoado em diversos lugares e que continuava chegando, puxada por bois, da floresta próxima, eles acharam poder construir várias casas novas. Mas, com os montes de pedras e as barricas de calcário e areia, chegaram à conclusão de que as casas novas também podiam ser construídas de maneira diferente em relação às que já existiam. Provavelmente, iriam ficar como a grande casa de madeira em Arnäs, em que uma das paredes era feita de pedra e dentro havia uma gigantesca lareira central. Se com a ajuda do fogo conseguirmos aquecer bem a pedra, talvez possamos lutar contra o horroroso frio do inverno, argumentava Marcus. Ao contrário do que acontecia no Ultramar, ali, de qualquer maneira, havia combustível em quantidades ilimitadas.
Os dois foram interrompidos nas suas considerações por Arn, que vinha na sua direção em grandes passadas estugadas, lançou seus braços pelos ombros deles e disse que logo iriam começar os trabalhos em que eles estavam mais preparados para executar, pensar em produção de ferramentas. Mas primeiro ia mostrar a eles como ele tinha pensado fazer. Ele parecia satisfeito e certo do que queria fazer desse lugar esquecido por Deus, no fim do mundo. Era como se já fosse um grande e florescente seraglio.
Primeiro, levou-os até duas fontes, descrevendo como era possível obter muita força a partir dessa água, tanto quanto se desejasse. Que a água era melhor do que o vento, visto que a corrente da água era permanente.
Junto da fonte menor, havia dois alcatruzes. Arn levou-os para dentro do moinho e lhes mostrou como a força rotativa podia ser ligada às pedras de moer.
— Isto é apenas o começo — disse ele. Podemos construir dez alcatruzes iguais a esse. Podemos construí-los muito maiores. Então, conseguimos uma força muito maior, embora as rodas andem mais lentas, podendo moer calcário até obter um pó que dá para fazer arga-massa. Ou podemos obter uma força mais fraca, mas muito mais rápida com alcatruzes menores. É aqui que quero que vocês usem a cabeça e pensem como aproveitar melhor essa força!
Arn, então, saiu com eles do moinho, continuando ainda entusiasmado, para mostrar onde ele queria construir a despensa em tijolos, junto da fonte maior, de maneira que se pudesse conduzir uma corrente de água fria pelo chão para refrigerar o ambiente dentro da despensa e fazer com que essa água voltasse para o leito normal.
Ao longo da grande fonte seria construído um canal de pedra para dominar toda a força da água que agora apenas se desperdiçava. Era ali que se construiria uma fila de oficinas, já que a força da água poderia ser usada para acionar os foles das forjas e os martelos. Para não precisar jogar fora todo o carvão e combustível, ele achava que era melhor construir as oficinas dos dois irmãos junto da ferraria e da vidraria. Quando Marcus resmungou alguma coisa contra ficar pensando sério a respeito de rodas de cortar e de molas e, ao mesmo tempo, ouvindo o bater do ferro na ferraria e o trabalho da vidraria, então Arn riu bastante. Realmente, ainda não tinha pensado nessa desvantagem. Mas, durante o inverno, seria de grande valia trabalhar junto, justamente, da ferraria e da vidraria, por causa do calor. —
No entanto, os dois, assim como o curandeiro Ibrahim, deviam começar num outro extremo. Antes do longo inverno, no outono, com o surgimento de toda a lama e, mais ainda, no inverno, era difícil manter o corpo e a habitação limpos, desde que não se começasse a tempo a produção de sabões e sabonetes. Arn desculpou-se, rindo, quando viu as expressões ofendidas dos dois irmãos armênios. Esse trabalho podia ser considerado para pessoas menos talentosas, reconheceu ele. Mas ali na Escandinávia não havia nada disso, nem sequer a palavra. Portanto, era apenas uma questão de escolha. Aquele que quisesse manter-se limpo durante o inverno tinha que começar a queimar freixo e a juntar gordura para fazer o seu próprio produto de limpeza. O óleo poderia ser obtido, botando para cozer o pinheiro abeto do mesmo jeito que o cedro e o pinheiro-do-líbano. Arn já tinha até botado para sangrar uma quantidade dessas árvores bem próximo, que já estavam produzindo resina.
Aqui, ele interrompeu a sua conversa supostamente divertida, ao ver as expressões restritivas dos dois irmãos. Assegurou, então, que colocaria outra gente para juntar a resina das árvores, mas quando essa resina fosse para as panelas de ferro, até os dois armênios seriam obrigados a continuar o trabalho simples da produção.
Um outro trabalho muito simples, justo, e que Marcus e Jacob, sem dúvida, fariam muito melhor, era o de irem ao longo da praia juntando as plantas de água boas para queimar e delas fazer a espécie certa de cinzas para a produção de massa de vidro. Isso seria de grande utilidade durante o inverno.
Os irmãos Wachtian estavam estupefatos ao ouvir que trabalhos simples e mais próprios para escravos o seu senhor esperava que eles fizessem. E ele pareceu ler facilmente no rosto deles e se preparou para uma longa justificativa.
Primeiro, falou de uma coisa tão simples quanto feltro. Esse produto não existia ainda na Escandinávia. Por isso, Aibar e Bulent, os dois produtores de feltro, vindos da Turquia, logo teriam de começar o trabalho de produzir o que tinham vindo para fazer. Ainda que a maior parte do feltro produzido fosse para utilizar dali a pouco na guerra, o excesso desse produto só poderia ser bem-vindo para uso também durante o inverno.
Era preciso entender que tudo o que se via como normal no Ultramar não o era na Escandinávia. A mesma coisa com o sabão e o sabonete, que não só o povo do Profeta, que Ele esteja em paz, sabia apreciar, mas também os cristãos do Ultramar.
Havia, portanto, no começo muitas coisas que era preciso fazer e que pareciam simples demais. Só depois se entraria no verdadeiro trabalho especializado, produzindo arcos, cortando flechas para arcos grandes, fundindo espadas e elmos, produzindo fios de aço e queimando argila e vidro.
Além disso, acrescentou ele com um sorriso nos lábios, aqueles que não encontrassem trabalho nessas pequenas coisas teriam de começar por trabalhar, ajudando na construção de casas e de muros. Essa curta chamada convenceu rápido os irmãos Wachtian de que logo teriam de começar a produzir sabão e sabonete, assim como a juntar as plantas da água próprias para transformar em cinzas, sendo estas necessárias para a produção de vidro.
Entretanto, Arn pediu a eles para que sempre que tivessem tempo e disposição fossem até as fontes e pensassem que outras utilidades se poderia obter da sua força.
Esta última parte era a mais estimulante. Quando Arn os deixou, se apressando para dar outras informações parecidas, os irmãos Wachtian de novo foram até o alcatruz. Lá dentro do moinho, ficaram olhando para as pedras rodando sobre o eixo e pensando alto um para o outro.
Serra, pensaram eles, de repente. Na Escandinávia, cortavam-se as árvores e a madeira era aplainada ao máximo com machadinha. Mas se fosse possível serrar a madeira já de começo?
A força existia em quantidade mais do que suficiente, exatamente como disse Arn. O que deveria ser feito para transmitir essa força para a serra?
Não era uma coisa fácil de inventar, mas esse era um problema que deixava os dois irmãos de bom humor, melhorando o seu estado de espírito. Foram logo buscar pergaminho e tinta. Ambos pensavam melhor quando conseguiam transformar o problema em imagens.
Na SUA CHEGADA A HUSABY, Cecília Rosa constatou rápido que não era bem-vinda e que, se havia algumas pessoas que desejassem vê-la no convento mais do que Birger Brosa, essas pessoas seriam seus familiares.
Ela não tinha desistido da sua herança por morte de seu pai, Algot. Essa herança era no mínimo metade das dez fazendas à volta de Husaby. E como gatos diante da comida quente, seus familiares se atiraram à herança de sua irmã, Katarina. A questão era saber se Katarina tinha desistido da herança quando entrou para o convento e se, nesse caso, ela tinha ido parar nas mãos do convento, se pertencia a Cecília ou aos seus familiares masculinos.
Husaby era propriedade real desde os tempos do rei Olof Skõt. A família do liberto Pai ocupava o lugar há mais de cem anos e, por isso, Husaby já era considerada sua fazenda própria, pelo menos quando o rei não estivesse. Na realidade, era preciso ter sempre bastantes suprimentos na despensa, no caso de o rei chegar para se banquetear. Também era preciso pagar imposto para o rei.
Para o filho do seu tio, Pai Jõnsson, e seus dois irmãos, Algot e Sture, a volta de Cecília para casa era uma grande decepção, impossível de esconder. Não foi difícil para Cecília entender a razão das suas expressões amarguradas e a razão de eles não falarem mais com ela, além do que eram obrigados. Ou, então, ficavam sentados, isolados, e terminavam a conversa entre si, assim que ela chegava por perto.
O casamento de Cecília ia lhes custar muito caro. Isso ela entendeu muito bem. A lei e a tradição eram simples e claras. Quanto mais fico o noivo, maior tinha de ser o presente da noiva. E homem mais rico do que o filho de Arnäs seria difícil de encontrar na Götaland
Ocidental. Pelo menos era isso que Cecília adivinhava, sem fazer a menor idéia do que Arn poderia herdar por parte de seu pai, Magnus.
Cecília tinha uma boa razão para não tocar no assunto do presente da noiva com os seus parentes inimigos. Era melhor guardar essa batalha para a festa dos presentes, quando o padrinho de Arn que, certamente, devia ser Eskil, viria discutir e acordar tudo o que precisava ficar claro e tratado antes do casamento. Contra Eskil, eles podiam marrar à vontade.
Eskil já tinha mandado a velha escrava Suom, de Arnäs, visto que ela era a mais competente na arte da costura e melhor do que todas poderia costurar o vestido da noiva. De Suom, Cecília se tornou logo amiga. As duas sentiam muita satisfação em ver a agilidade dos dedos uma da outra, com a agulha e a linha, com a roca e o tear.
Muita coisa daquilo que se fazia no convento, Suom nunca tinha visto. Mas em contrapartida ela sabia fazer coisas que eram desconhecidas no convento. Assim, as duas tinham facilidade em ficar juntas e com isso Cecília podia evitar a fria convivência com os irmãos Päl.
Eskil chegou na hora determinada e no dia em que ele tinha avisado que chegaria, com um séquito de doze escudeiros atrás de si. Bebeu rápido a sua cerveja de boas-vindas e explicou que não tinha a intenção de passar a noite, nem de jantar. E, portanto, era preciso resolver os negócios rápido e nada de beber mais.
Era difícil para os irmãos Päl dizerem qualquer coisa contra isso, mas coraram pela humilhação de ver que esse folkeano nem se dignava a compartilhar com eles o pão e o guisado.
Não melhorou nada na hora em que Eskil disse achar mais conveniente que a própria Cecília estivesse presente e pudesse opinar. Isso diminuía o papel de Päl Jõnsson como padrinho da noiva, coisa de que Eskil, evidentemente, estava bem consciente.
Sob silêncio total, os três irmãos Päl foram na frente para o salão de festas de Husaby, sentando-se juntos no lugar de honra. Eskil aproveitou para demorar um pouco, deu o braço para Cecília cavalheirescamente e sussurrou-lhe para que exibisse uma boa expressão e não se preocupasse por nada do que fosse dito. Mais não deu para explicar,
pois já estavam dentro do salão, bem escuro e que continuava ornamentado com antigos escritos rúnicos e imagens de santos não exatamente cristãos.
Sob silêncio total, os três irmãos sentaram no lugar de honra, com Cecília um pouco ao lado e Eskil bern na frente, do outro lado da mesa grande. Foi trazida mais cerveja por escravas da casa, silenciosas, parecendo sentir que aquela era uma reunião que seus senhores preferiam não ter tido.
— Muito bem, vamos decidir qual o dia, primeiro — disse Eskil, como se não falasse de coisa difícil ou importante, ao mesmo tempo que enxugava a boca, limpando a cerveja dos lábios.
— O dia costuma se decidir depois de se chegar a um acordo a respeito de todo o resto — murmurou Päl Jõnsson, acidamente. Seu rosto estava vermelho e as veias sobressaíam na testa como se estivesse sob alta tensão diante do que estava por vir.
— Como você quiser. Podemos falar do presente, primeiro — respondeu Eskil.
—Metade da herança deixada pelo meu tio Algot pertence por justiça a Cecília. É isso que ela pode levar consigo — disse Päl Jõnsson, nervoso.
— De jeito nenhum! — reagiu Eskil, rápido. — Katarina foi minha mulher. Eu sei que ela entrou para o convento de Gudhem, quando o pai dela e de Cecília ainda vivia. Aconteceu no outono e foi na festa do Natal seguinte que Algot se embebedou, teve um ataque e morreu. Esse acontecido todos nós conhecemos. Paz à sua alma. Portanto, a totalidade da herança pertence a Cecília, todas as dez fazendas. Ela vai levar isso consigo.
— Mas a herança de Katarina não pertence ao convento de Gudhem? — disse Päl, hesitante.
— Não, porque quando ela entrou para o convento ainda não tinha recebido a herança e não recebera a herança porque o pai, Algot, ainda vivia — respondeu Eskil, sem hesitações. — E ainda, no que diz fespeito a Gudhem, eu próprio paguei do meu bolso pela entrada de Catarina na santificada irmandade mais do que era de esperar.
— Você exige que todos nós, da família Päl, saiamos daqui, das fazendas, desaparecendo para sempre? — disse Päl Jõnsson, cruzando as mãos. — Não será uma exigência muito cara para quem quer nos ter como amigos. Pense ainda que isso cabe a mim decidir, visto que sou o padrinho de Cecília. E que em tais condições como aquelas que você está propondo pode acontecer que eu decida que não haverá casamento!
Agora estava dito. Notava-se nos três irmãos, ao respirarem fundo, que isso era o que tinham discutido e combinado entre si na última semana.
Eskil não mexeu um músculo do rosto, mas esperou dolorosamente muito antes de falar qualquer coisa. E então disse com uma voz muito suave, amistosa e tranqüila.
— Se quebrar o acordo, ainda que seja um acordo antigo, você será considerado como seqüestrador da noiva e não chegará a viver até o pôr-do-sol, meu querido amigo — começou ele. — Não seria um bom começo para este casamento. Mas não sou grosseiro a esse ponto. Quero mesmo combinar tudo direito, da melhor maneira possível, sem derramamento de sangue. E na certeza de que, daqui para a frente, continuaremos a ser amigos como a união do meu irmão com Cecília Algotsdotter exige. Vamos dizer, então, que o presente de Cecília se limite às cinco fazendas cujas terras fazem fronteira com Arnäs e com o lago Vänern. Assim, vocês continuam com as outras cinco fazendas e como liberados do rei em Husaby. Será esta proposta mais adequada para os três irmãos?
Nenhum dos três tinha nada contra, e todos acenaram com a cabeça, concordando, sem nada dizer.
— Em contrapartida, por ter desistido das cinco fazendas, talvez eu exija um pouco mais de ouro. Digamos, doze marcos de ouro puro, além das cinco fazendas — continuou Eskil como se estivesse falando de qualquer coisa sem importância e querendo, na realidade, mais cerveja.
No entanto, não se tratava de pouca coisa aquilo que ele tinha mencionado como ajuste a acrescentar. Doze marcos de ouro era uma soma tão grande que não daria para pagar nem com todas as fazendas da família Päl. E nem mesmo se fosse uma família mais poderosa daria para arranjar uma importância assim, em ouro puro. Os três irmãos ficaram de olhos esbugalhados e incrédulos para Eskil como se não soubessem ao certo se era ele ou eles próprios que haviam perdido a razão.
— A minha cerveja terminou — disse Eskil, com um sorriso amigo, elevando para o alto o seu caneco vazio, ao mesmo tempo quePäl Jõnsson se concentrava de novo e se preparava para falar com palavras nada amigas.
Mas teve de esperar até que Eskil recebesse mais cerveja e Cecília teve tempo para pensar que aquela demora talvez tivesse salvo a língua de ser a assassina da cabeça.
— Bem, uma coisa devo talvez dizer, antes que você fale, meu amigo — intercedeu Eskil, justo no momento em que Päl Jõnsson abria a boca para falar. — Os doze marcos de ouro, vocês, irmãos, não precisam pagar. Serão pagos por Cecília, do próprio bolso.
De novo o pensamento de Päl Jõnsson parou, justo quando ia falar. E aquela raiva antes assumida, aquela raiva que poderia levá-lo a levantar a mão para Eskil ou a dizer coisas que, da mesma maneira, lhe iam custar uma infelicidade, transformou-se num gaguejo de admiração e espanto.
— Se Cecília, embora eu não entenda como, pode pagar essa enorme soma de doze marcos em ouro, então não compreendo a razão desta nossa conversa — disse ele, fazendo um esforço para continuar falando respeitosamente.
— E o que é que ainda não entendeu, meu querido amigo? — inquiriu Eskil, colocando o seu caneco de cerveja em cima do joelho.
— Em comparação com os folkeanos, a nossa família é muito pobre — disse Päl Jõnsson. — E se Cecília pode pagar doze marcos em ouro, que é o maior presente de casamento de que nós já ouvimos falar, não entendo como você quer exigir cinco dos nossos últimos burgos.
— É um bom negócio para nós, justo porque nós queremos aquelas terras ao longo do lago Vänern sob nosso domínio — respondeu Eskil, tranqüilo. — Também é um bom negócio para vocês, irmãos da família Päl, se pensarem bem. Vocês não vão ficar sem compensações. Depois deste casamento, você poderá portar espada onde quiser na Götaland Ocidental, visto que, como padrinho de Cecília, você fica ligado à família folkeana. Poderá trocar o seu manto verde pelo azul. Aquele que fizer mal a você ou aos seus irmãos, fará mal à família folkeana. Aquele que levantar a espada contra você, não viverá até três pores-de-sol. Você ficará ligado a nós pelo sangue e pela honra. Pense nisso!
Aquilo que Eskil disse era verdade e claro. Mas Päl e seus irmãos tinham estado tão obstinadamente ocupados em discutir os prejuízos financeiros, as cinco ou dez fazendas de herança e como teria sido muito melhor se Cecília entrasse para o convento de novo, que nem pensaram no significado de ficar sob a proteção da família folkeana. Suas vidas iriam mudar de um dia para o outro, por sobre uma noite de núpcias. E eles nem sequer pensaram nisso.
Um pouco envergonhados pela sua empáfia, Päl Jõnsson e seus irmãos aceitaram, então, todos os desejos de Eskil.
Cecília iria receber Forsvik como presente do noivo. E esse seria um burgo seu para toda a eternidade, para continuar por herança para os seus descendentes. Forsvik seria também o lugar onde ela iria morar com o seu Arn. Enquanto ela quiser manter o seu homem por lá, acrescentou Eskil, com uma olhadela de brincadeira na direção de Cecília que, imediatamente, abriu os olhos de espanto diante daquele adendo desnecessário, ao direito legal de todos os presentes de noivado.
Ficou decidido haver três dias de casamento, com a despedida de solteiro e de solteira, na primeira sexta-feira depois da festa de mid-sommar, no meio do verão, com a busca da noiva no sábado seguinte e purificação da noiva na missa, domingo, na igreja de Forshem.
Quatro homens, jovens, cavalgavam para a despedida de solteiro. Já de longe se via que eles não eram quaisquer uns. Seus cavalos vinham com uma roupagem de festa em tecido azul e três deles portavam vestes com as armas do leão folkeano por cima da malha de aço. E o quarto portava a veste com as armas das três coroas. Era um dia de verão em plena colheita do feno e, por isso, os mantos estavam enrolados atrás das selas. De resto, podia-se ver imediatamente que o quarto entre eles, o único erikiano, tinha um manto com forro de arminho. E como não era o rei, só podia ser seu filho Erik, o herdeiro.
Seus escudos, pendurados atrás, no lado esquerdo da sela, estavam pintados de novo, em cores brilhantes de amarelo-dourado e azul, à volta do leão e das coroas. Atrás deles, vinham quatro escudeiros reais e vários cavalos de carga.
Era uma imagem muito bonita, com todas as cores bem claras e os bem alimentados cavalos, mas também uma imagem que colocaria todos os camponeses das províncias de Gota mais do que pensativos. Isso porque se um agrupamento desses, por má fortuna, resolvesse parar no fim da tarde para passar a noite em qualquer lugar, eles não deixariam muita cerveja por beber, mas, antes, muito maior espaço vazio nas despensas. Tudo porque os erikianos e os folkeanos detinham todo o poder no reino e ninguém podia ir contra eles.
O mais novo entre os quatro era Torgils, que tinha dezessete anos de idade e era filho de Eskil Magnusson, de Arnäs. O mais velho era Magnus Mâneskõld, que, antes, era conhecido como filho de Birger Brosa, mas agora como seu irmão de criação e, legalmente, filho de Arn Magnusson. O quarto, que cavalgava ao lado de Erik, o conde, era Folke Jonsson, filho de Jon Lagman, o juiz da Götaland Oriental.
Os quatro eram grandes amigos e estavam quase sempre juntos na caça ou nos exercícios de armas. Diante desse casamento a realizar, já permaneciam juntos há dez dias, enquanto suas roupas de cavaleiros eram lavadas e recosturadas, e seus escudos, pintados de novo, no castelo do rei, em Näs. Haviam treinado todos os dias com as suas armas, visto que as competições a ocorrer não eram poucas, nem fáceis.
Para Magnus Mâneskõld não tinha sido muito fácil manter-se longe de Forsvik por tanto tempo. A primeira coisa em que pensou quando Birger Brosa voltou para Bjälbo depois da última reunião do conselho e furioso, quase por acaso, mencionou que esse tal de Arn Magnusson tinha regressado ao reino, foi jogar-se para cima do cavalo e partir para junto de seu pai.
Em breve, porém, mudou de pensamento, reconhecendo que Arn Magnusson não era um homem, certamente, a quem se pudesse procurar sem primeiro se vestir melhor e sem limpar todas as armas, fazendo-as brilhar.
Para si mesmo, reconheceu que não era sem um pouco de receio que ele estava se aproximando de Forsvik para cumprir a estranha ou, no mínimo, inusitada ordem de ser um dos jovens acompanhantes de seu pai na despedida de solteiro. Uma grande parte dos seus amigos brincou a respeito disso, que não eram muitos o que tinham o privilégio de beber junto com o seu próprio pai debaixo da mesa na barulhenta noite de despedida de solteiro. Ele não tinha gostado muito dessa brincadeira e mostrou isso para quem quisesse notar. Arn Magnusson de Arnäs não era um noivo qualquer. E a noiva não era aquela patinha choca, chorosa e cheia de medo, mas, sim, a sua própria mãe, uma mulher que sabia cavalgar e que todos respeitavam. Com esse casamento era muito mais a honra que se restabelecia do que os negócios que se fechavam. E não era nada para fazer piada.
Erik, o conde, objetou, dizendo que entre amigos muito próximos podia-se fazer piada à vontade, se ninguém de fora estivesse presente. Mas que, de qualquer forma, ele iria fazer no futuro como Magnus queria e evitar o assunto. Ele próprio era conde no reino e o de posição mais elevada entre os amigos, mas Magnus Mâneskõld era o mais velho, o melhor com as armas e, muitas vezes, tão inteligente como se fosse, realmente, filho de Birger Brosa.
Ao se aproximarem de Forsvik aumentou a expectativa diante do encontro com Arn Magnusson que todos conheciam por ouvir os rumores a seu respeito, mas que ninguém ainda havia encontrado pessoalmente.
Entre a gente de Forsvik, os primeiros que encontraram no caminho foram aqueles que faziam a colheita do feno, cortando a grama e juntando os molhos. Todos suspendiam o trabalho ao ver o brilho ofuscante dos viajantes e se aproximavam à sua passagem, ajoelhando-se e fazendo uma vênia, antes de o conde Erik lhes ordenar para voltar ao trabalho.
Num dos prados, num pedaço de terra arada à espera de cultivo, já bem próximo de Forsvik, eles tiveram um encontro mais divertido e surpreendente. Dois garotos treinavam cavalaria junto com dois adultos estrangeiros. Todos os quatro cavalgavam bem junto uns dos outros e a um comando de um dos cavaleiros mais velhos, de pele escura, todos se viravam, rápidos como um relâmpago, para a esquerda ou para a direita, ou paravam de repente, elevavam as montadas e rodavam no mesmo lugar, dirigindo-se no sentido contrário. Aumentavam a velocidade para, de repente, virar novamente. Era uma ação sensacional e uma maneira de cavalgar que nenhum dos quatro amigos conhecia. Os cavalos também eram bem estranhos. Eram menores do que os cavalos normais, e se moviam muito mais rápido.
Em breve, foram descobertos pelos quatro cavaleiros que treinavam e um dos estrangeiros logo puxou por uma espada bem estreita e gritou qualquer coisa para o outro que também empunhou a sua espada, ao mesmo tempo que fazia sinal para os dois garotos para se recolherem de imediato para dentro do burgo. A seguir, houve uma grande confusão, parecendo que os estrangeiros se preparavam para atacar e os dois garotos protestavam e discutiam, sem poderem realmente se entender.
Erik, o conde, e seus amigos, assim como os escudeiros, ficaram quietos, com as mãos nos punhos de suas espadas. Era uma cena espantosa, caso estivessem vendo certo. Dois homens pareciam estar apostos e prontos para atacar oito homens.
Antes de terem tempo para decidir o que fazer diante dessa inesPerada sessão de boas-vindas, um dos garotos do outro lado do campo com o seu cavalo em alta velocidade, tão alta, tão fantástica, que era difícil acreditar no que os olhos estavam vendo. Em poucos momentos, chegou na frente, parou de repente e fez uma vênia.
— Desculpe, conde Erik, por nossos professores estrangeiros os terem tomado como inimigos — disse, arfando. — Eu sou Sune Folkesson e estou aprendendo aqui em Forsvik com o senhor Arn. O meu irmão lá longe é Sigfrid Erlingsson.
— Eu sei quem você é. Conheci seu pai quando eu era da sua idade — respondeu o conde Erik. — Como foi você quem veio ao nosso encontro, peço que nos conduza ao seu senhor.
O jovem Sune aceitou entusiasmado a incumbência e virou seu cavalo com um único salto extraordinário, passando a um trote contido na frente do grupo, enquanto fazia sinal para Sigfrid e para os dois estrangeiros de que não havia nenhum perigo. Os dois estrangeiros fizeram uma vênia e viraram seus cavalos na direção de Forsvik.
Batidas de martelo e de golpes de machado soavam, junto com o tilintar das batidas na ferraria, quando os quatro poderosos jovens se aproximavam da ponte sobre a corrente de água. Com eles, os escudeiros, os dois garotos e os cavaleiros estrangeiros. Viram escravos e trabalhadores puxando madeira, embora estivessem no meio do verão. Também carregavam tijolos e pedras e suportes pesados com argamassa para muros, por todos os lados. Era como se não tivessem tempo para sequer olhar para os visitantes.
Cavalgaram pela praça do burgo no meio das casas, sem que ninguém viesse ao seu encontro e continuaram para o outro lado onde estavam sendo construídas duas novas casas-grandes e duas menores e onde os moradores de Forsvik que não estavam lá fora na colheita do feno se encontravam reunidos, trabalhando.
Junto da nova casa-grande e da sua cumeeira erguiam-se ainda os andaimes da construção e, lá em cima, no centro do telhado, eram colocadas no lugar as derradeiras pedras da cúpula. E foi então, pela primeira vez, quando os quatro visitantes rondaram a cumeeira, que provocaram o alvoroço previsto por eles para muito antes.
Um homem, lá do alto, em roupas de couro bem sujas, desceu pelos andaimes, balançando de um lado para outro, em dois longos lances e todos abriram alas para ele. Avançando, ele veio secando o suor da testa e jogou para o lado a colher de pedreiro, enquanto olhava, seriamente, de um para outro dos visitantes. Quando o seu olhar caiu em Magnus Mâneskõld, acenou com a cabeça como que confirmando, avançou direto e estendeu a sua mão. Todo mundo ficou em silêncio, ninguém se mexia.
Houve uma reviravolta na cabeça de Magnus Mâneskõld, quando viu aquela mão de guerreiro, suja de argamassa, estendida na sua direção e, quase com medo, desviou o olhar para o rosto do homem, cheio de cicatrizes. Seus amigos continuavam em silêncio, tão espantados quanto ele.
— Se o seu pai lhe estende a mão, acho que você deve apertá-la — disse Arn, com um largo sorriso nos lábios, ao mesmo tempo que, mais uma vez, enxugava o suor da testa.
Magnus Mâneskõld desceu, imediatamente, do cavalo, apertou a mão do pai, abaixou um dos joelhos para o chão e, depois, hesitou um pouco, antes de se levantar e abraçá-lo, apesar da roupa suja do trabalho.
Os amigos também desceram logo dos seus cavalos, estendendo as rédeas para a gente da casa que agora parecia acordar da sua paralisia, correndo para todos os lados. Um atrás do outro, os quatro jovens saudaram com todo o respeito aquele Arn Magnusson que não se parecia com nenhuma das imagens que eles haviam registrado em si e de que haviam falado uns para os outros.
Depois, todos fizeram imediatamente o que era preciso fazer, embora sob grande confusão. Os cavalos dos convidados foram levados para a cavalariça, trouxeram cerveja e vinho, pão e sal, antes que Arn e os quatro rapazes entrassem na sala da antiga casa-grande e se sentassem para mais comida.
— Eu não esperava por vocês antes de amanhã — explicou Arn, com um gesto na direção da sua roupa de trabalho toda suja. — Veio a informação de Näs, de que vocês quatro são os que me levarão para a despedida de solteiro e por esse privilégio eu agradeço muito.
— É uma honra para nós acompanhar Arn Magnusson na sua festa de despedida de solteiro — respondeu Erik, o conde, com uma curta vênia, embora com uma expressão no rosto que não coadunava em nada com aquilo que havia acabado de dizer. Depois disso, o silêncio.
— Vocês chegaram a uma construção que não serve muito para receber convidados — disse Arn, momentos depois, passando o seu olhar de um para outro dos quatro jovens. Não tinha dificuldade nenhuma em perceber o seu silencioso desapontamento. — Por isso, a minha sugestão é a de que a gente parta imediatamente, descanse em Askeberga e chegue cedo, amanhã de manhã, a Arnäs — continuou ele, esperando curioso suas expressões de espanto.
— O senhor não precisa viajar logo, meu pai — reagiu Magnus, taciturno. — Para a festa, fica mal chegar de roupas de escravo e com argamassa no cabelo.
— É isso mesmo que eu penso — respondeu Arn, como se não tivesse notado ter recebido uma reprimenda do seu próprio filho. — Portanto, estava pensando que vocês poderiam se entreter por agora com a comida que Forsvik lhes pode oferecer, enquanto eu mudo de aparência!
Arn levantou-se sem mais comentários, fez uma pequena vênia para os seus hóspedes e saiu rápido, deixando-os num longo e paralisante silêncio. O desapontamento estava patente nos seus rostos e era impossível não notar isso.
Arn estava com pressa quando saiu da casa-grande. Estava certo de que, quanto mais rápido eles subissem nas suas montadas e saíssem de Forsvik, melhor seria. Reuniu todos os seus trabalhadores e falou sobre o que esperava que estivesse pronto quando ele e a sua esposa chegassem dali a quase uma semana. Depois, deu ordens a Sigfrid e Sune para aprontarem o seu cavalo Ibn Anaza, colocando uma cobertura sobre ele como nos cavalos dos quatro visitantes. Sune objetou um pouco transtornado que em Forsvik não havia cobertura folkeana para cavalo. E Arn entrou, então, em uma das novas casas, indo buscar uma cobertura branca que ele jogou para os dois rapazes. A seguir, deu ordens para que fosse servida cerveja para os escudeiros dos visitantes e mandou chamar o sarraceno que era mais competente com a navalha de barba e pediu água quente para o banheiro.
Dentro da casa-grande, ofereceram a Erik, o conde, e seus amigos, carne defumada, pão e cerveja, mas todos evitaram beber o vinho que também lhes foi oferecido.
O bom humor deles durante a viagem para Forsvik tinha desaparecido, mas achavam difícil falar disso, visto que não queriam causar mais problemas para Magnus Mâneskõld. Encontrar o seu pai com a colher de pedreiro na mão era uma coisa que não invejavam dele.
— Forte e ágil é o seu pai, como qualquer um de nós. Vocês viram como ele desceu da cumeeira apenas em dois lances? — disse Torgils Eskilsson como consolo.
— Muitas devem ter sido as batalhas em que ele entrou, a julgar pelas cicatrizes que tem nas mãos e no rosto — completou Folke Jonsson.
Magnus Mâneskõld, primeiro, não deu nenhuma resposta, apenas olhou para a sua cerveja e suspirou, como se não se atrevesse mais a encarar os seus amigos. Depois, murmurou qualquer coisa a respeito de não ser tão surpreendente que, depois de terem perdido a Terra Santa, eles tenham recebido muitos golpes antes de tudo terminar. Seu desapontamento se espalhou como o frio para os outros.
— No entanto, foi ele que uma vez enfrentou Emund Ulvbane em duelo na assembléia de todos os gotas e o poupou, mas lhe cortou a mão — tentou mais uma vez Torgils, como consolo.
— Naquela época, ele era um jovem como nós e não foi uma colher de pedreiro que tinha na mão — murmurou novamente Magnus.
Isso fez com que os amigos evitassem conversar mais sobre Arn Magnusson e, cada vez mais nervosos, comentaram que a carne defumada estava inusitadamente saborosa e que o tempo estava bom para viajar. A chuva exigiria outras roupas para aqueles que quisessem passar a festa a seco. A conversa foi ficando cada vez mais difícil.
Menos de uma hora se passou, porém, antes de aparecer um novo Arn Magnusson, entrando pela porta. Seu rosto estava rosado pela água quente, seus cabelos louros que eram um emaranhado cinza de argamassa e terra estavam agora lisos, limpos e brilhantes, puxados para trás e sobre os ombros. Seu rosto também estava aparado, sem barba, e as cicatrizes brancas luziam, mais claras do que antes. No entanto, não foi isso que mudara mais em Arn.
A sua malha de aço que era de uma espécie estranha brilhava como se fosse de prata e estava justa ao corpo, tão justa que mais parecia tecido. Nos pés, uma espécie de sapatos de aço que nenhum dos quatro rapazes tinha visto antes, e nos calcanhares, esporas de ouro. Ele trazia a veste com as armas folkeanas por cima da malha de aço e do lado trazia uma espada longa e estreita enfiada numa bainha preta, com uma cruz aplicada em ouro. E de uma corrente presa ao seu ombro esquerdo pendia um elmo, brilhando.
— Os cavalos já foram trazidos para fora — disse ele, fazendo sinal com o braço para que se levantassem e o seguissem.
Lá fora estavam os escravos da casa segurando cinco cavalos. Os escudeiros já tinham montado e esperavam um pouco afastados.
Arn deixou para trás os seus seguidores e dirigiu-se direto para um cavalo negro, com crina prateada, montando de um salto, ao mesmo tempo que o cavalo se virava e avançava num pequeno trote. Parecia que tudo tinha sido feito em um único movimento.
Justo à saída da praça, Arn fez o seu animal levantar-se e voltear sobre as patas traseiras e, ao mesmo tempo, puxou pela sua espada reluzente e gritou qualquer coisa para o interior do burgo numa língua estranha. Em resposta, recebeu uma salva entusiástica de gritos e de regozijo, por parte dos estrangeiros.
— Aquele que julga cedo demais julga a si mesmo — disse Torgils, dirigindo-se a Magnus, que agora, como os outros, ficou com pressa em montar e correr ao encalço de Arn.
Na seqüência do que acabava de ver, Magnus ficou tão desorientado quanto antes, quando viu o seu pai pela primeira vez. Aquele que cavalgava à sua frente não era o mesmo homem que tinha visto com a colher de pedreiro na mão.
Os quatro aceleraram seus cavalos para ficar ao lado de Arn e era assim, como irmãos, que eles deviam atravessar o país. E logo viram que o tecido branco que cobria o seu animal e que pensavam não ter qualquer marca de armas trazia duas cruzes vermelhas, uma de cada lado do corpo negro do cavalo, a mesma marca que existia no seu escudo branco. Eles sabiam o que isso significava, embora nenhum deles tivesse visto antes um templário de verdade.
Todos foram cavalgando, durante bastante tempo, em completo silêncio, cada um com os seus próprios pensamentos. E Arn não deu o mínimo sinal de iniciar qualquer conversa para ajudá-los a tirar dessa dificuldade. Achava ter uma boa idéia do que as suas expressões tinham significado quando o viram a trabalhar como um escravo, como certamente devem ter falado na sua linguagem de jovens. Ele próprio era muito jovem quando acabou entrando para o mosteiro de Varnhem e não teve tempo de crescer com esse tipo de orgulho e pretensão. No entanto, para ele, era difícil se acostumar com a idéia de que poderia ter se tornado como esses jovens, caso tivesse crescido fora dos muros do mosteiro, junto com Eskil.
Havia gente na Igreja que se comportava da mesma maneira, assim como toda aquela gente da corte francesa em Jerusalém ou os homens ricos e poderosos em Damasco ou Trípoli ou Alexandria. Por toda parte, existia esse desprezo por parte dos mais felizes e favorecidos pelo trabalho, aquele que empurrava o mundo para a frente e que era a base para toda riqueza. Por que razão Deus formava as pessoas dessa maneira era impossível entender. Mas assim acontecia. E ele achava que nada podia ser feito para mudar as coisas. No entanto, ele próprio jamais pensaria em ver diferença entre uma colher de pedreiro e uma espada, visto que, aos olhos de Deus, devia ser a mesma coisa.
Justo quando ele pensou na palavra espada, Magnus, seu filho, se aproximou um pouco mais, ficou ao seu lado, e perguntou timidamente a respeito da longa e reluzente espada que todos tinham visto quando ele se despediu do povo do seu burgo.
— Dê-me a sua espada e pegue a minha, que explico a diferença " disse Arn, puxando pela sua espada com um movimento rápido como um relâmpago e silencioso, estendendo-a para Magnus, pegando nela pela folha com a sua luva de ferro, bem junto da cruzeta.
— Mas, atenção, cuidado com o fio que está muito afiado! — avisou ele, quando viu Magnus estendendo a sua mão nua para pegar na espada.
Quando recebeu de volta a espada nórdica, Arn balançou-a várias vezes como que a ensaiar e acenou a cabeça sorrindo para si mesmo.
— Vocês continuam a fazer espadas de ferro, fundindo e dobrando até ganhar forma — disse ele, quase que só para si mesmo, antes de começar a explicação.
A espada de Magnus era muito bonita, reconheceu ele, logo. Balançava bem na mão, também. Mas era curta demais para utilizar em cima do cavalo, continuou ele, exemplificando com um balanço de cima para baixo, inclinado. Além disso, o ferro era fraco demais para fender as malhas de aço dos novos tempos e ainda corria o risco fácil de ficar preso no escudo do inimigo. O fio, já de início, era rom-budo demais e depois de alguns golpes contra espadas inimigas ou escudos inimigos não serviria para cortar mais nada. Portanto, o problema era vencer rápido, para voltar para casa e afiar novamente a espada, brincou Arn, explicando.
Magnus simulou um golpe na sua frente, hesitando, com a espada de seu pai, e correu o dedo pelo fio, cuidadosamente, para sentir como estava afiado. Recolheu imediatamente a mão, sentindo logo que tinha se cortado. Ao devolver a espada, seu olhar bateu numa longa inscrição em ouro, para ele impossível de ler, e perguntou pelo significado ou se era apenas um ornamento ou alguma coisa que tornava a espada ainda melhor.
— Ambas as coisas — respondeu Arn. — É uma saudação de um amigo e uma bênção. E um dia, mas não hoje, contarei a você o que está escrito.
O sol estava a caminho de atingir o seu ponto mais alto e Arn surpreendeu seus acompanhantes ao se estender para trás da sela para desatar o seu manto, que depois jogou sobre os ombros. Os outros olharam-se surpresos e Arn, então, disse para eles que, se era do calor que eles queriam se defender, era melhor fazer como ele. Todos fizeram o mesmo, salvo Erik, o conde, que, como tinha um manto com forro de arminho, achou que o calor já era bastante sem a pele por cima dos ombros. E, então, aconteceu que ele foi o que mais suava quando chegaram ao lugar de descanso em Askeberga, no fim da tarde.
No dia em que haveria a festa de despedida de solteira em Husaby, o burgo real se transformou num acampamento de exército. Pelo menos, foi essa a conclusão a que chegou Cecília e que a fazia cada vez mais mal-humorada por ouvir em toda parte os cascos dos cavalos, o tilintar das armas e as palavras rudes dos homens. De Arnäs, mandaram doze escudeiros e das vilas sob o controle de Arnäs foram mandados outros tantos. Um círculo de barracas cresceu à volta de Husaby e havia grupos de cavaleiros fazendo varredura das florestas de carvalhos em volta e ainda outros eram mandados em várias direções para espionar eventuais movimentos. Nada podia acontecer à noiva até que ela se acolhesse na cama com o então já seu marido.
Durante a semana do midsommarzm que Cecília foi visitante no seu próprio burgo, ela permaneceu mais tempo na sala de costura e tecelagem com a velha Suom. A amizade que nasceu em pouco tempo não era normal entre escrava e jovem senhora. Suom fazia milagres na sua tecedeira, onde conseguia formar o sol e a lua, imagens da Nossa Senhora, a Virgem vitoriosa, e igrejas que pareciam sustentar-se em perspectivas, algumas por perto e outras, longe. De Riseberga, Cecília trouxe consigo as cores que ela produziu durante muitos anos, assim como fios de linho e lã. Suom dizia que nunca tinha visto cores tão bonitas e tudo o que ela fizera na vida teria ficado melhor se tivesse de posse daquele saber como fazer. Cecília falava para Suom a respeito da origem das cores e de como elas deviam ser cozidas e misturadas. E Suom mostrava com as mãos como tecer figuras no meio dos tecidos.
Como tinham tido tanto para mostrar uma à outra, o que consideravam maravilhoso, acabaram começando tarde o que era mais importante, a tecer o manto do casamento. Na hora de ir buscar a noiva para a sagração do casamento até a festa mesmo, a noiva devia estar vestida com as cores da sua própria família, antes de então a questão ficar por sua conta. Cecília estava certa de que queria o manto azul, já que, nesse momento, seria a esposa de Arn e ainda que, pela sua escolha, ela parecesse desprezar as cores da sua família. Mas ela tinha recordações muito fortes dessa cor azul dos tempos no convento de Gudhem. Foi lá que ela e a rainha Blanka viveram sós entre todas as filhas sverkerianas que punham um fio de lã vermelha à volta do braço como sinal da sua fé interior e do ódio às inimigas Cecília Rosa e Cecília Blanka. Ela e a melhor amiga passaram a afrontar esse sinal, colocando um fio de lã azul à volta do braço. Na hora em que o rei e o conde vieram buscar, finalmente, Cecília Blanka e fazer dela uma rainha, o conde Birger Brosa fez uma coisa que até naquele dia ainda ajudava a aquecer a sua memória.
Ela foi chamada para comparecer à hospedaria do convento e era lá que também se encontrava a maldita madre Rikissa, que, com ódio, retirou dela o xale azul. Cecília quase caiu no choro pela vergonha e pela sua própria impotência. Mas foi então que o conde se levantou da mesa e avançou na sua direção, colocando o seu próprio manto azul folkeano nos ombros dela, o que representava uma proteção que ninguém podia deixar de ter em conta. Desde esse dia, ela sempre se sentiu azul e não verde, que era a cor da família Päl.
Suom ouviu com razoável interesse essa sentida explanação e quando Cecília notou a impaciência dela já no final da história, Suom explicou que nunca foi muito do seu interesse essas coisas ligadas a conventos e a Cristo, já que a sua fé era outra.
Cecília como que ficou trespassada ao ouvir que aquela boa mulher não era cristã. Uma coisa assim era quase impossível de entender e ficou sem saber ao certo se devia lamentar por Suom ou excomungá-la.
Suom encolheu os ombros e disse em poucas palavras que a fé dos escravos, normalmente, era outra que não a das gentes, mas que isso não perturbava ninguém e que era bom que cada um estivesse satisfeito com a sua crença. Evidentemente, havia escravos que se deixavam batizar, mas era mais para enganar os donos. De qualquer maneira, quando ninguém estava vendo, eles voltavam a crer na sua própria fé.
A idéia de Cecília de salvar Suom, de quem ela já tanto gostava, do ateísmo, arrefeceu rápido, visto que Suom logo deixou claro que ela não queria a piedade ou ser salva por ninguém.
Abandonaram, então, a conversa, concordando tacitamente em não discutir o assunto de novo, jogando com todo o entusiasmo renovado no trabalho de costurar o manto da noiva. Suom teceu as armas da família Päl bem no meio das costas, um escudo negro com um símbolo heráldico, cinza-prateado, de modo que ele sobressaísse, com vida própria, embora não estivesse solto, mas bem tecido, fazendo parte do manto. Cecília conseguiu, depois de muitos ensaios, uma cor verde profunda, bruxuleante, com a qual ambas estavam muito satisfeitas. O manto, finalmente, ficou pronto a tempo.
Mais tarde, já noite, na hora em que a festa de despedida de solteira iria começar, chegou o momento de Suom e Cecília se separarem. Suom começou a guardar os tecidos e os instrumentos de trabalho que tinha trazido consigo numa trouxa e ia seguir sozinha naquela noite de verão, de volta para Arnäs, dado que já tinha feito o seu trabalho. Mas, como Cecília não queria se separar dela, pediu que Suom lhe contasse como era a sua vida em Arnäs, se era boa ou podia ficar melhor e se o seu bonito trabalho recebia o apreço que merecia.
Suom falou, contrariada, que, sem dúvida, tinha sido melhor antes, quando ela era jovem, em especial no tempo em que a senhora Sigrid, a mãe de Arn e Eskil, ainda vivia. A senhora Sigrid passava muito tempo com Suom na tecelagem em Arnäs e quase todas as paredes do burgo eram ornamentadas com tecidos e tapeçarias de Suom. Foram retirados quando a esposa de Eskil chegou a Arnäs e estavam guardados agora em algum lugar num depósito.
Suom conteve-se no último momento para não falar mal da mulher de Eskil, ao lembrar que ela era Katarina, a irmã de Cecília. Mas esta já tinha entendido tudo. E num impulso perguntou-lhe se ela gostaria de se mudar para Forsvik, a fim de que pudessem continuar a costurar e a tecer juntas. Mas, então, a velhinha riu alto, achando que ela nem sequer podia decidir se estaria à venda.
Cecília corou, achando ter sido indelicada com a pergunta. Tinha esquecido que Suom não fora libertada. E não sabia se ia tornar as coisas piores, prometendo indagar sobre a compra de Suom junto do dono, se Arn, Eskil ou o pai deles.
As duas se despediram, entretanto, com muito carinho e Cecília teve tempo ainda para lhe desejar a paz do Senhor na viagem para Arnäs.
Ao se separarem, Cecília ainda ficou na sala da costura, sozinha e pensativa, remoendo as idéias a respeito do que era ser escrava ou ser livre. Ela tinha vivido quase toda a sua vida de adulta no convento e não entendia bem dessas coisas como seus parentes em Husaby, que tratavam os escravos como se fossem animais, sem entendimento ou vontade, sem por isso parecerem especialmente rancorosos.
Aquele que era escravo podia ser comprado, isso, evidentemente, era verdade. Mas aquele que tivesse um escravo podia também lhe dar a liberdade. O que era preciso fazer primeiro era comprar Suom, por muito estranha que essa idéia parecesse. Talvez desse para receber Suom como um presente extra para a noiva, levá-la para Forsvik e, então, dar-lhe a liberdade. E ela também receberia pelo seu trabalho, que devia valer bastante.
Embora parecesse sensato e rigorosamente certo pensar dessa maneira, no entanto, era um pensamento repugnante desejar uma outra pessoa como presente, tal como se fosse um manto ou uma fita bonita e nova para a cabeça.
Fita para a cabeça, pensou ela. No dia seguinte, esse tempo já teria passado. Cecília, desde o fim da sua penitência, vivia com os seus longos cabelos ruivos, soltos, presos apenas com uma fita que as mulheres solteiras tinham o direito de usar. Mas ela tinha dificuldade em imaginar como em breve passaria a usar a touca de mulher casada.
O problema não era grande e, além disso, achava que o seu futuro marido não iria fazer questão de ver essa obrigação cumprida, tendo que andar de um lado para outro, permanentemente, com uma espécie de touca de dormir na cabeça.
Levantou-se, resoluta, colocou nos ombros o mais bonito de todos os mantos da família Päl, e avançou na direção da casa-grande onde se reuniam seus parentes para a curta rodada de cerveja da noite que deveria marcar o início da festa de despedida de solteira. Quando ela apareceu, o rosto dos três irmãos se iluminou com uma expressão de alegria verdadeira, assim que viram o manto usado por ela. Admiraram o manto e todos queriam sentir o tecido, virá-lo para a frente e para trás, para ver a sua luminosidade. Pareciam também aliviados por não terem passado pela vergonha de ela, em vez de honrar as cores da sua própria família nesse grande casamento, tivesse costurado para si um manto azul.
Päl Jõnsson ofereceu a ela um pequeno caneco com cerveja e bebeu com ela, em primeiro lugar, fazendo um brinde. Depois, o brinde foi com o seu irmão mais novo, Algot. O outro, o mais novo de todos, Sture, que ainda estava solteiro, já tinha viajado para Arnäs para participar da festa de despedida de solteiro como o único solteiro da família Päl. Todos levantaram seus canecos até pelo jovem Sture, pois, como Päl disse, não devia ser muito simples estar na festa como único participante da sua família entre folkeanos e erikianos.
Depois, começaram os arranjos para a festa de despedida de solteira. Seis solteiras da família Päl entraram na sala e cumprimentaram Cecília, que não conhecia nenhuma delas, visto que eram muito jovens. O padre da igreja de Husaby abençoou as sete solteiras e, então, as escravas da casa entraram e deram a cada uma delas uma longa túnica branca e uma coroa de florzinhas para colocar na cabeça.
Cecília tinha apenas uma vaga idéia do que seria a festa de despedida de solteira e não sabia mesmo como devia se comportar, quando as jovens que não conhecia se alinharam, cada uma com uma túnica branca nos braços e, em cima da túnica, uma coroa feita de um raminho de mirtilo. Cecília achava que a única coisa que podia fazer era fingir que nada lhe era estranho e apenas seguir as outras que, no momento, começaram a andar na direção dos portões e da noite de verão.
Do lado de fora, estava uma fila de escudeiros em que cada terceiro homem tinha na mão uma pequena tocha para manter os maus espíritos ou as almas perdidas longe das jovens solteiras, logo quando elas apareceram e que era o momento mais perigoso diante das forças da escuridão.
Cecília era a última na procissão que, em seguida, lentamente, se dirigiu para a floresta de carvalhos e do córrego que existia um pouco mais além, onde o balneário surgia iluminado por candeias e tochas.
Justo no momento em que deixavam o burgo e davam os primeiros passos na floresta de carvalhos, as outras jovens solteiras começaram a cantar uma canção que Cecília nunca tinha ouvido antes, embora já tivesse ouvido milhares de canções. Ela não conseguia entender todas as palavras, algumas muito arcaicas, mas percebeu que se tratava de uma canção dedicada a uma deusa dos tempos pagãos. Mas Cecília não acreditava em assaltos na floresta e duendes, não tanto quanto em escudeiros inquietos e armados.
Tal como a tradição exigia, as sete jovens iriam até a casa de banhos na hora mais escura da noite de verão. Mas, na semana seguinte ao midsommar em que estavam, a noite não era muito escura naquelas latitudes. No entanto, elas ficaram meio cegas ao encarar a luz das tochas que ardiam em volta da casa de banhos. Do lado de fora, havia duas bancadas onde as acompanhantes de Cecília, sob risi-nhos e risadas, começaram a botar em linha as suas roupas do corpo, de modo que logo ficaram completamente nuas. Até mesmo as suas fitas elas retiraram da cabeça e arrumaram os cabelos deixando-os cair longos sobre os ombros e os peitos.
Cecília hesitou e corou, embora pouco se visse no meio da escuridão. Ela nunca havia se mostrado nua para ninguém. Não sabia o que fazer.
As outras jovens solteiras, de brincadeira, comportaram-se como se estivessem tremendo de frio e pediram a ela para se apressar, a fim de entrar para o calor. Cecília, então, se lembrou de que, pensando bem, uma vez ela se mostrou nua para alguém, mas já tinha sido há muito tempo. Uma única pessoa, Arn Magnusson. E se havia se mostrado nua para um homem, ainda que tivesse sido para aquele que ela amava, mais fácil seria se mostrar nua diante de mulheres. Botou isso na cabeça e meio desajeitada, timidamente, retirou as suas roupas e as colocou sobre a bancada de madeira.
Enfim, todas então se formaram em linha com as mãos cruzadas por cima dos peitos, à volta da casa de banhos, cantando mais uma canção pagã que Cecília nunca tinha ouvido, não conhecia o texto nem a melodia. Depois, a jovem que ia na frente abriu a porta da casa de banhos e todas entraram aos gritinhos e risadinhas no interior do vapor.
Dentro, havia grandes tinas de madeira, com água quente e água fria e baldes para temperar de um lado para outro. Depois das primeiras provas com o pezinho nu, verificou-se que era preciso jogar água fria na tina de água quente que era bastante grande para acomodar no mínimo dois bois abatidos. Algumas das jovens se encarregaram de jogar água de um lado para outro, ainda sob mais risinhos e risadas.
Quando uma delas, corajosamente, resolveu entrar na banheira e depois rapidamente se sentou, fazendo sinal de que a água estava boa, as outras seguiram o exemplo, entraram e se sentaram em círculo, juntando as mãos umas das outras e voltaram a cantar novas canções pagãs, algumas com um conteúdo tal que Cecília chegou a sentir que corava ainda mais, por baixo das suas faces já coradas. As canções eram grosseiras e tratavam do que era proibido antes da noite de núpcias e depois dela mais do que permitido, embora muitos dos versos destacassem que o mais saboroso ainda era o fruto proibido.
Cecília pensou que se ela estivesse ali, dentro de uma grande sopa de galinha, não haveria, certamente, nada a fazer e, além disso, não adiantaria ficar de mau humor. Era um pensamento de consolação, em breve, já estava se sentindo estranhamente bem-disposta e depois quente como se estivesse com febre, como se a magia que vinha das canções, a estivesse influenciando.
E elas ficaram ali até que a água começou a esfriar demais e já estava clareando lá fora e as pequenas tochas se apagando. Foi então que elas ficaram com pressa de fazer a última coisa antes de terem o direito de começar a beber. Todas correram em direção ao córrego e mergulharam na água gelada, com muitos gritos, voltando então para dentro, de novo, da casa de banhos que, na hora, ainda estava maravilhosamente quente. A seguir, acenderam mais algumas tochas e se lavaram umas às outras, em todas as partes do corpo, mesmo as partes mais íntimas.
Depois da lavagem geral, elas se enxugaram rápido com grandes toalhas de linho e foram ligeiras para junto dos seus montinhos de roupa. Colocaram, então, no corpo as vestes brancas que trouxeram da casa grande e na cabeça puseram as coroas de flores, não sem antes alisarem os cabelos molhados. Uma fila de canecos de cerveja já estava preparada atrás da casa de banhos e, junto, havia uma barrica do precioso líquido. E logo as jovens começaram a beber que nem homens, imitando-os também, andando de pernas abertas e vacilantes, com os pés descalços pelo chão de madeira. E Cecília desejou ter feito travessuras com sua amiga Blanka, arrotando e peidando como um homem.
Elas eram obrigadas a esvaziar a barrica de cerveja antes de voltar, caso contrário, explicou umas das jovens parentes de Cecília que se chamava Ulrika, isso significaria falta de sorte para a noiva. Mas isso também não era de recear, visto que aquela era a noite em que as jovens solteiras podiam se embebedar à vontade.
A cerveja era servida quente e adocicada com mel para que fosse mais ao gosto das mulheres, de forma que dali a pouco elas já estavam bebendo mesmo como os homens, começando a falar cada vez mais alto.
Foi então que a grande timidez desapareceu entre Cecília e as suas parentes mais jovens, embora ninguém desse a perceber. Uma delas disse a Cecília que não devia pensar que qualquer delas estivesse achando mal por ela ser uma solteira já de idade, antes de festejar o seu casamento. Uma outra disse ainda que quem esperava por algo de bom não esperava em vão.
Ainda que essas palavras fossem uma espécie de consolo, Cecília» de repente, sentiu de novo a sua timidez aflorar. Todas as jovens eram tão mais bonitas do que ela e seus peitos era bem mais firmes e suas ancas, mais arredondadas e macias, enquanto que Cecília, naquela noite, tinha apalpado o seu corpo mais do que nunca, sabendo que o seu peito estava meio caído e que seu corpo estava magro e anguloso.
Assim que as outras perceberam, de imediato, a preocupação nos olhos de Cecília, uma das parentes, Katarina, se encheu de coragem e disse o que todas certamente pensavam. Para elas, esse era um grande dia. Cecília tinha mostrado que uma mulher também podia decidir muito por si, tanto que podia até recusar-se a voltar para o convento, contrariando seus parentes, mesmo que o poder estivesse em jogo, preferindo afrontar todos e casar-se com o seu amado e não com aquele que seus pais haviam apontado.
Contudo, alguém objetou, zangada, dizendo que não importava nada com quem a mulher se casasse, desde que a mulher honrasse a sua família. Depois disso, houve uma discussão acesa que terminou com aquela que se chamava Katarina e uma outra chamada Brigida jogando cerveja uma na outra, até que Katarina pegou a barrica de cerveja e despejou tudo em cima dos cabelos de Brígida.
De novo, voltaram os risos e a discussão terminou. Quem ainda tinha cerveja no caneco bebeu e Katarina sugeriu que pedissem mais uma barrica cheia, antes de voltarem para a festa na casa-grande.
No entanto, assim que a primeira barrica acabou de vez, elas pegaram os seus mantos sobre os ombros e as túnicas brancas, reuniram suas roupas e sapatos e voltaram para a casa-grande. Já era dia claro, havia uma grande quantidade de pássaros cantando e prometendo um dia muito bonito para aquele casamento.
Para contentamento profundo de Cecília, todas as jovens começaram então a cantar o Kyrie Eleison e, pela primeira vez, ela pôde acompanhar com a sua própria voz a canção. E a sua voz subia mais clara e mais alta do que as de todas as outras. Talvez os peitos e as ancas dessas jovens fossem mais bonitos do que os da noiva, mas cantar ela cantava melhor do que ninguém.
Foram 10 libras de mel, 13 suínos salgados e 26 frescos, 24 presuntos defumados de javali e outras tantas alcatras, 10 cordeiros salgados e 24 frescos, 16 bois frescos e 4 salgados, 14 barricas de manteiga, 360 queijos grandes e 210 pequenos, 420 frangos, 180 patos, 4 libras de pimenta e cuminho, 5 libras de sal, 8 barricas de arenque, 200 salmões e 150 bacalhaus da Noruega e, além disso, aveia, trigo, centeio e farinha de milho, malte, murta, sementes de zimbro em quantidades adequadas.
Eskil trabalhava duro na contagem dos carros que faziam fila para entrar em Arnäs, quando Arn chegou com seus acompanhantes solteiros e entrou na fortaleza, meio dia antes do previsto. No dia seguinte, mais de duzentos convidados iriam encher Arnäs, mas já para a despedida de solteiro eram esperados mais de cem, visto serem muitos os que aguardavam os torneios que faziam parte da festa e que, desta vez, prometiam ser extraordinários. Não era qualquer solteiro que podia participar.
Mas, por enquanto, nenhum dos convidados tinha chegado e Arnäs estava praticamente vazia, não contando, claro, com os criados da casa, que corriam, apressados, de um lado para outro, cumprindo seus afazeres. A aldeia de Arnäs ficou vazia de gente e foi limpa até nos menores recantos para receber os convidados superiores que não podiam dormir em barracas. Arranjos de plantas com freixos foram levantados no campo do outro lado da vala, abaixo do portão ocidental. Mesas e bancos foram colocados na área. Barricas de cerveja rolaram pela praça do burgo, braçadas de ramos de bétulas e de freixo entravam e eram descarregados para ornamentar as paredes na grande sala, foram buscar mesas de perto e de longe, estacas e lonas foram levantadas e esticadas para formar as barracas. Nesse trabalho, Arn e seus acompanhantes solteiros nada tinham a ver e quando deixaram seus cavalos com o pessoal das cavalariças, Erik, o conde, decidiu ir dormir para descansar e enfrentar as provas duras da noite e o mesmo achou Folke Jonsson. Aquele que chegasse mais cedo, além do mais, podia escolher entre os melhores lugares para dormir.
Arn achava que o tempo podia ser usado melhor do que para dormir, mas falou baixo. Em contrapartida, pegou o seu filho Magnus e o jovem Torgils pelos ombros e levou-os na brincadeira, mas decisivamente, para a grande torre. Eles se encolheram um pouco quando ele explicou que iriam se encontrar com o velho senhor Magnus, já que ambos acreditavam saber que o velhote não estava no seu juízo perfeito.
Assim, maior foi a sua surpresa quando eles, junto com Arn, subiram a escada da torre e encontraram o senhor Magnus lá fora no muro de defesa. Andava de um lado para o outro, com energia e decisão, com uma bengala grosseira como único apoio. Um estrangeiro estava observando tudo, ao seu lado. Ao descobrir os três visitantes, o senhor Magnus abriu um largo sorriso de alegria, abriu bem ambos os braços, até mesmo o que apoiava na bengala, e louvou a Deus, com palavras bem nítidas e em voz alta, pela graça que lhe era dada.
Magnus Mâneskõld avançou logo, pegou a mão do avô e abaixou um dos joelhos até o chão de pedra, numa vênia. Torgils veio em seguida e Arn, por último.
— O senhor ganhou novas forças mais rápido e melhor do que eu esperava, pai — disse Arn.
— É. E por isso estou contente, mas também irritado por encontrar vocês três, ainda que há muito tempo que não o vejo, Magnus, e a você, também, Torgils, meus queridos netos!
— Não era nossa intenção irritá-lo, querido avô — respondeu Magnus Mâneskõld, com humildade.
— Ah, você me entendeu mal! Na verdade, eu queria surpreender todos vocês na hora da festa. Todos estariam convencidos de que eu iria permanecer em algum lugar no meu mictório onde ninguém me veria. Em vez disso, eu próprio vou erguer um brinde à noiva porque já faz muito tempo que não tenho esse prazer. Agora, uma coisa, vocês vão me prometer deixar a boca fechada e nada dizer. Ainda quero fazer a minha surpresa.
Sua fala fluiu regularmente, sem gaguejar. Possivelmente, um pouco mais lenta do que antigamente, mas quase a mesma coisa. Magnus Mâneskõld e o jovem Torgils que já não o viam há mais de um ano e dessa vez para dizer adeus e não para se encontrarem num momento de alegria, acreditavam tratar-se de um verdadeiro milagre.
E o que eles estavam pensando e acreditando o senhor Magnus não tinha dificuldade nenhuma em notar.
— Não é nada do que vocês estão pensando — continuou ele, dando mais uma volta no lugar para mais uma vez mostrar que podia andar quase como antes. — Foi este curandeiro que mostrou o caminho e, depois, a ajuda de Nosso Senhor, evidentemente!
Arn teve uma conversa curta e em voz baixa, numa língua incompreensível, com o forasteiro e aquilo que ouviu foi notoriamente satisfatório.
— O senhor, meu pai, não deve se esforçar muito hoje — disse ele. — Poderá se ressentir bastante e amanhã será uma longa noite. E nós, pode estar certo, não vamos dizer nem uma palavra para ninguém sobre a sua surpresa.
— Não, é verdade? — acrescentou ele, virando-se para os dois garotos, que imediatamente acenaram com a cabeça, confirmando tudo, solenemente.
— E o senhor, pai, deve descansar duas horas. Depois, fazer exercícios por uma hora e descansar por duas horas de novo — continuou Arn, após mais uma conversa curta com o estrangeiro. — E não vamos incomodar mais o pai por agora.
Os três fizeram uma vênia, deram três passos para trás antes de se virarem e se afastarem para onde Arn os conduzia. Ele queria mostrar para os dois jovens o que estava sendo construído.
Mas era como se Magnus e Torgils estivessem um pouco tímidos demais. Eles queriam era imitar Erik, o conde, ir embora e dormir para os torneios da noite.
Desapontado com o pouco interesse deles e preocupado por ver que neles havia alguma coisa que não entendia, Arn foi até o lado do lago Vänern onde havia roldanas guinchando e marteladas ecoando. Ele ficou realmente espantado com a rapidez com que o trabalho estava andando e como as pedras estavam sendo colocadas, bem juntas. E elogiou longamente todos os construtores sarracenos, antes de explicar que haveria três dias de folga por causa do casamento e que todos seriam convidados, mas que deviam se vestir de acordo. A respeito de se lavarem, ele não disse nada, visto que fazê-lo seria considerado uma afronta ao povo do Profeta.
Entretanto, Arn até brincou um pouco com o suado irmão Guil-bert que, de fato, foi templário durante doze anos na Terra Santa e talvez ainda hoje estivesse amarrado no Regulamento que proibia a desnecessária limpeza pessoal. A respeito desta suposição, o irmão Guilbert riu muito e explicou que, de todas as regras, essa de ter, necessariamente, de cheirar mal que nem um porco era a mais difícil de entender. A não ser que São Bernardo, na sua sabedoria infinita, quando escreveu o Regulamento, tenha pensado que os sarracenos iriam recear muito mais os nossos guerreiros, se eles cheirassem como porcos.
Enquanto o irmão Guilbert foi tomar banho e mudar de roupa, vestindo o seu hábito branco de monge, já que no trabalho se vestia como noviço, Arn procurou por Eskil, que foi encontrar envolvido numa conversa em várias línguas em que ninguém entendia nem uma só palavra. Era um grupo de palhaços, flautistas e tocadores de tambor que tinham vindo de Skara em quatro carroças de bois. Aquilo que era para ser resolvido tinha a ver com o pagamento e o alojamento da trupe e em questão de negócios acontece que as gentes fingem entender ainda menos do que podem. Mas como o chefe da trupe disse ser de AixenProvence, Arn pôde intervir e ajudar o seu irmão a fechar o acordo até ao último centavo, fora o direito à cerveja e à carne, mas com o dever de montar acampamento com as suas carroças a uma certa distância da fortaleza. Ambas as partes, finalmente, pareciam satisfeitas com o negócio e os palhaços deram logo meia-volta com as suas carroças de bois, dirigindo-se para o local indicado.
Eskil, depois, levou seu irmão para a câmara do casamento, localizada em separado no mezanino do lado ocidental da casa-grande, com uma escada de cada lado, uma para o noivo e a outra para a noiva. Lá em cima, estavam penduradas as roupas que Arn devia vestir nas variadas ocasiões durante os dias do casamento, visto que, como guerreiro, só devia se vestir na hora de ir buscar a noiva. Em seguida, seria realizada a primeira troca. Para a noite, ele iria vestir uma roupa estrangeira, em azul e prata, num tipo de tecido que, aliás, era usado mais por mulheres. Mas agora o assunto era a festa de despedida de solteiro, festa em que ele devia vestir uma capa bem larga, de cor branca, com mangas que apenas cobriam até os cotovelos e, por baixo, uma camisa longa, azul, na cor de pele de veado jovem, calças de couro e botas de couro macio com atacadores subindo pelas pernas. A espada era usada com todas as vestes.
Depois de todas as suas explicações a respeito dos trajes a envergar, o que de certa maneira confundiu um pouco Arn, Eskil suspirou como se, pela milésima vez, tivesse se lembrado de mais uma coisa para resolver às pressas. Havia apenas seis homens para a despedida de solteiro e eram precisos sete. Um era Erik, o conde, depois, havia Sture Jõnsson, da família Päl, e quatro eram folkeanos, contando com Arn: Magnus Mâneskõld, Folke Jonsson e Torgils, o filho de Eskil. Era preciso mais um sétimo homem e não podia ser casado nem folkeano.
Arn disse que não tinha nenhuma sugestão a fazer, visto que tinha apenas uma vaga idéia do que fosse a festa de despedida de solteiro, além de que iriam ser bebidas como habitualmente quantidades astronômicas de cerveja. Eskil explicou com incrementada paciência que a festa era um adeus do noivo à vida livre, uma última noite juntos, antes de um deles, para sempre, deixar a juventude. Assim era a tradição.
Embora desta vez os solteiros fossem anormalmente maduros, como dizia Eskil ao enfrentar o sorriso maroto de Arn. Afinal, o noivo já se encontrava nos seus melhores anos e já tinha filho e sobrinho entre os amigos. Algo assim jamais tinha acontecido antes e como alguns desses solteiros, em especial, Erik, o conde, e Magnus Mâneskõld, já eram conhecidos como durões e bons de armas, muita gente viria para ver essa despedida.
Arn sugeriu com um suspiro que, sendo o irmão Guilbert seu amigo mais antigo, a seguir ao próprio Eskil, e não sendo folkeano, ele gostaria que esse monge e ninguém mais fosse o sétimo solteiro no grupo. Certamente, a questão da idade não era problema, e a castidade, o irmão Guilbert, também certamente, tinha preservado melhor do que alguns do grupo.
Eskil reclamou da proposta. Achava que um monge ia servir mais de objeto de risos do que de honra por amizade nos torneios a realizar.
Embora Arn já suspeitasse do que estava para acontecer, e não gostasse nada disso, mas sentindo que era impossível se furtar à tradição, então, resolveu perguntar com uma expressão de ingenuidade quais eram as coisas que os jovens galos podiam fazer e o irmão Guilbert não.
Eskil respondeu evitando discussões e explicando que eram sete jogos, sete torneios diferentes em habilidade com armas e que a maior honra pertencia àquele que melhor se houvesse na noite de despedida de solteiro. No entanto, era ruim se alguém, em especial um amigo como o irmão Guilbert, se houvesse desairosamente.
Arn ficou em silêncio por momentos, sentado na sua cama de casado, ao ouvir o que tinha sido dito, mas não pelas razões que Eskil suspeitava. Certamente, não tinha vontade nenhuma de entrar em competição de armas com jovens de pele frágil e muito menos vontade de lhes causar algum mal. Isso lhe fazia lembrar aquele dia desagradável em que o rei Ricardo Coração de Leão instigou um dos seus jovens de pele frágil, Wilfred de Ivanhoé, era esse o nome dele, a avançar de lança baixa contra um templário. Uma coisa dessas podia terminar mal.
Os garotos, a gente devia ensinar e cuidar, mas era desonroso competir contra eles. Infelizmente, Arn reconheceu que essa objeção, até mesmo para seu irmão Eskil, seria incompreensível.
— Em que espécie de competição com armas nós vamos arriscar nossa honra? — perguntou ele, finalmente.
— Como eu disse, são sete jogos diferenciados — respondeu Eskil, impaciente. — Três jogos são disputados a cavalo, quatro a pé, e estes são com machado, lança, flecha e porrete na trave.
— Três jogos a cavalo e um porrete na trave? — perguntou Arn, com repentina boa disposição. — Isso pode ser mais divertido do que você pensa e não se preocupe com o monge. Ele vai se defender muito bem e para grande satisfação dos que estiverem assistindo. Mas preciso ir falar com ele, primeiro. Depois, vamos à torre, escolher os arcos que nos servem melhor e, a seguir, cuidar para que a minha égua receba a sela que melhor serve um monge.
Eskil abriu os braços e disse que se liberava de toda responsabilidade. Chegou à conclusão que havia ainda umas cem coisas para colocar em ordem e virou as costas, descendo rápido pela escada do noivo, com uma pressa repentina.
Arn, então, se ajoelhou e encostou o rosto na cobertura macia da cama de casal, inspirou o aroma das ervas e rezou longamente para a Mãe de Deus, a fim de que Ela continuasse conservando as Suas mãos protetoras sobre a sua amada Cecília até que não houvesse mais perigo e para que ele próprio não fosse atacado pelo orgulho ou ferisse qualquer dos jovens, acima de tudo o seu próprio filho, durante as competições infantis de que fora impossível se esquivar.
À noite, bem cedo, já haviam chegado mais de cem convidados a Arnäs para festejar a despedida de solteiro, e mais para ver os jogos dos jovens. A praça do burgo estava cheia de barracas de cerveja e de estrados apoiados em estacas para que as artes dos competidores pudessem ser vistas por todos. Tocavam-se flautas e tambores, e as crianças da trupe faziam artes absurdas, dobravam-se sobre si mesmas, metendo a cabeça entre as pernas, e engatinhavam sobre os estrados provocando risos e terror. Mas o ar estava cheio de tensão diante daquilo que todos tinham dificuldade em expressar em palavras, um jogo entre jovens que não acontecia há mais tempo do que a memória de homem permitia recordar e onde um conde do reino e um cavaleiro do Senhor, vindo da Terra Santa, iriam competir.
O espetáculo começou com os sete solteiros de branco saindo a cavalo em fila e dando a volta na praça do burgo com Erik, o conde, em primeiro lugar e com um monge de branco que provocava risos e assobios de espanto por último. Todos montavam os imponentes cavalos nórdicos, com exceção de Arn Magnusson e o monge, que montavam fantasmas pequenos e magros que pareciam já amedrontados diante da multidão e do alarido geral.
Erik, o conde, liderou os cavaleiros através do portão da fortaleza e na direção do prado onde havia baias prontas para receber os cavalos que os escravos da cavalariça seguraram enquanto os cavaleiros desmontavam. Os visitantes de Arnäs reuniram-se, com imensa expectativa, junto do muro baixo, do lado ocidental, de onde a visão do campo de jogos era tão boa que seria impossível perder qualquer detalhe das competições.
Lá embaixo, no campo, os sete jovens, pois assim deviam ser chamados, embora em pelo menos quatro casos já fossem homens feitos, escolheram Erik, o conde, como juiz em disputas quando as houvesse. Ninguém acreditava, porém, que esses homens entrassem em discussões como verdadeiros jovens, antes cada um iria agir com honra.
O primeiro jogo foi o de machadinha e devia decidir a continuação. Aquele que ganhasse na machadinha seria considerado o senhor da competição, escolhendo o próximo jogo e os seguintes.
Foi serrado um tronco grosso de carvalho e na tábua plana foi pintado um círculo vermelho, no meio, como alvo. Cada um teria três chances para acertar com a velha machadinha de fio duplo, a dez passos de distância.
Arn e o irmão Guilbert, que se apresentaram juntos, disseram de brincadeira que se em luta tivessem uma machadinha dessas na mão, o que fariam seria tentar conservá-la na mão. Se a arremessassem, não valeriam muita coisa na continuação. Essa arte de guerra eles nunca tinham visto e nunca tinham treinado.
Erik, o conde, jogou primeiro. Sua machadinha rodou no ar e ficou presa no meio do círculo vermelho, com um som surdo. Aplausos e um murmúrio de expectativa cresceu entre os espectadores. Não seria coisa pouca se um único erikiano pudesse ganhar de quatro folkeanos.
A segunda machadinha acertou quase no mesmo lugar, mas a terceira foi parar junto do anel vermelho, mas do lado de fora.
Depois, foi a vez de Magnus Mâneskõld. Também ele acertou duas machadinhas dentro do círculo e uma do lado de fora. Erik, o conde, e Magnus concordaram que Erik tinha sido o melhor dos dois e nenhum deles demonstrou qualquer expressão de desapontamento ou de alegria pela vitória. O jovem Torgils atirou e acertou apenas uma machadinha dentro do anel vermelho. As outras duas, fixaram-se fortemente na prancha de madeira, mas fora do alvo. Folke Jonsson saiu-se um pouco pior do que Torgils. E, então, foi a vez de Sture Jõnsson, que fez crescer um murmúrio e uma risada franca por parte do espectadores assistindo do muro, visto ser difícil evitar o riso ao imaginar o que aconteceria se o único membro da família Päl acabasse vencendo erikianos e folkeanos.
Pois foi isso o que ele fez, pelo menos até o momento. Todas as suas três machadinhas acabaram juntas por dentro do círculo vermelho. E por essa proeza recebeu aplausos, se bem que contrariados.
Quando o monge se apresentou, ouviram-se risos e algumas expressões de escárnio. Alguém gritou que casto ele podia ser, mas certamente pouco tinha a ver com esse jogo. E, como esperado, ele acertou apenas uma machadinha e mesmo assim fora do círculo.
Fez-se um silêncio completo de grande expectativa quando Arn Magnusson se apresentou por último com as três machadinhas na mão. Mas em breve o desapontamento foi ainda maior e muito se murmurou a respeito dos seus maus arremessos. Duas das machadinhas atingiram o alvo, mas sem acertarem com o fio e sem se fixarem na madeira. E a terceira ficou por um curto momento fixada na madeira, fora do anel vermelho, mas acabou caindo para o chão. Não era nada do que esperava de um homem das lendas.
Sete cestas de palha foram trazidas para junto dos jovens que eram obrigados a enchê-las de nabos meio podres, da safra anterior, conforme suas atuações tivessem justificado. Arn teve sete nabos na sua cesta e Sture Jõnsson, apenas um. No final, aquele que tivesse menos nabos na sua cesta seria o vencedor dos jogos.
Agora, era a vez da lança. E Sture Jõnsson foi aquele que teve a honra de decidir quem primeiro queria enfrentar. E com isso a competição, realmente, começou. Porque agora não bastava apenas ter boa mão para arremessar a arma. Era preciso também pensar com inteligência. Se Sture apontasse para a vitória, teria de competir primeiro contra os melhores adversários, para que estes recebessem muitos nabos por terem sido os primeiros a serem derrotados. Se ele quisesse safàr-se com honra razoável, teria que começar pela outra extremidade, convidando o monge ou Arn Magnusson, já que tinham demonstrado ser os piores arremessadores.
Pretensioso como se de fato pensasse em ser o vencedor da noite, Sture Jõnsson apontou a sua lança primeiro para Erik, o conde.
Isso ele não devia ter feito. Quando os dois terminaram de lançar as suas três lanças, cada um contra um boi de palha, foi Erik, o conde, considerado o vencedor e Sture Jõnsson aquele que recebeu sete nabos na cesta.
Que Erik, o conde, estava a fim de ganhar ninguém duvidava. Por isso, foi correto e certo ao apontar a sua lança para Magnus Mâneskõld, que devia ser o seu melhor contendedor e que, assim, receberia a maior quantidade de nabos possível.
Tornou-se uma luta muito difícil entre dois arremessadores muito bons. A cada lançamento corria um sussurro de admiração entre os espectadores assistindo do muro. Ambos atiravam igualmente bem, tão bem que as três lanças de cada um ficaram juntas no alvo. Era impossível decidir quem seria o melhor. Por isso, concordaram em atirar de novo.
Terminada a segunda série, Erik, o conde, julgou vitorioso Magnus Mâneskõld. E Magnus resolveu indicar o monge para adversário, a quem venceu fácil como todos esperavam. Depois, indicou atrevidamente o seu próprio pai.
Também Arn Magnusson foi vencido tão facilmente quanto o monge. Logo, Magnus Mâneskõld acabou vencedor desse jogo e muitos dos espectadores começaram já a ter certeza de que ele seria o que menos nabos teria na sua cesta ao final e com isso ganharia uma coroa de ouro.
O jogo seguinte seria o do porrete na trave, uma competição em que ambos os competidores estariam equilibrados na trave sobre o fosso da fortaleza e um tentando derrubar o outro com um longo porrete enrolado com couro em ambas as pontas. Neste jogo, era costume despir parte das roupas, visto que no final da competição só um não teria caído e tomado banho no fosso.
Magnus Mâneskõld não se preocupou nem em tirar a sua túnica branca, quando apontou o porrete para o monge, tão certo ele estava de sair vencedor.
O monge, mesmo que quisesse, não poderia tirar o seu hábito de lã e isso provocou uma alegria maldosa entre os espectadores, quando ele foi apanhar o seu porrete e ensaiou alguns golpes no ar. Mas alguém viu também que Arn Magnusson, lá entre os jovens, estava rindo muito e dando uma palmadinha nas costas do monge. A brincadeira era a de que estava na hora de tomar banho, ainda que invo-o luntário.
Foi então que a história da competição virou totalmente e se tornou inesquecível, tal como mais de cem espectadores esperavam.
O monge avançou sorrindo e abanando a cabeça para a trave, onde Magnus Mâneskõld esperava com o seu porrete pendente, como se nenhum perigo pudesse vir de um velho monge que não sabia jogar lança nem machadinha.
De repente, sem que ninguém tivesse tempo sequer de ver o que tinha acontecido, Magnus Mâneskõld tinha caído no fosso com toda a roupa no corpo. O monge devia ter acertado um golpe de sorte, foi o que a maioria pensou.
O irmão Guilbert baixou o porrete, arrumou um pouco o seu hábito entre as pernas brancas e só depois apontou-o para Erik, o conde, que retirou a sua túnica branca e avançou mais alerta do que o seu amigo. Isso pouco o ajudou. Quase na mesma velocidade que Magnus Mâneskõld, acabou caindo no fosso. Desta vez o pessoal no muro também ficou mais alerta, acompanhando o que aconteceu. O monge, primeiro, apontou um golpe na cabeça de Erik, mas, no meio do movimento, soltou uma das mãos e mudou a direção do golpe para as pernas do adversário.
O monge foi despachando os outros três jovens que, na seqüência, foram tirando suas roupas, cada vez mais, diante da certeza do banho a tomar. Até que, finalmente, só restava Arn Magnusson.
Arn tirou do corpo a sua veste de lã e a sua camisa longa, de cor azul, antes de avançar e enfrentar o irmão Guilbert. Ambos começaram uma conversa que poucos espectadores podiam entender, por muito que levantassem as orelhas, visto que foi em francês.
— Você ficou um pouco mais lento com os anos, o que não é de admirar, meu caro e velho professor — disse Arn.
— Você se lembra de que nem sequer chegou perto de me derrubar, meu rapazote presunçoso? — replicou o irmão Guilbert, rindo muito e levantando o seu porrete, fingindo que ia aplicar um golpe, com o qual Arn nem se preocupou.
— O seu problema é que eu também já não sou mais um rapazote — disse Arn que, no momento seguinte, deu início à luta. —
Os dois lutaram um longo tempo em velocidade estonteante, aplicando quatro, cinco ou seis golpes em cada ataque contra o adversário que aparava os golpes na mesma velocidade. Ficou claro logo de início que os dois eram sem dúvida os melhores no jogo do porrete na trave.
Finalmente, foi como se o cansaço, naturalmente, atingisse primeiro o monge. Então, Arn acelerou ainda mais, até que acabou atingindo um dos pés do monge e venceu, mas ainda teve tempo de estender o porrete que o monge agarrou. Assim, ele acabou balançando e caindo num lugar do fosso menos fundo. E dessa maneira salvou uma parte maior do seu hábito de ficar molhado.
A partir de então nenhum dos jovens ficou sequer por perto de Uma nova vitória e isso ficou claro assim que o primeiro dos jogos a cavalo começou.
A primeira competição a cavalo consistia em avançar um adversário contra outro e cada um com um longo saco de couro cheio de areia nas mãos, com o qual tentava derrubar da sela o adversário. Arn, que venceu no porrete e que, assim, ficou com o direito de decidir quem enfrentar primeiro, brincou com todos os jovens de maneira fácil, tão fácil quanto o monge tinha brincado com eles no porrete. Mas, quan do faltava defrontar o monge, a luta voltou a ser longa e uma demonstração da arte de cavalgar em velocidade extrema, uma forma de equitação quase impossível de entender. E ainda desta vez foi Arn que ganhou. Era como se o monge se cansasse primeiro e isso decidisse a luta.
O jogo seguinte consistia em cavalgar em alta velocidade contra nabos espetados em estacas e de cima do cavalo derrubá-los a golpes de espada. Nenhum dos jovens conseguiu cortar nem metade dos nabos alinhados, antes de Arn se apresentar. Ele nem sequer precisou golpear os nabos. Apenas avançou com a sua espada fina e longa como se fosse uma asa e passou cortando todos os nabos pela metade e já cortando o próximo antes que o anterior chegasse ao chão. O monge, por último, tentou cavalgar do mesmo jeito, mas a sua espada emprestada acabou presa no terceiro nabo e, assim, o jogo ficou decidido a favor de Arn.
Para o vencedor deste jogo era quase impossível vencer a competição seguinte, uma corrida de velocidade a cavalo. Vencida a primeira corrida, o vencedor teria que defrontar o segundo competidor em mais uma corrida e não era fácil pressionar o seu cavalo na velocidade máxima contra os outros cavalos ainda descansados.
Ao que pareceu, Arn viu logo o problema. E das primeiras corridas ele apenas obrigou o seu cavalo a andar um pouco na frente, apenas o suficiente para ganhar. Teria sido mais inteligente indicar o monge como primeiro adversário, já que ele cavalgava também um desses cavalos estrangeiros. Mas Arn resolveu deixar o monge por último.
E ambos partiram em alta velocidade, num esforço máximo, tal como haviam feito no jogo de sacos de areia e na "decapitação" dos nabos. Mas a égua descansada do monge acabou vencendo a corrida contra o garanhão de Arn.
Com isso, restava apenas disputar o jogo mais nobre, o tiro ao arco. E ninguém jamais tinha ouvido falar de monges que soubessem atirar ao arco. Mas também ninguém tinha pensado em monges que soubessem cavalgar como esse cisterciense. E muito menos usar porretes e espadas como ele fazia.
Talvez o monge e Arn tivessem decidido entre si quem seria o vencedor dos jogos. A expectativa foi grande. Já quando o monge ensaiou puxar a corda do arco que lhe tinha sido estendido por Arn, logo se viu facilmente que não era a primeira vez que ele tinha uma arma dessas na mão.
A competição de tiro ao arco consistia em colocar dois atiradores disparando suas flechas alternadamente contra uma bola de palha corn uma cabeça de grifo no centro e a uma distância de cinqüenta passos. Quando o alvo foi trazido para a frente, houve um momento de risos e murmúrios na platéia diante do atrevimento de colocar as armas do escudo dos sverkerianos bem no centro. Não foi especialmente honroso brincar dessa maneira com o inimigo vencido.
Sem se esforçar muito, como parecia, o monge venceu primeiro Sture Jõnsson, depois Torgils e Folke Jonsson. Esforçou-se um pouco mais para vencer Erik, o conde, e quando foi a vez de Magnus Mãneskõld, viu-se que o monge teve de se empenhar ao máximo a cada tiro de flecha, já que os dois se mostraram parelhos nessa arte.
Ambos foram disputando em igualdade de resultados até a nona flecha. Aí, a flecha seguinte de Magnus Mãneskõld acertou um pouco fora do centro do alvo. A do monge, acertou mais uma vez no meio do grifo. A décima flecha de Magnus acertou novamente no centro do alvo. Portanto, tudo agora dependia da última flecha do monge.
Então, o irmão Guilbert voltou-se e disse qualquer coisa para Arn Magnusson, que respondeu com uma frase curta, sacudindo a cabeça. A seguir, o monge acertou a sua última flecha bem no centro do alvo e com isso, com uma única flecha, venceu o melhor atirador de toda a Götaland Oriental. Visto que na Götaland Ocidental havia pelo menos um que era melhor.
No tiro ao alvo, a final inverteu como resultado as posições da corrida de cavalos. Era uma desvantagem ficar sem fazer nada por último e uma vantagem ficar atirando contra adversários mais fracos até a decisão final. E o irmão Guilbert precisou apenas lançar uma olhada para os jovens para, de uma maneira maravilhosa, saber quem eram os mais fortes e os mais fracos, de modo a poder enfrentá-los pela ordem correta.
— E agora, meu jovem aprendiz, você não vai poder usar a força dos seus pulmões nem a força das suas pernas, para vencer pelo cansaço este seu velho professor — sorriu, desafiador, o irmão Guilbert, puxando a corda do arco várias vezes, enquanto Arn se apresentava para a final do jogo.
— Não. Isso é verdade — disse Arn. — Preferia que estivéssemos aqui sozinhos, decidindo, realmente, quem é o melhor, se o professor ainda é mais forte do que o seu aluno. Porque qual de nós quererá vencer agora?
— O seu filho, Magnus, ficou muito desapontado ao perder, pude ver, embora ele, cavalheirescamente, tentasse esconder esse fato — disse o irmão Guilbert. — Mas o que é melhor agora? É melhor ele ver o seu pai batido pelo mesmo monge? Ou é melhor ele ver o seu pai como vencedor, embora tenha treinado uma vida inteira para o vencer ou vencer a sua sombra? De fato, ele é muito bom no tiro ao arco.
— Sim, sim, eu vi — disse Arn, ganhando tempo. — Realmente, ele é muito bom. Imagine se ele pudesse ter você como professor. Entretanto, nada posso dizer a respeito de quem deve ser o vencedor na disputa entre nós, qual o vencedor que Magnus teria mais dificuldade em absorver.
— Eu também não — respondeu o irmão Guilbert, fazendo o sinal-da-cruz como quem dissesse que era melhor deixar a decisão para os poderes mais elevados.
Arn acenou com a cabeça, concordando e confirmando. Fez também o sinal-da-cruz e colocou a primeira flecha na corda do arco. Acertou um pouco junto do canto inferior da cabeça do grifo, o que não era de espantar, visto ser o seu primeiro tiro, podendo acertar acima ou abaixo do alvo, antes que ele pudesse regular a pontaria.
Por isso, o irmão Guilbert liderou a prova até a sétima flecha, visto que ambos continuaram acertando bem no centro do alvo onde havia agora um emaranhado de flechas. Na sétima flecha, o irmão Guilbert acertou alto demais, embora não tão alto quanto a primeira flecha de Arn tinha acertado embaixo.
Os espectadores ficaram totalmente em silêncio em cima do muro. E os outros jovens competidores foram se aproximando cada vez mais, inconscientemente, para ver melhor e estavam agora bem atrás dos dois atiradores.
Oitava flecha, igualdade, bem no meio do alvo. Nona flecha, ainda igualdade total.
Arn soltou a sua décima flecha que passou pelas penas de duas outras flechas, mas ainda assim se entranhou no alvo, bem no centro. Agora, o problema estava com o irmão Guilbert e sua última flecha.
Ele fez pontaria por longo tempo e a única coisa que se ouvia em Arnäs era o esvoaçar de um bando de andorinhas que passavam por perto.
Mas aí ele se arrependeu e abaixou o arco, respirou fundo algumas vezes antes de levantar o arco de novo e puxar a corda contra a face, de novo, fazendo pontaria. Ainda desta vez por tempo demais.
A sua flecha acertou acima. Ele havia demorado demais a soltar a flecha. Com isso, Arn foi o vencedor da série de jogos em disputa, uma competição que nenhum dos que estiveram presentes iria esquecer, nem também seria esquecida pelos que não estiveram presentes, de tal maneira eles viriam a ouvir repetidamente todas as ocorrências. E de tanto ouvir as histórias ficaram convencidos com os anos de que também estiveram presentes e de que tudo viram com os próprios olhos.
Eskil chegou de imediato, junto dos jovens, com a dona da casa em Arnäs, Erika Joarsdotter, ao seu lado. Ela trazia consigo duas coroas brilhantes, uma em ouro e outra em prata. Pararam juntos e diante dos jovens alinhados numa fila, bem perto do fosso para que todos os convidados pudessem ver e ouvir o que iria acontecer.
— Esta despedida de solteiro começou muito bem — disse Eskil, em voz alta. — Vocês trouxeram para a minha casa muita honra, isso porque uma competição como esta que nós vimos hoje aqui nunca aconteceu e nunca mais virá a acontecer. A coroa do vencedor é de ouro, já que uma vitória tão bonita quanto esta nunca ninguém obteve. Eu não sou avarento, mas apenas rigoroso nas questões de dinheiro. E, evidentemente, me alegra muito que o meu irmão tenha vencido, visto que qualquer outro resultado iria empanar a sua honra e reputação. E me alegra muito que, dessa maneira, o ouro fique aqui em casa. Por favor, avance, senhor Arn!
Arn, contrariado, teve de ser empurrado para a frente por Magnus Mâneskõld e Torgils. Depois, fez uma vênia diante de Eskil e, então, foi coroado por Erika Joarsdotter, com a coroa de ouro. Depois, Arn ficou sem saber o que fazer, até que Magnus foi obrigado a puxar pela sua veste, o que fez rir o pessoal em cima do muro.
Erika Joarsdotter levantou, então, a coroa de prata na direção do irmão Guilbert, visto que não seria preciso contar os nabos dos cestos para saber que ele tinha sido o melhor depois do vencedor.
O irmão Guilbert protestou e se afastou, o que primeiro foi visto como falsa timidez religiosa até que ele explicou que, segundo seus votos como monge, ele não podia ser proprietário de nada e que dar para ele aquela coroa de prata era o mesmo que dá-la para o mosteiro de Varnhem.
Eskil franziu a testa e concordou que talvez fosse desnecessário dar aquele prêmio para um mosteiro para o qual já estavam dando mais do que o suficiente. Houve um momento de hesitação geral em que Erika resolveu abaixar os braços e a coroa de prata, olhando para Eskil que encolheu os ombros.
O irmão Guilbert, então, foi aquele que achou uma inesperada solução. Com todo o cuidado, pegou a coroa das mãos de Erika e encaminhou-se até os cestos de Erik, o conde, e de Magnus Mâneskõld e contou os nabos existentes em cada um deles. Em breve, já estava de volta e na frente de Magnus Mâneskõld.
— Você, Magnus, é o melhor arqueiro que já vi nesta terra, a seguir ao seu pai, claro — disse ele, solenemente. — E a seguir a mim que não conto porque as regras religiosas colocam entraves no caminho, você é o melhor. Sendo assim, meu jovem, abaixe a sua cabeça.
Corando, mas ao mesmo tempo orgulhoso e estimulado pelos seus amigos, Magnus obedeceu. E, assim, aconteceu que pai e filho acabaram comparecendo à festa nessa noite coroados, um com uma coroa de ouro e outro com a coroa de prata.
Depois, os jovens ficaram à vontade. Iriam festejar a despedida numa sala especial, tal como prescrevia a tradição. Eskil e Erika Joarsdotter voltaram para a fortaleza com seus convidados, enquanto os jovens foram para a sua sala. Alguns escravos vieram pegar seus cavalos e algumas escravas vieram correndo trazer seus mantos e roupas secas, além de carne e cerveja.
Ao serem deixados a sós, todos começaram a falar ao mesmo tempo, pois havia muita coisa para tentar entender. E a mais difícil era explicar como um velho monge podia bater jovens lutadores nórdicos nas suas próprias competições.
Arn explicou que o irmão Guilbert não era um monge qualquer, que tal como ele tinha sido templário na Terra Santa e que, pelo contrário, teria sido uma vergonha sem tamanho se dois templários não tivessem podido colocar os jovens galos nórdicos no devido lugar.
Todos falavam alto e estavam com muito boa disposição, antes mesmo de chegar à sua festa. Todos estavam satisfeitos, cada um à sua maneira.
Magnus Mâneskõld estava satisfeito, apesar de ter chegado aos jogos com vontade de vencer. Os únicos que o venceram foram dois templários do Senhor. E cada um tinha visto nesse dia com os próprios olhos que tudo o que se contava a respeito desses homens de luta ao serviço do Senhor era verdade. Mas sobre os seus amigos Magnus tinha vencido.
Erik, o conde, também estava satisfeito. Ele sabia que tinha de estar num dia de sorte para bater o seu amigo Magnus Mâneskõld, mas, pelo menos, nenhum dos outros amigos ficara antes dele.
Torgils estava satisfeito porque, embora sendo o mais novo, tinha conseguido evitar ser o último. E Sture Jõnsson estava satisfeito porque, embora tendo chegado por último, tinha sido um entre dois que, não sendo templários, havia ganho uma das provas, o jogo das macha— dinhas.
Arn estava satisfeito por ter ganho, embora se sentisse quase envergonhado por admitir isso. Mas como ele tinha de lutar inquestionavelmente para ganhar o respeito do seu filho, esse foi, sem dúvida, um bom passo em frente.
O irmão Guilbert, possivelmente, era o mais satisfeito de todos, visto ter demonstrado que, apesar de velho, podia ainda equilibrar a sua ação com a de um irmão cavaleiro e por Deus ter decidido o tiro ao arco a favor do melhor, sem que para isso ele e Arn tivessem que discutir o resultado.
Quando os jovens alegres chegaram para festejar a despedida de solteiro de Arn, isso iria custar a Eskil muita cerveja, e para muitos deles uma violenta dor de cabeça no dia seguinte. A noite inteira era deles.
Comida e bebida chegaram logo de imediato e em quantidades que o irmão Guilbert e Arn receavam. Mas a pedido de Arn também rolou junto um pequeno barril de vinho libanês que ele próprio trouxera consigo e dois copos também vieram junto para os únicos dois que iriam preferir o vinho à cerveja de Lübeck servida no casamento.
Na primeira hora, antes da bebedeira começar a fazer efeito, falou-se sobretudo de vários acontecidos durante os jogos e em breve alguém se atreveu a fazer piada sobre o fato de um templário não saber atirar machadinha, nem lança.
O irmão Guilbert explicou com bons modos que isso de arremessar lança e largá-la para longe não é a primeira preocupação de um cavaleiro. Na realidade, é a última. E no que dizia respeito à machadinha, ele estaria disposto a enfrentar cada um a cavalo com a machadinha na mão. Entretanto, sem arremessar a machadinha. E dito isso ele olhou em volta, com um olhar duro e cruel. E os jovens, inconscientemente, encolheram os ombros, antes de ele explodir numa sonora gargalhada.
Mas o jogo do porrete na trave, em contrapartida, continuou ele, era um exercício excelente. Era a base para tudo, rapidez, esquiva, equilíbrio e muitas manchas roxas para lembrar que a defesa é tão importante quanto o ataque. Por conseqüência, foi isso que ele primeiro ensinou ao garoto Am.
Arn levantou o seu copo de vinho, confirmando logo que foi isso que aconteceu, quando ele, ainda uma criança, entrou para o mosteiro de Varnhem. E, depois disso, só levou pancada do irmão Guilbert, todos os dias, durante doze anos, acrescentou, suspirando fundo e deixando cair a cabeça, de modo que todos caíram na gargalhada.
Já que a mijação da cerveja tinha começado, os jovens precisavam sair a toda hora, enquanto Arn e o irmão Guilbert, tranqüilamente, continuavam sentados no mesmo lugar. Dessa maneira, sempre havia um novo jovem pronto para ocupar o lugar deixado vazio e sentar-se junto dos dois homens mais idosos e, assim, enquanto os rapazes continuavam em condições de conversar, tanto o irmão Guilbert quanto Arn puderam falar com todos eles.
Quando Magnus Mâneskõld veio sentar-se ao lado de Arn, já a noite tinha passado mais do que Arn pensava. Era como se houvesse o uma timidez entre os dois, o que exigia umas doses de vinho e de cerveja para ultrapassar esse estágio.
Magnus começou por pedir desculpa por ter errado duas vezes seu julgamento em relação ao seu próprio pai, mas acrescentou que tinha aprendido bastante com esses erros.
Arn fingiu não entender do que se tratava e pediu para ele ser mais claro. Magnus contou que teve uma grande decepção quando viu o seu pai pela primeira vez. Não como o cavaleiro dos seus sonhos, mas como escravo de colher de pedreiro na mão. E como ele, depois, devia ter entendido melhor, logo que montaram a cavalo ao deixar Forsvik. Mas tão presunçoso ele era que logo se decepcionou de novo ao ver como seu pai arremessava a machadinha sem acertar. Justo, portanto, foi o castigo que recebeu. Arqueiros melhores do que o monge e o seu próprio pai ele nunca vira. E sobre isso todas as lendas contavam a verdade.
Arn tentou brincar para encerrar a conversa, dizendo que iria treinar muito na arte de jogar as armas fora. Essa brincadeira não fez efeito em Magnus Mâneskõld, que continuou falando seriamente e se concentrou para perguntar sobre um assunto em que disse ter pensado só mais tarde.
— Quando chegamos cavalgando a Forsvik — disse ele — e quando viramos a esquina e meu pai estava lá cima na cumeeira com a colher de pedreiro... E aí desceu, correndo e olhou para nós... Como pôde me reconhecer logo como seu filho?
Arn soltou uma irresistível gargalhada, embora quisesse antes manter-se sério.
— Olhe aqui! — irrompeu ele, passando a mão no cabelo espesso e ruivo do seu filho. — Quem é que tem o cabelo ruivo da sua mãe senão você, meu filho! E, além disso, mesmo que você tivesse um elmo na cabeça, seria suficiente olhar para os seus escudos. Um de vocês, no caso você mesmo, tinha uma lua pintada junto do nosso leão folkeano. E se nada disso bastasse eu o teria reconhecido pelos olhos. Você tem os bonitos olhos negros da minha mãe.
— Amanhã, vou me tornar seu filho legítimo — disse Magnus, de repente, emocionado até as lágrimas.
— Você sempre foi o meu filho legítimo — respondeu Arn. — Talvez tenha sido um pecado que nós cometemos, sua mãe Cecília e eu, ao gerá-lo um pouco cedo demais. O nosso casamento demorou muito para se concretizar, devido ao fato de não ter sido muito fácil para o meu amigo Knut se tornar rei como ele pensava que ia acontecer, tendo prometido vir ao nosso casamento como rei. O meu amor e o amor de sua mãe eram muito grandes, o nosso desejo, um pelo outro, era ardente, e então cometemos um pecado que não fomos os únicos a ter cometido. Mas grande ou pequeno, esse pecado, já o pagamos com uma penitência muito forte. E estamos agora purificados. E amanhã vamos festejar o nosso casamento, tal como tínhamos pensado fazer há mais de vinte anos. Mas não é amanhã que você se tornará meu filho, nem é amanhã que eu me tornarei o esposo de Cecília. Eu sempre fui o homem dela e você sempre foi o meu filho, por todos os dias, nas minhas orações, durante uma longa guerra.
Magnus ficou em silêncio por momentos, pensando, como se estivesse desorientado, sem saber em que direção continuar a conversa. Havia tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo.
— O senhor acha que o rei virá ao casamento como prometeu? — perguntou, de repente, como se com isso se tivesse salvo de temas de conversa mais difíceis.
— Não, ele não virá — disse Arn. — Birger Brosa não vem, isso já sabemos. E acho que o rei não está disposto a enfrentar o seu conde e primeiro-ministro. E no que diz respeito à promessa do rei, já aprendi que existe uma certa diferença entre o que se diz antes de a coroa assentar na cabeça e o que se diz depois. De qualquer forma, está tudo bem resolvido pelo fato de Erik, o conde, estar aqui e nos honrar com a sua presença e como representante dos erikianos e do rei.
— Mas Erik, o conde, está porque é meu amigo — objetou Magnus Mâneskõld, sem pensar.
— Me alegra saber que ele está aqui e me alegra saber que é seu — amigo — disse Arn. — Mas acima de tudo ele é o conde do reino e nosso futuro rei. Dessa maneira, o meu amigo Knut sai dessa dificuldade. Ele está aqui como me prometeu. Ele não está como certamente prometeu a Birger Brosa. É assim que age um amigo inteligente quando é rei.
— Será que em breve vai haver guerra? — perguntou Magnus, em função de um impulso repentino ou do fato de a cerveja já estar conduzindo a sua conversa mais do que o seu respeito.
— Não — disse Arn. — Não por agora e ainda por muito tempo, mas a esse respeito falaremos mais tarde quando não for preciso beber tanta cerveja.
Como se as palavras de Arn a respeito da muita cerveja lhe tivessem lembrado a ordenação da natureza, Magnus pediu desculpas, levantou-se e foi andando sobre pernas já um pouco instáveis até um lugar na escuridão para se aliviar. As escravas da casa trouxeram tochas Para iluminar e mais carne grelhada.
Momentos mais tarde, o irmão Guilbert e Arn ficaram sozinhos, cada um com o seu copo de vinho na mão e muitas canções e barulho à sua volta.
Arn estava um pouco irritado com a última flecha do irmão Guilbert, dizendo que sempre que se pensa muito antes de atirar, quase sempre acontece que o tiro sai ruim. Assim, a pretensão é grande demais. E quando se exige demais, o resultado sai de menos. Mas isso era uma coisa que, certamente, o irmão Guilbert já devia saber melhor do que ninguém.
Sim, era verdade, talvez se pudesse pensar assim, concordou o irmão Guilbert. Mas ele havia atirado para ganhar. Ou pelo menos para fazer o seu melhor, para que ninguém pensasse que estava oferecendo a vitória a Arn. Mas, entretanto, os Poderes Mais Altos resolveram intervir e dirigir a seta.
— Deus vult!— brincou Arn e levantou o punho conforme a saudação dos templários.
O irmão Guilbert entendeu logo a brincadeira e bateu com o seu punho no de Arn.
— Talvez a gente possa competir novamente, contra alvos mais difíceis em movimento ou ainda cavalgando — disse Arn.
— Ah, não! — respondeu o irmão Guilbert, rápido, claro e direto. — Você quer é botar o seu velho professor no lugar. Prefiro dar a você mais uma chance com o porrete na trave!
Riram bastante os dois, mas nenhum dos jovens estava ligando mais para eles, talvez porque não pudessem entender a conversa. O irmão Guilbert e Arn, como de costume já muito antigo, tinham mudado para o francês.
— Diga-me uma coisa, irmão — recomeçou Arn, pensativo. Quantos templários seriam necessários para dominar as duas províncias Götalands, mais a Svealand?
— Trezentos — respondeu o irmão Guilbert, depois de pensar por um curto momento. — Trezentos foram suficientes por muito para manter a Terra Santa. Este reino aqui é maior, mas compensação aqui não existe cavalaria. Trezentos templários em três fortalezas chegariam para dominar e pacificar toda a região. Ah, ah, é nisso que você pensa! Estou ajudando a construir a primeira fortaleza justo agora, com os nossos amigos sarracenos. Que santa ironia! Aliás, você está certo de que os amigos sarracenos não virão a dar problemas? Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, esses bárbaros nórdicos vão entender que espécie de estrangeiros eles são, rezando cinco vezes por dia e, ainda por cima, bem indiscretamente, se é que devo exprimir o fato com delicadeza.
— Foi muita coisa de uma vez só — suspirou Arn. — Sim, eu penso que se montar uma força de cavalaria capaz de realizar os mesmos exercícios que os templários conseguirei manter a paz. Vão ser necessárias mais fortalezas e não apenas uma, isso é verdade. E quanto aos sarracenos, a minha idéia é deixar primeiro que eles mostrem do que são capazes. Depois, o povo vai ter que escolher entre essa competência demonstrada e aquilo que a sua própria falsa fé diz a respeito do que os sarracenos são.
— Essa última talvez seja uma manobra perigosa — disse o irmão Guilbert, pensativo. — Você e eu conhecemos a verdade a respeito dos sarracenos. Para isso existe uma explicação. Mas não iria qualquer um desses bispos do reino, incompetentes e primitivos, cair morto, asfixiado em carne de porco, no momento em que souber da verdade a respeito dos seus construtores de fortalezas? E para conseguir a paz com uma força bem superior como você pensa criar, está certo, mas ao mesmo tempo errado.
— De que jeito está certo eu já sei, mas como está errado? — perguntou Arn, rápido.
— Está errado porque os nórdicos não entendem o que uma força de cavalaria moderna representa e como ela é invencível. Ao criar esse Poder, você precisa primeiro fazer uma demonstração dessa força para conseguir estabelecer a paz. Isso, de qualquer maneira, significa guerra.
— Eu tenho pensado muito a respeito disso — admitiu Arn. — Tenho apenas uma resposta e essa resposta serve apenas para tornar a lição suave. Você se lembra da regra de ouro da Ordem dos Templários?
— Ao puxar pela tua espada, não penses em quem tu vais matar. Pensa antes em quem tu vais poupar — respondeu o irmão Guilbert, em latim.
— Isso mesmo — reagiu Arn. — Isso mesmo. Que seja feita a vontade de Deus!
PESADOS CAVALOS NÓRDICOS circulavam, batendo seus cascos, com um som abafado, pelo caminho da noiva, nos dois sentidos. Por toda parte, brilhavam ao sol as machadinhas de arremessar e se ouviam o tilintar das armas e a dureza e a veemência das ordens de comando da gente de guerra. Uma parte da cavalaria ostentava o escudo do rei, mas a maioria era formada por folkeanos, chamados de longe, de burgos e de aldeias. Mil homens armados foram convocados para defender a noiva na sua viagem. Tanta gente armada nunca se viu desde que a paz fora restabelecida, e a movimentação se parecia como nos velhos tempos quando o rei convocava as cortes.
Das aldeias, bem longe, ao sul, da região de Skara, o povo saíra de casa bem cedo para ficar em fila bem juntos e ao longo de todo o caminho entre Husaby e a igreja de Forshem. Alguns ficavam sentados, comendo carne e bebendo cerveja. Outros ficavam procurando por brotos de árvores e plantas que não encontravam há muito tempo, enquanto as crianças corriam, brincando, de um lado para o outro. Todos tinham vindo para ver a noiva montada a cavalo no caminho para Forshem. Mas cortejos de casamentos, todos já tinham visto muitos, só que desta vez esperava-se que acontecesse algo mais. O presságio se mostrou através de quatro sóis e muitos rumores surgiram sobre várias ameaças transcendentais contra a noiva. Essas ameaças eram feitas por forças ocultas. Ela seria seqüestrada por Nácken, um deus do mal, ou petrificada por sereias das florestas, ou envenenada por duendes. O resto dizia respeito a coisas mais terrenas e, principalmente, a guerra e a infelicidade sobre o país, tanto no caso de a noiva voltar viva debaixo dos lençóis depois daquela noite quanto no caso de ser assassinada ou encantada e levada para o espaço etéreo. Entre os homens mais velhos e mais sábios, falava-se à boca pequena que esse casamento tinha muito a ver com a luta pelo poder no reino.
O que quer que acontecesse na viagem da noiva, essa passagem iria ser, de qualquer maneira, um espetáculo digno de uma espera de muitas horas. E esperar foi o que o povo teve de fazer, pois os que foram buscar a noiva se atrasaram muito.
Na hora combinada, quando o sol estava a pino, Cecília foi levada para a praça por seus três padrinhos, Päl, Algot e o jovem Sture, que voltaram bêbados de Arnäs pela manhã, mas que, de resto, estavam com boa disposição e que tinham muito para contar a respeito dos jogos entre solteiros com os melhores arqueiros do país.
Os três irmãos traziam todos os seus mantos verdes mais belos que, no entanto, pareciam desbotados e simples em comparação com o manto de Cecília. Lá fora, no jardim, estava a mesa da noiva, com cinco bolsas de couro com terra trazida dos cinco burgos e uma arca pesada. Era o dote da noiva que seria levado por quem viesse buscá-la. Ao lado, estava o presente de Cecília para o noivo, o manto azul fol-keano feito por ela, todo bem dobrado, que ainda ninguém tinha visto. Os cocheiros seguravam os cavalos, todos festivamente selados e ornamentados, e as seis damas de honra, de branco, seguravam nas mãos o longo véu da noiva que Cecília só colocaria quando chegassem os que vinham buscá-la.
E ali estavam todos, agora, esperando, mas nada acontecia.
—Talvez o senhor Eskil tenha bebido demais da sua própria e boa cerveja — disse o jovem Sture, atrevidamente. Ele, assim como os outros, achava que o líder do grupo que vinha buscar a noiva devia ser Eskil Magnusson, visto que o velho senhor Magnus não estaria em condições de viajar.
Uma hora decorreu com todos sob o sol do meio-dia sem desistir» já que isso significaria má sorte. Cecília, de início, começou a recear que alguma coisa de ruim tivesse acontecido. Depois, seu receio e irritação por pensar que Eskil a tinha feito esperar. Assim como Eskil era astuto e sagaz nos negócios, ele podia ser desleixado em relação ao bem-estar das outras pessoas, pensava ela.
Não era, porém, culpa de Eskil, como ela, em breve, iria poder constatar.
A longa distância, numa curva do caminho, perto do córrego e da ponte, ouviam-se as manifestações clamorosas do povo que aguardava. Não eram manifestações de terror, nem sequer de receio ou medo, mas de alegria.
A expectativa aumentou por parte dos três irmãos e de Cecília, que ficaram com os olhos pregados na curva do caminho onde o grupo iria surgir.
O primeiro que viram foi um cavaleiro que portava o escudo real. A seguir, vinha um séquito brilhante em que muitas pontas de lanças refletiam, piscando, a luz do sol.
— Se aquele que te vem buscar e por quem tanto esperamos é quem eu penso, então, está tudo perdoado — refletia Päl Jõnsson, espantado, de queixo caído, ao mesmo tempo que fazia sinal para as damas de honra que vieram logo com o véu da noiva e o colocaram em Cecília, de modo que seu cabelo e rosto e a maior parte do seu corpo ficaram ocultos.
E assim ela ficou, imóvel e direita, quando os cavaleiros do rei entraram no burgo e formaram um amplo círculo, com os cavalos virados para fora e de espadas em punho. E no espaço vazio criado entraram a cavalo o rei e a rainha, ambos com mantos de arminho e de coroas nas cabeças, parando seus animais a dez passos de distância dos três irmãos e de Cecília que os aguardavam.
Como o rosto de Cecília estava agora oculto sob o véu, ninguém podia ver seus olhos. Por isso a rainha não podia ver os olhos da sua amiga, mas Cecília fez um ligeiro sinal com a cabeça quando Cecília Blanka sorriu para ela com a expressão de quem dizia "por esta você não esperava".
O rei levantou a mão, pedindo silêncio para o que tinha a dizer.
— Há muitos anos, nós prometemos, Knut Eriksson, rei dos Sotas e dos sveas, que conduziríamos você, Cecília, e nosso amigo,
Arn Magnusson, ao altar. As promessas se fizeram para ser cumpridas, em especial quando feitas por um rei. E aqui estamos nós, pedindo compreensão por termos demorado mais do que havíamos pensado para cumprir a nossa promessa!
Depois dessas palavras, o rei desceu do cavalo e avançou na direção dos três irmãos a quem saudou cada um de per se. Eles o saudaram, também, de volta. Todos, fazendo uma vênia, dobrando o joelho no chão. Raramente os padrinhos agiriam assim ao entregar a noiva, mas raramente também se entregava uma noiva ao próprio soberano do país.
Para Cecília, o rei Knut fez apenas uma pequena vênia com a cabeça e nem sequer tocou nela, por isso trazer má sorte para ambos.
Homens do rei foram chamados para carregar o dote e o presente da noiva para uma carroça ornamentada com ramagens e puxada não por bois, mas por dois cavalos baios bem agitados. Os cocheiros da casa avançaram com os cavalos dos acompanhantes de Cecília e dela própria. Para Cecília, tiveram de trazer também um banco para ela subir na sela com o vestido de noiva. E desta vez Cecília não pôde evitar a sela feminina, ficando com as pernas do mesmo lado, o que, normalmente, ela detestava.
E, assim, saíram montados do burgo real de Husaby, com o rei e a rainha na frente, depois a noiva e em seguida os três irmãos. De ambos os lados, ficaram os escudeiros do rei, sendo que alguns cavaleiros galoparam em frente para limpar o caminho de curiosos que estivessem perto demais. As ordens de comando dos líderes dos escudeiros atroavam aqui e ali. E os escravos e escravas de Husaby cantavam uma melodia que era a maneira de desejarem felicidades.
Nunca se vira um séquito de noivado como aquele que agora, sob o sol de verão, descia as colinas de Husaby na direção de Forshem, desde que o rei Knut, muitos anos atrás, fora ao convento de Gudhem buscar a sua noiva. Mas dessa vez não foram muitos os camponeses que vieram ver o cortejo. Os moradores da cidade eram fáceis de reconhecer, já que se vestiam como mulheres, com penas no barrete, ainda que fossem homens de verdade, de pêlo nas ventas.
De todos os lados, jogavam-se bênçãos, votos de felicidades e ramos de bétulas. Por vezes, Cecília tinha tantas ramagens de bétulas em cima de si que chegava a ter a sensação pagã de, em breve, se parecer mais com um fantasma da floresta do que o próprio espírito do mal.
Ao se aproximarem de Forshem, o séquito abrandou o ritmo da marcha, ao mesmo tempo que alguns cavaleiros rápidos bateram em frente numa nuvem de poeira para saber como fazer para que os dois séquitos chegassem ao mesmo tempo na igreja.
A distância, Cecília podia ver que a entrada da igreja estava cheia de gente, mas também notou que predominavam as cores vermelhas dos mantos sobre as azuis. Mas como o rei e a rainha, que viajavam um pouco à sua frente, também deviam ter visto as cores sverkerianas e não se preocuparam nem um pouco, Cecília apenas resolveu fazer um rápido sinal-da-cruz e pensar que não havia perigo nenhum.
Ao se aproximarem ainda mais, ela entendeu a razão de tanta cor vermelha. No portal da igreja, quem estava esperando era o arcebispo, e seu esquadrão de escudeiros era composto quase exclusivamente de sverkerianos.
De Arnäs, aproximava-se agora o séquito do noivo. Na frente, o líder mais antigo dos escudeiros folkeanos que veio de longe, de Ãlgarâs, para receber a honra de ser o porta-bandeira e, portanto, do leão, da família folkeana. Atrás dele, vinham os senhores Eskil e Arn, lado a lado, ambos vestidos como guerreiros, o que parecia condizer melhor com Arn do que com o seu irmão mais velho. Arn tinha ramagens de freixo sobre si e seu cavalo, pois recebera tantos votos de felicidades pelo caminho quanto Cecília. Atrás de Arn, vinham os padrinhos do noivo, entre eles, um monge cisterciense, com o seu hábito branco e seu capuz, bem longo, da mesma cor, sobre a cabeça.
Tudo estava preparado para acontecer, daí para a frente, conforme exigia a tradição. Na entrada da igreja, a noiva desceu do seu cavalo, ajudada pelos padrinhos. Os escudeiros do rei, da família folkeana e do arcebispo formaram um anel de escudos e de espadas à volta do lugar à frente do portal da igreja onde se encontrava o arcebispo, de vestes completas, com dois capelães de preto ao seu lado e com a estola branca sobre o peito e as costas.
A noiva foi conduzida para a igreja, fez uma ligeira vênia com a cabeça na direção do arcebispo, mas não chegou a tocar nele, enquanto seus padrinhos, além da vênia completa de joelho no chão, beijaram o anel do prelado.
Um pouco longe, Arn e seus seguidores ficaram aguardando, para só depois avançarem e saudarem o arcebispo. Até mesmo Arn beijou o anel do clérigo.
Depois, chegou o grande momento em que Arn e Cecília ficaram ao lado um do outro e em frente do arcebispo. Então, Cecília levantou lentamente o seu véu, deixando entrever finalmente o seu rosto. Ela já tinha divisado seu noivo através da renda do véu, mas ele só agora a via, tal como prescrevia a tradição.
Chegou o momento da troca de presentes. Erik, o conde, avançou na direção de Arn e fez uma profunda vênia, o que foi uma inesperada honra que levou muita gente a trocar impressões, ouvindo-se, então, uma onda de murmúrios. Depois, entregou-lhe um cinto, pesado e valioso, com correntes de ouro e uma pedra verde em cada corrente. Arn colocou o cinto em Cecília, se atrapalhando um pouco, o que provocou alguns risos. E Cecília rodou, depois, um pouco sobre si mesma, levantando os braços, para que todos que estavam por perto pudessem ver o brilho do ouro que agora pendia de suas ancas em linhas retas, verticais, sobre o colo.
Päl Jõnsson trouxe, então, o presente de Cecília, que notoriamente era um manto azul dobrado. Eskil logo agiu no sentido de retirar o manto que seu irmão trazia, não sem antes soltar o pesado prendedor de prata que sustinha o manto, abaixo do pescoço. Cecília desdobrou, então, lenta e solenemente o seu presente. Logo se ouviram clamores de admiração e também de inquietação entre as pessoas que estavam atrás dos escudeiros e queriam ver, esticando o pescoço e até se movimentando para a frente. Um manto mais bonito do que aquele ninguém jamais vira e o leão nas costas reluzia como se fosse feito todo de ouro, assim como as três correntes em prata e o vermelho da boca do animal. Eskil e Cecília ajudaram-se mutuamente na colocação do novo manto sobre os ombros de Arn.
Depois, tal como Cecília tinha feito, Arn rodou sobre si mesmo, dando uma volta de braços levantados, para que todos pudessem ver, o que provocou novos clamores de admiração.
O arcebispo levantou o seu bastão e se mostrou um pouco zangado, exigindo silêncio. Mas as pessoas, ainda que não menos religiosas, insistiam em comentar os valiosíssimos presentes dos nubentes.
— Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! — clamou o arcebispo e só então ele conseguiu silenciar toda a gente. — Eu vos abençôo, a ti, Arn Magnusson, e a ti, Cecília Algotsdotter, que agora resolveram contrair o sagrado matrimônio criado por Deus. Que a felicidade, a paz e a saúde estejam com vocês até que a morte os separe e que essa união abençoada por Deus possa trazer a paz e a harmonia para o nosso reino. Amém.
Pegou, depois, a água benta que lhe foi trazida por um dos capelães e com ela tocou, primeiro, na testa de Cecília, seus ombros e seu coração e, depois, fez o mesmo em Arn.
Se o arcebispo conseguisse tudo como queria, nesse momento Arn e Cecília se abraçariam em sinal de que seu casamento estaria consolidado. Mas desde o momento que entenderam o significado oculto da bênção, de que era nessa hora que se tornavam marido e mulher e não mais tarde, nem Arn nem Cecília tiveram qualquer disposição de participar no espetáculo. Diante de parentes e amigos e diante da lei, eles não seriam o senhor e a senhora, antes de concretizarem o ato na cama. E tivessem eles a necessidade de escolher partido entre o desejo do arcebispo de deixar que a Igreja mandasse e o convencimento de parentes e amigos de que as antigas tradições não deviam ser derrubadas, achavam os dois que o momento não era apropriado para essa contenda. E precisaram apenas de uma olhadela entre si para concordarem sobre a maneira de agir.
Um pouco mal-humorado pelo fato de os dois não terem dado mostras de entender aquilo que ele havia insinuado tão nitidamente com a sua bênção, o arcebispo virou-se rápido e dirigiu-se para o portão da igreja e entrou para realizar a missa.
Depois dele, entraram o rei e a rainha, Arn e Cecília, seus padrinhos e madrinhas, parentes e amigos, tantos quantos puderam arranjar lugar na pequena igreja.
A missa era para ser curta, pois o arcebispo sabia muito bem que o povo ficava cada vez mais impaciente, querendo ver o casamento, mais do que matar saudades do seu Deus. No entanto, ele recebeu uma inesperada ajuda dos próprios noivos nos cânticos, assim como do cisterciense integrado no séquito de Arn Magnusson. Nos cânticos de encerramento os três assumiram a situação por completo e cantaram cada vez com mais entusiasmo e, no final, com as lágrimas aflorando aos olhos da noiva e do noivo, cantaram em três vozes, com Cecília fazendo de soprano e sendo a primeira voz e o monge, com a sua voz grave, criando a terceira voz.
O arcebispo olhou em volta pela assembléia que parecia ter esquecido a pressa em abandonar a casa de Deus e chegar mais rápido à festa e aos prazeres terrenos. E, então, seu olhar se concentrou em Arn Magnusson que continuava, ao contrário do resto dos homens, com a sua espada à cintura. Primeiro, o arcebispo ficou com medo como se isso fosse um sinal de maus espíritos. Na realidade, ele nada de ruim podia descortinar nos olhos desse homem que cantava como os melhores cantores da igreja e com todo o sentimento. O arcebispo fez um rápido sinal-da-cruz e uma prece mental pedindo perdão por suas visões pecaminosas e sua idiotice ao relembrar que o noivo, na realidade, era um templário, mesmo que estivesse de manto azul, e que um templário era como se fosse um homem de Deus e que a espada na sua bainha negra com uma cruz dourada era uma espada abençoada pela Mãe de Deus e a única arma que podia entrar na igreja.
Com Arn Magnusson, ele teria de se comportar muito bem, decidiu o arcebispo. Isso porque um homem de Deus teria mais facilidade em entender o que precisava ser mudado para melhor neste reino onde almas cruas como as do rei Knut e de Birger Brosa dominavam-Seria mais inteligente conseguir trazer Arn Magnusson para o seu lado nas lutas que se aproximavam entre os poderes religioso e secular. Nesse sentido, esse templário devia ter mais entendimento do que qualquer um dos seus amigos desejosos de poder.
Esses pensamentos que para o arcebispo começavam a misturar maldade e desconfiança transformaram-se assim numa clara fé no futuro, tudo por conseqüência da maneira como os três mestres cantores tinham apresentado os salmos de Deus.
Como a quantidade de espectadores diminuiu depois da bênção do clérigo e da missa, o séquito da noiva levou apenas cerca de uma hora para viajar até Arnäs. Não havia mais tanto receio pela vida da noiva quando o pior já tinha passado e não se descortinava mais nenhuma ameaça séria. Todos os guerreiros tinham mudado de tática e mantinham agora o caminho mais curto para Arnäs sob total controle.
À frente do séquito e depois dos dois cavaleiros que empunhavam as bandeirolas do rei e do clã folkeano, seguiam Arn e Cecília, lado a lado, na direção de Arnäs. Não era assim que mandava a tradição, mas, nesse dia, uma coisa e outra saíam fora do habitual. O rei como aquele que fora buscar a noiva era um fato de que jamais se tinha ouvido falar. O casal de noivos cantando no coral da igreja, suplantando até mesmo gente do arcebispo, era outra idéia inédita. E o convidado jamais poderia cavalgar antes do anfitrião a caminho do seu burgo, mas e se o convidado fosse o rei e tivesse a rainha a seu lado? Na verdade esse casamento havia virado muita coisa do avesso.
Dentro dos muros de Arnäs surgiam tantas cores fortes que parecia impossível para o olho humano agüentar tantas variantes. A volta das barracas de cerveja se misturavam os mantos vermelhos, cor de sangue, de sverkerianos, com os azuis de erikianos e folkeanos. Mas havia também uma grande quantidade de roupagens estrangeiras em todas as cores, vestindo convidados que gostavam de se mostrar superiores, o que acontecia muito na corte do rei, ou os homens francos que Arn Magnusson trouxe consigo e que eram superiores demais para beber cerveja e cuja língua materna era totalmente incompreensível. Tambores e flautas eram tocados por todos os lados, havia artistas
jogando archotes no ar, bem alto, às voltas, mas que caíam sempre do jeito certo, havia ainda cantores tocando instrumentos de corda e cantando lendas francesas em cima de estrados levantados. O arcebispo também passava num palanquim pela praça do burgo e, de vez em quando, estendia o braço e com a mão distribuía bondosamente suas bênçãos para a direita e para a esquerda.
Arn e Cecília tinham de se separar de novo, visto que Cecília precisava subir no banco da noiva como prometido e colocado no meio da praça. E Arn precisou fazer o mesmo, diante dos seus amigos solteiros. Eskil tinha decidido assim para que todos pudessem ver a noiva e o noivo. Afinal, apenas metade dos convidados tinha lugar, mais tarde, na enorme sala da casa-grande. Para todos que eram obrigados a comer e a beber o quanto quisessem lá fora na praça, seria um desapontamento terem de se contentar com os piores lugares e nem sequer terem a chance de ver os noivos. Haviam sido levantados também assentos elevados iguais para o arcebispo, o rei e o senhor de Arnäs.
O irmão Guilbert subiu ágil e oportunamente pelos suportes de madeira e sentou-se ao lado de Arn, chamando, ao mesmo tempo, os tocadores de alaúde e os cantores francos para que se aproximassem e repetissem o que haviam cantado por último. Estimulados pelo fato de, mesmo assim, existirem entre os presentes alguns que conheciam também as letras das canções e não apenas as melodias, eles obedeceram de imediato. Tanto Arn quanto o irmão Guilbert se entreolharam, acenando com a cabeça, reconhecendo os primeiros versos da canção. O irmão Guilbert parecia até disposto a cantar uma parte de outros versos, ainda que tais canções fossem proibidas para ele.
No momento, a canção versava sobre o cavaleiro Roland que, diante da morte, tentou sem sucesso quebrar a sua Durendal para que ela não caísse nas mãos do inimigo cujo punho escondia relíquias sagradas, tais como um dente de São Pedro, sangue de São Basílio e um fio de uma saia que a Mãe de Deus usou. Mas a espada não se quebrava por muito forte que Roland, mortalmente ferido, tentasse e os anjos de Deus, por compaixão pelo herói, levantaram a espada para cima, para o céu, e Roland pôde então esconder-se na sombra de um pinheiro, com a trompa de guerra, o olifante, a seu lado. Virou a cabeça na direção das terras dos infiéis, de modo que o rei Karl, o Grande, não acabasse vendo o seu herói morto com o rosto covardemente desviado para o lugar errado. E ele se benzeu por seu pecado e estendeu a luva de guerra da mão direita, elevando-a na direção do céu, na direção de Deus. São Gabriel desceu então e a recebeu, ao mesmo tempo que levou a alma de Roland para o céu.
Arn e o irmão Guilbert ficaram emocionados com essa canção, já que ambos tinham facilidade em imaginar tudo o que se cantava como se tivesse acontecido com eles. Muitas eram as histórias que eles haviam ouvido sobre os cavaleiros cristãos na Terra Santa que quebraram suas espadas esperando pela morte enquanto entregavam a sua alma a Deus.
Quando os dois cantores provençais perceberam que existiam ouvintes que, realmente, eram tocados pela letra da canção, eles se aproximaram o quanto podiam do irmão Guilbert e de Arn e cantaram, verso em cima de verso, como se nunca mais quisessem terminar. A canção sobre o cavaleiro Roland não era das mais curtas.
Arn, que preferia ter pago para não ouvir os cantores, acabou se irritando com o fato de as canções demorarem para terminar e gritou na linguagem dos francos que agradecia muito, mas já bastava. Desapontados, os cantores silenciaram e se afastaram ao encontro de um novo público.
— Você devia ter dado algum dinheiro para eles — explicou o irmão Guilbert.
— Possível — disse Arn. — Eu não trago dinheiro comigo, tal como você não traz. Por isso, vou precisar me lembrar desses detalhes mais tarde. Estou ainda dominado pela sensibilidade do monge que fui. E não é fácil perder o hábito.
-— Então, está na hora de se desabituar de vez, já que a noite de núpcias está chegando — brincou o irmão Guilbert, porém se arrependeu de imediato ao ver que Arn ficou pálido perante essa lembrança.
Finalmente, soou a corneta indicando que a festa de verdade ia começar e metade dos convidados começou a dirigir-se para o portão da grande sala enquanto a outra metade ficou na praça, sem saber realmente como deviam se comportar para não demonstrar como estavam magoados por não estarem entre os cem convidados especiais. Mas quem demonstrou abertamente o seu desagrado foram os sverkerianos que se reuniram todos de modo a constituir uma grande mancha vermelha na praça. Isso porque, entre os que seguiam para dentro da grande sala, poucos eram os que vestiam mantos vermelhos e estes estavam vestindo apenas mulheres.
O mais bonito de todos esses mantos vermelhos era o de Ulvhilde Emundsdotter, a amiga mais querida de ambas as Cecílias desde os tempos negros no convento de Gudhem. A amizade entre as três mulheres era muito forte, embora existisse sangue entre elas. Arn, o futuro esposo de Cecília Rosa, havia cortado a mão de Emund, o pai de Ulvhilde. O marido de Cecília Blanka, Knut, foi quem matou Emund, após negociações fraudulentas.
As três seguiram na frente, bem juntas. A rainha Blanka já sabia onde iriam ficar sentadas naquela noite, todas as três juntas, em cima na banqueta da noiva, com as seis damas de honra embaixo.
Embora a noite fosse muito luminosa, muito clara, nessa época de verão, as chamas dos archotes iluminavam todos os recantos do salão quando os convidados entraram. Por cima do lugar de honra, junto da parede comprida, colocaram um grande tecido azul com um leão fol-keano desbotado, de tempos antigos, e de ambos os lados do lugar de honra o pessoal da casa, com pouco respeito, fixou dois alvos vindos dos jogos da noite de despedida de solteiro de Arn, de tal maneira que a primeira coisa que se via, nas sombras dançantes das chamas dos archotes, eram duas flechas cravadas no símbolo heráldico negro dos sverkerianos. À volta das flechas, num dos alvos, havia uma coroa dourada, para que todos pudessem ver com os próprios olhos aquilo que os rumores já propagavam por todos os cantos. O noivo tinha ele próprio atirado dez flechas tão juntas que uma coroa apenas podia envolvê-las. E tudo isso à distância de cinqüenta passos.
Ulvhilde era a que menos razões tinha, entre todos, para deixar de ver essa simbologia. Ao tomar seu lugar junto das Cecílias, suas amigas, lá em cima, na banqueta da noiva, ela riu: para sua felicidade, não tinha sido convidada para a noite anterior, em que, certamente, haveria que tomar cuidado com as suas costas para não receber uma flechada. Nas costas, bem no meio do manto vermelho, ela tinha o símbolo heráldico, a cabeça negra, com milhares de fios de seda, um trabalho bonito que as três amigas tinham feito, sendo as primeiras no reino a fazê-lo, durante o seu tempo no convento de Gudhem, na prisão da madre Rikissa.
Cecília Blanka achava que qualquer insulto jamais ficaria maior do que a importância que nós lhe quiséssemos dar e que Ulvhilde devia providenciar para que, da próxima vez que houvesse um torneio de tiro ao arco em suas terras, no burgo de Ulfshem, fosse um leão o alvo das flechas. Assim, os brincalhões receberiam de volta, pagos com a mesma moeda.
A banqueta do noivo estava localizada longe na sala, do outro lado da primeira mesa comprida. E no meio desta ficavam os lugares de honra. Era ali que estavam se sentando no momento Eskil e Erika Joarsdotter, cada um de cada lado do arcebispo. O rei tinha decidido sentar-se ao lado do noivo, assim como a rainha ao lado da noiva. Essa honra nunca havia sido vista na história do reino dos erikianos e folkeanos.
Mas quando todos se sentaram, Erika Joarsdotter deixou o seu lugar, preocupada, e foi até o portão onde ficou por momentos enquanto os murmúrios e os sussurros se espalhavam, visto que os convidados entendiam que nem tudo, afinal, estava certo. Maior foi então a surpresa que se seguiu. O velho senhor Magnus entrou no salão ao lado da sua esposa Erika, avançando lentamente, mas com passadas seguras e com grande garbo, entre as mesas, todo o caminho até o lugar de honra, onde se sentou ao lado do arcebispo, com Erika do outro lado. Um dos criados logo chegou com uma antiga trompa ornamentada com enfeites de prata e cheia de cerveja, entregando-a ao senhor Magnus, que se levantou, bem estável e seguro nas suas pernas, e ergueu a trompa para fazer um brinde. Logo se fez silêncio em toda a sala, diante da tensão e do assombro geral Todos pensavam que o senhor Magnus há muitos anos estava inválido e esperando apenas pela chegada da morte.
— Poucos foram os homens que tiveram o privilégio da alegria que eu recebi hoje! — disse o senhor Magnus, em voz alta e clara. —-Brindo agora com vocês, meus parentes e amigos, por ter recebido de volta da Terra Santa o meu filho e ter ganho mais uma filha para a minha casa, também por ter recebido a graça da recuperação da minha saúde e a alegria de ver parentes e amigos confraternizando em paz e harmonia. Razões melhores para erguer esta taça ninguém teve antes, entre os meus ancestrais!
O senhor Magnus bebeu, então, todo o conteúdo da trompa, de uma vez, sem deixar pingar uma só gota, embora para aqueles que estavam mais próximos ele tivesse estremecido um pouco já no esforço final.
Houve um momento de silêncio depois de o senhor Magnus se ter sentado e ter estendido a trompa dos seus ancestrais para Eskil. Mas a seguir veio a aprovação forte e clara num crescendo até o estrondo altissonante dos cem convidados batendo seus punhos na mesa. Logo depois, tocaram os pífaros e os tambores e comida foi servida por escravas vestidas de branco, enquanto os artistas contratados seguiam na frente, alegremente, realizando os seus truques.
— Com carnes, aves e cerveja, vamos evitar uma boa parte dos bocejos, o que é muito bom — disse a rainha Blanka, levantando o seu copo de vinho na direção das amigas Cecília e Ulvhilde. — E sem dúvida eles tinham motivos para lançar seus olhares para nós aqui em cima, vestidas de verde, vermelho e azul!
Elas estavam bebendo sem parar, visto que tanto Ulvhilde quanto Cecília tiveram uma explosão de riso diante da maneira indecente de a amiga disfarçar a inconveniência de bocejar, situação em que estavam há um bom tempo, sendo objeto de murmúrios e de dedos apontando o lugar onde estavam.
— É. Se quiserem ver mantos vermelhos aqui dentro, será difícil. Não somos muitos — disse Ulvhilde, representando uma pessoa refinada ao baixar o seu copo na mesa.
— Olha lá, querida amiga, não precisa exagerar — respondeu a rainha Blanka. — Você não está tão mal assim, em termos de honra. Está sentada ao lado da rainha e da noiva. E por sorte ainda está sentada aí com o manto do galo preto.
— Assim como você, nesse caso, está sentada aí com o manto das três coroas! — desdenhou Ulvhilde nesse ambiente de faz-de-conta.
O murmúrio de todos os convidados na sala aumentou, ficou cada vez mais alto, de tal maneira que elas se sentiram totalmente seguras de que podiam falar o que quisessem e não seriam ouvidas. A rainha Blanka achava que estava na hora de explicar tudo, enquanto ainda estivessem com a cabeça em ordem, já que em breve teriam bebido demais.
O mais importante a explicar, rápida e decisivamente, continuou ela, era o significado desse espetáculo, além de ser uma alegre festa de casamento. Sem dúvida, elas tinham muita coisa de que se alegrar, mais do que podiam ter sonhado no momento em que estavam as três como prisioneiras em Gudhem. Imagine-se se, naqueles momentos do mais profundo desespero, elas poderiam pensar que iriam estar ali como estavam, as três juntas, duas bem casadas e a terceira festejando seu casamento. Na realidade, o que aconteceu foi mais do que se poderia esperar, mas elas tinham o resto das suas vidas para falar da indescritível alegria e da incompreensível graça recebida. Aqui e agora, era preciso falar disso. Era preciso que a rainha falasse disso. Porque em breve não haveria mais tempo para tal.
E assim ficou a situação. Quase todos os homens do reino com algum poder estavam ali reunidos naquela sala. Todos, menos Birger Brosa. E alguns mais, do lado do bispado. Perto de Arn, lá longe, do outro lado da sala, brilhavam as três coroas, tanto no rei quanto no jovem conde. Junto da noiva, estava a rainha. E o arcebispo no lugar de honra.
E não foi pouco o que ela teve de lutar para estar tudo desse jeito. Seu marido e rei tinha resmungado e reclamado muito. Que, de forma alguma, queria ofender o seu conde, Birger Brosa. E nesse momento estava Birger Brosa, com a sua Brigida, sozinhos, em Bjälbo. E de mau humor. Não era bem isso que se queria, mas era, ainda assim, o que de melhor podia acontecer. A intenção era a de mostrar que o reino estava em harmonia, que os erikianos e os folkeanos estavam uns ao lado dos outros. Mais e melhor do que isso era impossível fazer.
— Mas, minha querida amiga, você disse que tudo isso era como se fosse um bom sonho para nós três, ficar aqui juntas. Você quer dizer com isso que não está aqui pela nossa amizade, mas por causa do poder? — objetou Cecília com uma expressão de quem, de repente, se sentiu ferida.
— Claro, claro que estou aqui por nossa amizade. Mas você precisa ver ambas as coisas. Há o outro lado da coisa, além da amizade que nos une, a você, a mim e a Ulvhilde. Vou tentar explicar! Ninguém poderá dizer que o rei fez uma manobra para tentar evitar esse casamento. Ninguém poderá dizer que estamos mortificados porque você não foi parar em Riseberga, com a cruz no peito e o véu na cabeça, com os sagrados votos feitos. Mas, se estivéssemos mortificadas, isso teria significado que o rei teria levado a sua vontade adiante. Mas, então, apenas Erik, o conde, estaria aqui, além do arcebispo. E metade dos convidados aqui presentes. E metade desses convidados aqui na sala teriam todos mantos vermelhos. Seria um casamento entre sverkerianos e folkeanos, mais do que entre erikianos e folkeanos. Os rumores da separação chegariam em breve a todos os recantos do reino. O rei e Arn passariam a olhar-se de lado. Birger Brosa teria recebido mais água para o seu moinho. Seria uma idiotice, mas é assim que os homens, muitas vezes, se comportam!
— Você é a única de nós três que serve para rainha — suspirou Ulvhilde. — Tudo o que você diz a respeito da luta pelo poder soa tão bem, tão inteligente, quando se ouve. O que ainda não consegui entender é como você consegue levar o seu Knut para onde você quer. É mais fácil para mim lá em casa, já que sou eu a proprietária das produções e do burgo. Mas como você consegue?
— Paciência é um dos princípios — respondeu a rainha Blanka com uma expressão de felicidade, bebendo o resto do seu vinho e estendendo o copo vazio para uma das escravas. — A exploração da vaidade dos homens é outro. A vaidade é o ponto fraco deles. O mais difícil é a paciência. O mais fácil é a exploração da vaidade. Quando contei para o meu querido marido que ele podia se tornar aquele que garantiria a paz no casamento, de que se falava tão mal em voz baixa, e de como ele podia se tornar amado como um rei nobre que evitava todas as manobras malvadas de alcançar seus fins, quer fosse ele a dar as ordens ou não, aí ele começou logo a escutar melhor. Como não seria possível evitar esse casamento, era melhor aproveitar do que ficar irritado. Melhor era que o rei, sem egoísmos e com todo o seu poder, colocasse as suas mãos protetoras sobre todos nós. Assim age um grande homem, amigo dos seus amigos e um bom soberano. E foi isso que
ele acabou entendendo ao final.
— Embora a primeira coisa que ele viu foi um irritado Birger Brosa e as duas Cecílias que eram contra seus planos! — reconheceu Ulvhilde, rindo, ao mesmo tempo que estendia o copo para receber mais vinho.
— É uma questão de dizer a mesma coisa, mas a cada vez com palavras novas. E aqui estamos nós, neste lugar, não apenas para a nossa satisfação, mas também para o bem do reino — disse a rainha, juntando as mãos de tanto prazer diante da bandeja de madeira que puseram na sua frente, com belos capões bem alinhados e com penas vermelhas e negras bem dispostas. Logo na hora dos cumprimentos, ela tinha segredado para Erika Joarsdotter que preferia evitar a carne de porco na mesa da noiva e que as suas duas amigas que também tinham vivido com ela no convento tinham o mesmo paladar.
E então foi feito o primeiro brinde à noiva, o primeiro skàk e Cecília levantou-se, corada e insegura, obrigada a beber todo o conteúdo de um copo de vinho, de que ela acabou deixando respingar algumas gotas no seu vestido branco.
— Vamos precisar de um pouco de água aqui — murmurou Ulvhilde. — Pois acho que haverá vários brindes à noiva ainda esta noite.
A rainha concordou e fez sinal para uma das escravas que tinha recebido ordens para ficar olhando sempre para a rainha durante toda a noite, jamais desviando o olhar.
Ao lado de Arn, no outro extremo da sala, lá bem em cima, na mesa do noivo, sentava-se o rei a um lado e Magnus Mâneskõld e Erik, o conde, no outro. Assim o próprio rei havia decidido, quando ouviu dizer que Magnus havia sido o melhor combatente, logo depois dos dois templários que, evidentemente, estavam lutando no seu próprio mundo.
O rei Knut passou o braço pelos ombros de Arn e contou longas histórias de como ele sofreu muito por não ter Arn ao seu lado durante aqueles anos sangrentos, antes de a coroa ficar segura na sua cabeça. Melhor amigo do que Arn ele não tinha na vida, já que Birger Brosa era mais um pai inteligente do que um amigo, isso ele podia confessar, agora, no momento, visto que ninguém podia ouvir o que os dois estavam falando. Jamais tinha hesitado, nem sequer por um momento, ao decidir vir ao casamento do seu melhor amigo, com todas as bandeiras e cavaleiros que pudesse reunir. E também não tinha duvidado nem um pouco de que esse casamento de seus dois amigos acontecia porque era a vontade de Deus e por graça de Nossa Senhora, além de ser um prêmio pela longa fidelidade e pela esperança jamais perdida que Arn e Cecília haviam demonstrado. Quem era ele, um pobre pecador, para se intrometer nos superiores desígnios do Senhor?
Como Cecília Rosa e a rainha eram grandes amigas, o prazer seria muito maior agora, quando passariam a ser vizinhos. Para os moradores de Forsvik, a igreja mais próxima estava localizada em Näs, e ele próprio e a sua rainha, com muito prazer, honrariam Forsvik com a sua presença, assim como ele esperava, sinceramente, que Arn e Cecília Rosa viessem com freqüência a Näs e não apenas para ir à igreja.
O rei falou muitas destas palavras mansas para Arn logo no começo da noite. Primeiro, Arn ficou muito satisfeito e aliviado. Tinha vivido por tanto tempo em um mundo onde a mentira e a falsidade eram proibidas que, agora, continuava acreditando em tudo o que lhe diziam. Mas um pouco mais tarde acabou recordando a saga sarracena a respeito do médico franco menos competente que resolveu aplicar mel nas feridas profundas causadas por golpes de espada.
O mel, na imaginação das pessoas, era o contrário de ferimento e dor, assim como o sal era o contrário de doce. E como o sal era o que fazia mais doer e mais feria, muitos acreditavam no benefício de mel. Dizia-se também que uma boa camada de mel sobre um ferimento grave fazia sentir um forte alívio de início. Mas depois de um curto período, o ferimento ficava pior e acabava fácil em gangrena.
Todos os construtores sarracenos ficaram sentados na segunda mesa comprida, mas bem perto da família do noivo. Arn foi quem cuidou para que ficassem ali, já que queria que todos vissem que eles recebiam o mérito pelo seu trabalho. Arn foi bastante cuidadoso, também, ao pedir mais de uma vez a Erika Joarsdotter para que providenciasse para eles água fresca e que os criados da casa evitassem apresentar qualquer tipo de carne de porco para os estrangeiros. Além disso, ele preferia sentar-se bem perto dos seus construtores para interferir caso houvesse a menor briga.
E nesse exato momento parecia que estava começando mesmo uma briga, se bem que a distância fosse impossível para ele saber do que se tratava. Fez um sinal para Knut como se tivesse chegado a hora de ir aliviar suas necessidades, desceu por trás da mesa e dirigiu-se para a saída, não sem antes fingir ter uma razão para parar junto dos sarracenos para deixar que eles lhe desejassem felicidades. E foi isso que fizeram, também, assim que ele chegou perto, ao mesmo tempo que a sua discussão logo terminou.
CONTINUA
Arn sentia-se mal aos seus olhos e aos olhos dos sarracenos por causa das suas roupas vaidosamente francófilas que farfalhavam muito por baixo do manto quando ele se mexia. Uma expressão de insatisfação também lhe parecia ver nos cantos das bocas dos sarracenos, embora estes fizessem o máximo para esconder isso. Ele perguntou por que, sem rodeios, mais à maneira dos nórdicos do que dos árabes, qual era o motivo da insatisfação e recebeu como resposta, de forma hesitante, que uma ou outra das iguarias oferecidas na mesa podia ser impura.
Rápido, Arn quis terminar com essa questão, antes que o rumor de que os francos não comiam carne de porco se espalhasse pela festa. Existia apenas uma maneira de obter o respeito, de imediato, dos sarracenos e sua obediência.
Como se ele apenas estivesse lendo alguns pedaços de uns versos em língua estranha, falou rindo para eles na própria língua de Deus.
— Em nome de Deus, Todo-Misericordioso e Clemente! — começou ele, e logo conseguiu o silêncio de toda a mesa. — Ouçam o primeiro verso da surata Al Maidah! O crentes, cumpri com vossas obrigações. Tem-vos sido permitido alimentarvos de reses de todas as espécies. Ou, por que não, as próprias palavras de Deus na surata Al Anam? Comei pois de tudo aquilo para o qual haja sido evocado o nome de Deus, se credes em Seus versículos. E que nos impede de desfrutar de tudo aquilo para o qual foi invocado o nome de Deus, uma vez que já vos foi especificado quanto ao proibido, salvo se vos virdes obrigados a tal? Muitos se desviam devido à sua luxúria, por ignorância: porém, teu Senhor conhece os profanadores.[1]
Mais do que isso Arn não precisava dizer. Nem tampouco precisava explicar como essas palavras deviam ser entendidas. Acenou com a cabeça, por amizade. E pensativamente, refletindo para si mesmo, como se tivesse lido apenas alguns versos seculares para divertir seus amigos e construtores, vindos da Terra Santa. E voltou tranqüilo para o seu lugar e o que maior admiração causou foi o mais bonito de todos os mantos folkeanos da terra e...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades