



Biblio VT




Embora nunca tenha aparecido na tela, eu cresci no cinema. Rodolfo Valentino esteve na festa do meu quinto aniversário — pelo menos foi o que me contaram. Só escrevo isso para indicar que, mesmo antes de me entender por gente, já estava a postos para ver girar as engrenagens.
Certa vez inventei de escrever um livro de memórias, A filha do produtor, mas aos dezoito anos nunca se vai muito longe numa empreitada dessas. Menos mal — ficaria sem graça como um velho artigo de Lolly Parsons. Meu pai trabalhava na indústria do cinema do mesmo jeito que outros pais labutavam na de algodão ou na de aço, e eu encarava isso com tranquilidade. Se me aborrecia, era com resignação, como um fantasma que aceita a casa assombrada para a qual foi designado. Tinha consciência do que as pessoas deviam pensar, mas me mantinha obstinadamente inabalada.
Algo fácil de falar, mas difícil de fazer as pessoas entenderem. Quando estudei em Bennington, alguns dos professores de literatura que fingiam indiferença a Hollywood e seus produtos na verdade os odiavam. E odiavam profundamente, como se aquilo fosse uma ameaça à sua existência. Ainda antes disso, no tempo em que estive num colégio de freiras, uma delas, pequenina e amável, me perguntou se eu não lhe arranjava um roteiro para ela “dar uma aula de escrita para cinema”, assim como já dera as de ensaio e conto. Consegui o roteiro para a freira, e acho que ela se debruçou sobre ele por um bom tempo, mas nunca o mencionou em sala e acabou por devolvê-lo para mim, com um ar de surpresa indignada, sem fazer nenhum comentário. É mais ou menos a reação que prevejo para esta história.
Pode-se passar incólume por Hollywood, como eu fiz, ou desprezá-la com o ódio que reservamos àquilo que não entendemos. Pode-se também entendê-la, mas apenas vagamente, e em flashes. Não chega a uma dúzia o número de homens que algum dia foram capazes de ter na cabeça a equação completa do cinema. E talvez tentar entender um desses homens é o mais próximo disso que uma mulher pode chegar.
O mundo visto de um avião, isso eu conhecia. Meu pai sempre nos embarcava num deles para as idas e vindas da escola e da faculdade. Depois que minha irmã morreu, eu, um pouco solene e melancólica, pensava nela a cada um desses trajetos, que passei a fazer sozinha, sendo ainda uma menina. Algumas vezes havia gente do cinema a bordo, e de vez em quando algum universitário bonitão — mas isso não era muito frequente durante a Depressão. Quase nunca conseguia dormir de verdade nos voos, e como poderia, com o pensamento em Eleanor e a sensação daquela fenda abrupta entre uma costa e outra? — era como me sentia pelo menos até que deixássemos para trás aqueles pequenos e solitários aeroportos do Tennessee.
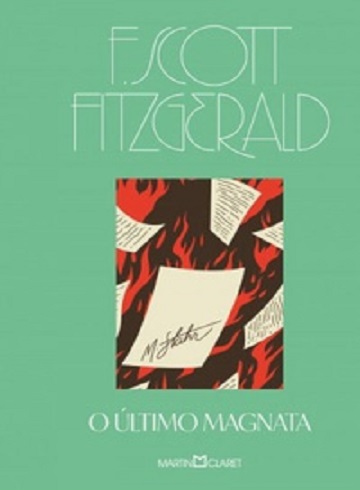
Aquele voo estava tão turbulento que os passageiros logo se dividiram em dois grupos, aqueles que apagaram logo de saída e aqueles que não queriam, de jeito nenhum, adormecer. Dois desses últimos ocupavam as poltronas do outro lado do corredor, e tive quase certeza, pelos pedaços de conversa, que eram de Hollywood — um deles porque a aparência levava a crer nisso: judeu de meia-idade, falava com um nervosismo excitado ou então caía num silêncio angustiante, encolhido como se pronto a levantar de um salto; o outro era um sujeito pálido e atarracado, tipo comum de uns trinta anos, e que eu tinha certeza de já ter visto antes. Devia ter ido lá em casa alguma vez ou coisa do tipo. Mas talvez, naquela ocasião, eu fosse apenas uma menininha, de modo que não me ofendi por ele não ter me reconhecido.
A aeromoça — alta, bonita, uma morena radiante, tipo aparentemente muito apreciado — me perguntou se podia preparar meu lugar para que eu dormisse.
“... e, querida, você quer uma aspirina?” Ela se debruçou na lateral da poltrona, precariamente apoiada enquanto chacoalhava de um lado para o outro em meio à tempestade. “... ou um nembutal?”
“Não.”
“Estava tão ocupada com os outros que nem tive tempo de perguntar.” Ela sentou ao meu lado e afivelou o cinto de ambas. “Quer um chiclete?”
A pergunta me lembrou que eu precisava me livrar daquele que estava na minha boca, já sem gosto, havia horas. Embrulhei-o num pedaço de revista, que depositei no cinzeiro automático.
“Sempre sei que uma pessoa é educada”, disse a aeromoça, satisfeita, “quando embrulha o chiclete num papel antes de colocar no cinzeiro.”
Ali ficamos, durante um tempo, à meia-luz na cabine que balançava. Parecia um pouco o ambiente de um restaurante chique no tempo morto entre almoço e jantar. Íamos todos nos deixando ficar — e não era algo deliberado, pelo menos não exatamente. Acho que até mesmo a aeromoça tinha de estar o tempo todo lembrando a si mesma por que estava ali.
Conversamos sobre uma jovem atriz que eu conhecia e com quem ela estivera num voo para a Costa Oeste dois anos antes. Foi na pior época da Depressão, e a jovem atriz não tirava os olhos da janela, e olhava para fora de um jeito tão determinado que a aeromoça temeu que estivesse pensando em pular. Mas parece que o que temia não era a pobreza, e sim a revolução.
“Sei o que nós, minha mãe e eu, vamos fazer”, ela confidenciou à aeromoça. “Vamos nos refugiar no Parque Nacional de Yellowstone e lá vamos viver uma vida simples até essa coisa toda passar. Aí a gente volta. Eles não matam artistas... sabia disso?”
A história me agradou. Evocava um quadro bonito, com a atriz e sua mãe sendo alimentadas por ursos bonzinhos, que lhes traziam mel, e por corças dóceis que, fornecendo-lhes leite extra tirado de suas mamães, ficariam aconchegadas junto às duas para servir-lhes de travesseiros durante a noite. Eu, por minha vez, contei à aeromoça sobre o advogado e o diretor de cinema que, naqueles tempos brabos, apareceram certa noite para falar ao papai de seus planos. O advogado tinha um barco escondido no rio Sacramento para o caso de a revolta dos veteranos de guerra chegar a Washington, e navegaria rio acima por alguns meses para então voltar, “porque sempre precisam de advogados depois das revoltas, para resolver a parte legal”.
O tom do diretor era mais derrotista. Mantinha a postos um velho terno, camisa e sapatos — não chegou a dizer se eram próprios ou se os havia arranjado no estúdio — e com eles ia Desaparecer na Multidão. Lembro de papai ter dito: “Mas vão olhar as suas mãos! Vão saber que você não faz trabalho braçal há anos. E vão pedir sua carteira do sindicato”. E lembro de o diretor ter ficado com uma cara péssima, muito soturno enquanto comia sua sobremesa, e do quanto eles me soavam engraçados e patéticos.
“Seu pai é ator, srta. Brady?”, quis saber a aeromoça. “Tenho certeza de que já ouvi esse sobrenome.”
Quando o ouviram, ambos os homens nas poltronas do outro lado do corredor ergueram a vista. De soslaio — aquele olhar de Hollywood, que parece sempre lançado por sobre o ombro. Então o rapaz pálido e atarracado soltou o cinto de segurança, levantou e parou no corredor ao nosso lado.
“Você é Cecilia Brady?”, perguntou, ostensivo, como se eu estivesse escondendo aquilo dele. “Estava mesmo te reconhecendo. Sou Wylie White.”
Nem precisava ter dito — no mesmo momento, uma outra voz falou: “Toma cuidado onde pisa, Wylie!”, e um segundo homem passou rente a ele pelo corredor em direção à cabine de comando. Wylie White se sobressaltou e, um pouco atrasado, ainda gritou ao outro, desafiando: “Só aceito ordens do piloto.”
Reconheci o tipo de deboche tão comum entre os poderosos de Hollywood e seus satélites.
A aeromoça o repreendeu: “Não fale tão alto, por favor. Alguns passageiros estão dormindo.”
Percebi, então, que o passageiro do lado de lá do corredor, o judeu de meia-idade, também estava de pé e olhava, de um modo não tão lascivo, mas sem nenhum pudor, na direção do homem que acabara de passar. Ou melhor, para as costas deste, que fez um gesto lateral com a mão, uma espécie de aceno de despedida, e desapareceu da vista.
Perguntei à aeromoça: “Ele é o copiloto?”.
Ela estava desafivelando o cinto, prestes a me abandonar à mercê de Wylie White.
“Não. Aquele é o sr. Smith. Ele está viajando na cabine privativa, a ‘suíte nupcial’ — só que sozinho. O copiloto sempre usa farda.” Levantou-se: “Quero ver se descubro se vamos descer em Nashville”.
Wylie White ficou agitado.
“Por quê?”
“Tem uma tempestade se formando no vale do Mississippi.”
“Então vamos ter de ficar aqui a noite toda?”
“Se o tempo continuar desse jeito!”
Um súbito mergulho indicou que continuaria. Lançou Wylie White sobre o assento que ficava de frente para o meu, fez a aeromoça precipitar-se corredor abaixo na direção da cabine de comando e pôs o judeu sentado. Após exclamações de contrariedade com a afetação deliberada e serena dos viajantes contumazes, voltamos a nos acomodar. Seguiram-se apresentações.
“Srta. Brady — Sr. Schwartz”, disse Wylie White. “Ele também é um grande amigo do seu pai.”
O sr. Schwartz assentiu com a cabeça com tamanha veemência que era como se dissesse: “É verdade. Juro por Deus, é verdade!”.
Talvez algum dia na vida ele tivesse mesmo alardeado o fato — mas ali estava um homem a quem, obviamente, algo havia acontecido. Conhecê-lo era como encontrar um amigo que havia acabado de sair nocauteado de uma briga de socos ou de uma batida de carro. “O que aconteceu com você?”, perguntaríamos. E ele, dentes quebrados e lábio inchado, responderia algo ininteligível, sem conseguir nem mesmo relatar o acontecido.
O sr. Schwartz não tinha nenhuma característica física marcante; o exagerado nariz adunco e as olheiras oblíquas eram-lhe tão naturais quanto, no meu pai, a vermelhidão tipicamente irlandesa em torno das narinas arrebitadas.
“Nashville!”, bramiu Wylie White. “Significa que vamos para um hotel. E que só vamos chegar à costa amanhã à noite — isso se chegarmos. Meu Deus! Eu nasci em Nashville.”
“Imagino que queira fazer uma visita.”
“Jamais — saí de lá há quinze anos. Nunca mais quero ver aquela cidade.”
Mas veria — porque o avião, não havia dúvida, já ia descendo, descendo, descendo, como Alice no buraco do coelho. Com as mãos em concha contra a janela, avistei o borrão de luz da cidade ao longe, à esquerda. O aviso em verde — “Apertar os cintos — Não fumar” — estava aceso desde que adentráramos a tempestade.
“Você ouviu o que ele disse?”, falou o sr. Schwartz, rompendo um de seus cáusticos silêncios do outro lado do corredor.
“Ouvi o quê?”, perguntou Wylie.
“Como ele se apresenta agora”, disse Schwartz. “Sr. Smith!”
“E qual é o problema?”, retrucou Wylie.
“Ah, nenhum”, Schwartz se apressou em rebater. “Só achei engraçado. Smith.” Era o riso mais sem alegria que eu já ouvira: “Smith!”.
Na minha opinião, desde o tempo das estalagens, nada se compara aos aeroportos — nada pode ser mais solitário, mais sombriamente silencioso. Os velhos galpões de tijolos vermelhos eram erguidos bem ao lado das cidadezinhas que os nomeavam — ninguém desembarcava num lugar remoto como aquele se não morasse ali. Mas os aeroportos nos fazem viajar pela história, como se fossem oásis, ou entrepostos das grandes rotas de comércio. A visão dos passageiros, sozinhos ou aos pares, perambulando pela pista madrugada adentro costuma atrair pequenas multidões até altas horas. Os mais jovens admiram os aviões, e os mais velhos, com seus olhares atentos de incredulidade, observam os viajantes. A bordo de enormes aeronaves destinadas a travessias transcontinentais, éramos os ricos habitantes da costa, que por acaso desceram das nuvens naqueles confins da América. Talvez entre nós houvesse grandes aventuras encarnadas em estrelas de cinema. Mas isso era raro. E eu sempre desejava ardentemente que parecêssemos mais interessantes — o mesmo desejo fervoroso que havia nas grandes estreias, quando os fãs desaprovavam, desdenhosos, que alguém estivesse ali sem ser uma estrela.
Na descida, como ele me ofereceu o braço à saída do avião, Wylie e eu de repente nos tornamos íntimos. Dali em diante, ele me marcou em cima — e eu não liguei. Desde o momento em que pisamos no aeroporto ficou claro que, se era para ficarmos ali, então ficaríamos juntos. (Não foi como da vez em que perdi meu amado — da vez em que ele tocava piano com aquela garota, Reina, num pequeno chalé na Nova Inglaterra, perto de Bennington, e enfim me dei conta de que o amor não era recíproco. Guy Lombardo flutuava no ar, “Top Hat” e “Cheek to Cheek”, e ela ensinava a ele as melodias. As teclas baixando como folhas caídas, e ela, mãos espraiadas sobre as dele, mostrando como fazer soar um acorde só de pretas. Eu estava no primeiro ano da faculdade na época.) Quando adentramos o aeroporto, o sr. Schwartz estava conosco, mas parecia perdido numa espécie de sonho. O tempo todo que passamos junto ao balcão, buscando informações mais confiáveis, ficou olhando fixamente em direção à porta de saída para a pista de pouso, como se temesse que o avião fosse decolar e deixá-lo ali. Pedi licença por alguns minutos e perdi alguma coisa do que foi dito, e quando voltei ele e White estavam bem próximos, White falando e Schwartz parecendo ainda mais como que premido por um caminhão enorme que vinha em marcha a ré para cima dele. Não mirava mais a porta de saída para a pista. Peguei o final de uma observação de Wylie White: “... avisei pra você calar a boca. É o melhor que você faz.”
“Eu só disse que...”
Ele se interrompeu quando me aproximei, e perguntei se conseguiram alguma informação. Àquela altura, eram duas e meia da manhã.
“Não muito”, disse Wylie White. “Eles acham que só vamos poder retomar a viagem daqui a três horas, então o pessoal mais acomodado está indo para um hotel. Mas eu gostaria de levar vocês ao Hermitage, antiga casa de Andrew Jackson.”
“E a gente vai conseguir ver alguma coisa no escuro?”, quis saber Schwartz.
“Ora essa, mais duas horas e o sol já nasce.”
“Vão vocês dois”, disse Schwartz.
“Tá certo — você pega o ônibus para o hotel. Ainda não saiu — e ele está lá.” Sua voz denotava certo escárnio. “Talvez seja uma boa.”
“Não, vou com vocês”, falou Schwartz, ligeiro.
Pegamos um táxi num descampado escuro e deserto lá fora, e ele pareceu se animar. Para me animar também, bateu de leve no meu joelho.
“É melhor mesmo eu acompanhar vocês”, disse, “ficar de olho. Há muito tempo, quando eu andava montado na grana, tive uma filha — uma filha linda.”
Falava como se ela tivesse sido entregue a seus credores na qualidade de valioso patrimônio.
“Você vai ter outra”, assegurou-lhe Wylie. “Vai tê-la de volta. A roda se move, um giro a mais e você vai estar à altura do pai da Cecilia, não é, Cecilia?”
“Onde fica esse Hermitage?”, perguntou Schwartz, ansioso. “No meio do nada? Não vamos perder o avião?”
“Deixa disso”, disse Wylie. “A gente devia ter trazido também aquela comissária pra te fazer companhia. Você não gostou dela? Eu achei a moça uma gracinha.”
Percorremos um descampado claro e plano por um bom tempo, com a vista se resumindo a uma estrada e uma árvore ou outra e um barraco para então, subitamente, costearmos em curva um bosque. Eu podia sentir, mesmo no escuro, que as árvores daquele bosque eram verdes — bem diferentes do tom oliva empoeirado das da Califórnia. A certa altura, passamos por um preto conduzindo três vacas, que mugiram quando ele as tocou para a beira da estrada. Eram vacas de verdade, de ancas quentes, vivas, sedosas, e o preto aos poucos ganhava contornos reais na escuridão, seus grandes olhos escuros nos encarando bem perto do carro, e Wylie lhe deu uma moeda. O homem falou: “Obrigado — obrigado”, e lá ficou, as vacas mugindo uma vez mais à medida que nos afastávamos na noite.
Pensei na primeira ovelha que me lembro de ter visto — centenas delas, nosso carro adentrando o rebanho no terreno dos fundos do velho estúdio Laemmle. Os bichos não estavam felizes com aquele negócio de fazer filme, mas os homens que iam conosco no carro não paravam de dizer: “Maravilhoso!”
“Era o que você queria, Dick?”
“Não é uma maravilha?” E o homem chamado Dick continuava de pé no carro, como se fosse Cortez ou Balboa, vendo ondular o mar de lã cinzenta. Se eu sabia qual era o filme que faziam, há muito tempo já esqueci.
Tínhamos rodado por uma hora. Cruzamos um riacho por sobre uma velha e gemebunda ponte de ferro e tábuas. Agora havia galos que cantavam e sombras verde-azuladas toda vez que passávamos por uma casa rural.
“Falei pra vocês que logo ia amanhecer”, disse Wylie. “Nasci perto daqui — filho de família sulista pobre, quase indigente. A mansão da família hoje é usada como casinha de banheiro. Contávamos com quatro empregados — meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. Eu me recusei a seguir o mesmo caminho, então fui para Memphis começar minha carreira, que agora chegou a um beco sem saída.” Ele passou o braço em torno dos meus ombros: “Cecilia, casa comigo, e a gente divide a fortuna dos Brady?”.
Ele sabia bem como vencer resistências, de modo que encostei a cabeça em seu ombro.
“O que você faz, Cecilia? Estuda?”
“Na Bennington. Terceiro ano.”
“Ah, me perdoe. Eu devia saber, mas não cheguei a ter o privilégio de frequentar uma faculdade. Terceiro ano, é? — li na Esquire que a esta altura os estudantes já não têm muito o que aprender, Cecilia.”
“Por que as pessoas pensam que moças de faculdade...”
“Não se justifique — conhecimento é poder.”
“Só de ouvir você falar já daria pra saber que estávamos a caminho de Hollywood”, eu disse. “Um lugar sempre tão retrógrado, anos e anos atrasado.”
Ele se fingiu de chocado.
“Está me dizendo que as moças da Costa Leste não têm vida privada?”
“Aí que está. Elas têm vida privada. Você está me incomodando, chega pra lá.”
“Não dá. Posso acabar acordando o Schwartz, e acho que esta é a primeira vez que ele consegue dormir em semanas. Escute, Cecilia: uma vez tive um caso com a esposa de um produtor. Um romance muito curto. Quando acabou, ela foi categórica ao me dizer: ‘Nunca, jamais comente sobre isso, ou vai ser expulso de Hollywood. Meu marido é um homem muito mais importante do que você!’.”
Passei a gostar dele de novo, e naquele momento o táxi entrou numa longa alameda perfumada de madressilvas e narcisos, parando junto ao enorme maciço cinzento da casa de Andrew Jackson. O motorista se virou para nos dizer alguma coisa sobre ela, mas Wylie pediu que não falasse, apontando para Schwartz, e descemos do carro sem alarde.
“Não podem entrar na mansão a esta hora”, comentou educadamente o taxista.
Wylie e eu nos sentamos nos degraus junto a largas colunas.
“E esse sr. Schwartz?”, perguntei. “Quem é?”
“Dane-se o Schwartz. Foi diretor de um dos estúdios associados algum dia — First National? Paramount? United Artists? Agora está por baixo. Mas volta. Ninguém que não seja um bocó ou um bêbado consegue ser proscrito do cinema.”
“Você não gosta de Hollywood”, palpitei.
“Gosto, sim. Claro que gosto. Caramba! Isto não é assunto pra se conversar na escadaria da casa de Andrew Jackson — de madrugada.”
“Eu é que gosto de Hollywood”, insisti.
“Tá certo. É uma cidade assentada sobre o ouro, reino do alucinógeno. Quem disse isso? Eu mesmo. Um bom lugar para quem é casca-grossa, mas cheguei lá vindo de Savannah, Geórgia. No primeiro dia fui a uma festa no jardim de um cara. Ele apertou minha mão e me largou ali. Tinha de tudo naquele lugar — piscina, musgo verde comprado a dois dólares a polegada, lindas gatas bebendo e se divertindo... e ninguém falava comigo. Nem uma única alma. Abordei um monte de gente, mas nenhuma respondia. Uma hora, duas, a mesma coisa — então levantei de onde estava sentado e corri dali no trote de um cão, feito um louco. Só tive certeza de que ainda era uma pessoa com identidade própria quando voltei ao hotel e o atendente me entregou uma carta endereçada a mim, com meu nome nela.”
Naturalmente eu nunca havia experimentado algo assim, mas, relembrando as festas a que já fora, me dei conta de que coisas como aquela podiam mesmo acontecer. A gente não se aproxima de estranhos em Hollywood, a não ser que fique bem claro que seu machado ficou bem guardado em outro canto e que, haja o que houver, não descerá sobre nosso pescoço — em outras palavras, a não ser que se trate de uma celebridade. E mesmo assim é melhor ter cuidado.
“Você não deveria se importar com isso”, falei, muito satisfeita. “Essa falta de educação não é uma coisa direcionada a você — é só um reflexo da relação que essas pessoas estabeleceram com quem conheceram antes.”
“Uma menina tão linda... dizendo coisas tão sábias.”
Para os lados do sol nascente, o céu se perturbava um pouco, impaciente, e Wylie podia me enxergar com clareza — magra, traços bem-feitos, muito estilo, e uma inteligência que dava os primeiros sinais de vida. Eu me pergunto que figura fazia eu naquele amanhecer, cinco anos atrás. A cara meio amassada e pálida, imagino, mas na minha idade àquela altura, quando se tem a ilusão juvenil de que todas as aventuras são boas, só precisava tomar um banho e trocar de roupa para seguir em frente por horas.
Wylie me encarou com uma admiração realmente lisonjeira — e de repente não estávamos mais sozinhos. O sr. Schwartz entrou, sem jeito, naquela bela cena.
“Bati num trinco enorme de metal”, disse, apalpando o canto do olho.
Wylie se sobressaltou.
“Bem na hora, sr. Schwartz”, falou. “O tour acaba de começar. O lar do décimo presidente americano. O conquistador de Nova Orleans, opositor feroz do sistema bancário nacional, inventor do apadrinhamento.”
Schwartz me olhou como se encarasse um júri.
“O que você tem aí é um escritor”, disse. “Sabe tudo e ao mesmo tempo não sabe nada.”
“Como é que é?”, falou Wylie, indignado.
Meu primeiro palpite havia sido mesmo de que ele era um escritor. Apesar de eu gostar de escritores — porque, se a gente pergunta qualquer coisa a um escritor, geralmente recebe uma resposta —, ainda assim aquilo o diminuía um pouco aos meus olhos. Escritores não são exatamente pessoas. Ou, quando são bons no que fazem, um pouco que seja, se tornam várias pessoas se esforçando muito para ser uma só. São como os atores, patéticos, tentando não se olhar em espelhos, inclinando-se para trás para não fazer isso — só para no fim se verem refletidos nos lustres.
“Não são assim os escritores, Cecilia?”, inquiriu Schwartz. “Não sei o que dizer deles. Só sei que é verdade.”
Wylie olhava para ele, e lentamente sua indignação crescia. “Já ouvi essa história antes”, falou. “Escuta, Manny, eu tenho muito mais senso prático do que você em todos os sentidos! Passei horas sentado num escritório ouvindo um tipo místico pra lá e pra cá a regurgitar um besteirol que, em qualquer lugar que não fosse a Califórnia, seria suficiente pro cara ir parar num manicômio — e, no final, ainda o ouvi me dizer que era um sujeito muito prático, e eu um sonhador — e eu só pensando em sair dali e ir dar algum sentido ao que ele tinha dito.”
A cara do sr. Schwartz ganhou contornos os mais desfigurados. Um olho apontava para cima, mirando por entre os olmos muito altos. Levantou uma das mãos e, displicente, mordiscou a cutícula do indicador. Um passarinho voava em torno da chaminé da casa, e Schwartz seguiu-o com o olhar. O pássaro pousou no alto da chaminé feito um corvo, os olhos do sr. Schwartz ainda fixos nele enquanto dizia: “Não podemos entrar, e já está na hora de vocês dois voltarem para o avião”.
Ainda não era exatamente dia claro. O Hermitage parecia uma bela e enorme caixa branca, mas um pouco solitária e ainda vazia, depois de cem anos. Voltamos ao carro. Só depois de termos embarcado, diante da atitude surpreendente do sr. Schwartz, que fechou a porta do táxi e ficou do lado de fora, é que nos demos conta de que ele não pretendia ir conosco.
“Não vou continuar a viagem até a costa — decidi isso ao acordar. Então fico por aqui, e mais tarde o motorista pode vir me buscar.”
“Vai voltar para o Leste?”, disse Wylie, surpreso. “Só porque ...”
“Resolvi”, falou Schwartz, sorriso débil no rosto. “Já fui um homem de decisão — você se surpreenderia.” Apalpou o bolso, o taxista já esquentando o motor. “Você poderia, por favor, entregar este bilhete ao sr. Smith?”
“Volto em duas horas?”, quis saber o motorista.
“Sim... claro. Vai ser uma satisfação dar uma olhada nas redondezas.”
Fiquei pensando nele o caminho todo de volta ao aeroporto — tentando enquadrá-lo àquela hora da madrugada naquela paisagem. Tinha saído de algum longínquo gueto para vir parar naquele tosco santuário. Manny Schwartz e Andrew Jackson — difícil acomodá-los na mesma frase. Era duvidoso que, passeando ali em volta, soubesse quem foi Andrew Jackson, mas, talvez tenha raciocinado, se haviam preservado sua casa, Andrew Jackson deve ter sido alguém importante e bondoso, compreensivo. Nos dois extremos da vida, o que um homem precisa é de algo que o sustente: um seio, um santuário. Um lugar para se encostar quando ninguém mais o queira, e ali meter uma bala na cabeça.
Nas vinte e quatro horas seguintes, claro, ainda não sabíamos do fato. Ao chegarmos ao aeroporto, informamos à tripulação que o sr. Schwartz não seguiria conosco e, com isso, esquecemos o assunto. A tempestade havia se afastado para o leste do Tennessee e desabado sobre as montanhas, e decolaríamos em menos de uma hora. Passageiros ainda sonolentos iam aparecendo, vindos do hotel, e cochilei algumas vezes sentada num daqueles instrumentos de tortura que eles chamam de sofás. Aos poucos, a ideia de uma viagem perigosa foi ressurgindo dos escombros de nosso fracasso: uma nova aeromoça, alta, bonita, morena e radiante, exatamente como a outra exceto pelo uniforme, listrado em vez de com estampa à francesa, passou por nós a passos enérgicos carregando uma maleta. Wylie permaneceu sentado ao meu lado enquanto esperávamos.
“Você entregou o bilhete ao sr. Smith?”, perguntei, meio dormindo.
“Sim.”
“Quem é esse sr. Smith? Acho que ele estragou a viagem do senhor Schwartz.”
“A culpa foi do Schwartz.”
“Tenho preconceito contra gente que passa por cima dos outros”, falei. “Meu pai tenta fazer isso em casa e digo pra ele reservar esse comportamento para quando está no estúdio.”
Eu me perguntei se estava sendo justa; palavras não valiam nada àquela hora da manhã. “E mesmo assim ele passou por cima de mim ao me mandar para Bennington, e sempre lhe serei grata por isso.”
“Que bela colisão seria”, disse Wylie, “se os dois rolos compressores, Brady e Smith, se encontrassem.”
“O sr. Smith é concorrente do papai?”
“Não exatamente. Acho que não. Mas, se fosse, sei em qual dos dois apostaria meu dinheiro.”
“No papai?”
“Temo que não.”
Era ainda muito cedo para uma demonstração de patriotismo familiar. O piloto estava no balcão de informações e balançou a cabeça enquanto observava, com o chefe do pessoal de bordo, um potencial passageiro que havia depositado um níquel no fonógrafo automático e, entregue ao álcool, recostava-se num banco tentando vencer o sono. A primeira música que escolhera, “Lost”, ressoou feito um trovão na sala, seguida, após breve intervalo, de outra escolha sua, “Gone”, igualmente dogmática e definitiva. O piloto balançou a cabeça, enfático, e foi até onde estava o passageiro.
“Acho que o senhor não vai poder embarcar desta vez, amigão.”
“Quê?”
O bêbado endireitou-se, com a aparência deplorável, embora ainda se vislumbrasse ali um homem atraente, e tive pena dele, apesar da música passionalmente mal escolhida.
“Volte para o hotel e durma um pouco. Tem outro avião saindo hoje à noite.”
“Só levanto daqui pra voar.”
“Não desta vez, amigão.”
De tão desapontado, o bêbado caiu do banco — e, mais alto que o fonógrafo, um anúncio no sistema de som nos chamou, as pessoas de bem, a sair dali. No corredor do avião, esbarrei em Monroe Stahr e caí por cima dele, ou o fiz de propósito. Ali estava um homem sobre o qual qualquer garota se atiraria, tivesse ou não um motivo para isso. Eu claramente não tinha, mas ele gostava de mim e se sentou na minha frente, na poltrona oposta, até o avião decolar.
“Vamos todos pedir nosso dinheiro de volta”, sugeriu. Seus olhos escuros me engoliam, e fiquei pensando em que aparência teriam se ele se apaixonasse. Era um olhar gentil, distanciado, e, embora quase sempre educadamente atento, denotava um pouco de superioridade. Não tinha culpa por enxergar tanto. O homem entrava e saía do papel de “um dos rapazes” com destreza — mas, no geral, diria que não era um deles. Mas sabia se calar, se recolher, ficar ouvindo. De onde estava (e, apesar de nem ser tão alto, parecia ver tudo de cima), ele observava as múltiplas circunstâncias de seu mundo feito um jovem pastor de rebanhos para quem o fato de ser noite ou dia nem sequer tinha importância. Nascera insone, sem talento para o repouso ou desejo de repousar.
Ficamos sentados num silêncio constrangido — eu o conhecia desde que se tornara sócio do papai, mais de uma década antes; na época, tinha sete anos e ele, vinte e dois. Wylie estava do outro lado do corredor, e eu não sabia se devia ou não apresentá-los, mas Sathr insistia em rodar um anel no dedo de maneira tão indiferente que me fez sentir-me jovem e invisível, e não pensei mais nas apresentações. Jamais ousava tirar os olhos dele ou olhar diretamente para ele, a menos que tivesse algo importante a dizer — e eu sabia que Stahr provocava essa mesma reação em muita gente.
“Vou te dar este anel, Cecilia”, ele disse.
“Desculpa. Nem reparei que eu estava ...”
“Tenho mais um monte igual a este.”
Ele me entregou o anel, uma pepita de ouro com a letra S destacada em relevo. Eu estava pensando, pouco antes, no contraste esquisito daquele volume com seus dedos, que eram delicados e delgados como o resto do corpo, e com o rosto fino com as sobrancelhas arqueadas, o cabelo escuro encaracolado. Às vezes parecia bem-humorado, mas era um lutador — uma pessoa que o conhecera no passado e sabia da gangue de garotos que ele tivera no Bronx descreveu para mim a cena, Stahr sempre à frente do grupo, menino até bem frágil, dando uma ou outra ordem à boca pequena para os que vinham atrás.
Stahr fechou minha mão com o anel na palma, ficou de pé e se dirigiu a Wylie.
“Pode vir para a suíte nupcial”, falou. “Até mais, Cecilia.”
Antes que os dois se afastassem a ponto de não poder ouvi-los, escutei a pergunta de Wylie: “Você leu o bilhete do Schwartz?”. E Stahr: “Ainda não.”
Devo ser meio lenta, pois só então me dei conta de que Stahr era o sr. Smith.
Mais tarde, Wylie me contou o que havia no bilhete. Escrito à luz dos faróis do táxi, era quase ilegível.
Caro Monroe, você é o melhor dentre eles todos e sempre admirei sua mentalidade, então sei que não adianta se voltar contra mim! Não devo prestar e não vou seguir nessa jornada, então deixa eu te dizer de novo: cuidado! Eu sei.
Seu amigo Manny Stahr leu o bilhete duas vezes e levou a mão até a barba amanhecida que lhe crescia no queixo.
“O cara está com os nervos em frangalhos”, falou. “Não há nada que se possa fazer — absolutamente nada. Sinto muito não ter atendido as expectativas — mas não gosto da ideia de um cara me abordar pra dizer que está fazendo aquilo por mim.”
“Talvez estivesse”, disse Wylie.
“Péssima estratégia.”
“Funcionaria comigo”, respondeu Wylie. “Sou fútil como uma mulher. Se alguém finge se interessar por mim, peço mais. Gosto de ser aconselhado.”
Stahr balançou a cabeça, repugnado. Wylie continuou bulindo com ele — era um dos únicos a quem tal privilégio era permitido.
“Você se rende a alguns tipos de bajulação”, falou. “Essa coisa de ‘pequeno Napoleão’.”
“Me embrulha o estômago”, disse Stahr, “mas não é tão ruim quanto um cara tentando ajudar.”
“Se você não gosta de conselhos, por que contratou a mim?”
“Questão de mercado”, falou Stahr. “Sou um comerciante. Quero comprar o que você tem na cabeça.”
“Você não é um comerciante”, retrucou Wylie. “Conheci um monte deles nos meus tempos de publicidade, e concordo com Charles Francis Adams.”
“O que ele disse?”
“Conheceu todos — Gould, Vanderbilt, Carnegie, Astor — e dizia que não fazia questão de encontrar nenhum deles no além. Bom ... esse pessoal não melhorou em nada desde então, e é por isso que digo que você não é um comerciante.”
“Adams era um rabugento, provavelmente”, disse Stahr. “Queria ele mesmo ser patrão, mas não tinha tino ou, pior, caráter.”
“Tinha tutano”, falou Wylie, afiado e desagradável.
“Precisa mais do que isso. Vocês, escritores e artistas, se cansam e começam a confundir tudo, aí tem de vir alguém pra botar vocês na linha.” Ele deu de ombros. “Parecem tomar as coisas pelo lado pessoal, odiando e idolatrando as pessoas — sempre achando que pessoas são tão importantes — especialmente vocês mesmos. Parece que pedem pra ser descartados. Gosto das pessoas e gosto que elas gostem de mim, mas levo o coração no lugar onde Deus o colocou — do lado de dentro.”
Ele se interrompeu.
“O que foi que eu disse ao Schwartz no aeroporto? Você se lembra... exatamente?”
“Você falou: ‘O que quer que esteja querendo, a resposta é não!’.”. Stahr ficou em silêncio.
“O Schwartz estava derrubado”, disse Wylie, “mas fiz ele dar umas risadas. Levamos a filha do Billy Brady pra dar uma volta.”
Stahr chamou a aeromoça.
“Aquele piloto”, falou, “ele se importaria se eu fosse lá para a cabine por um tempo?”
“Isso não é permitido, sr. Smith.”
“Peça a ele que dê uma chegadinha aqui quando tiver um tempinho.”
Stahr passou a tarde toda lá na frente. Nesse tempo, flutuamos acima do deserto sem fim e dos planaltos tingidos de tinturas de muitas cores, feito a areia branca que pintávamos quando eu era criança. Depois, no final da tarde, foram os próprios picos das montanhas — o Serrote Congelado — que deslizaram sob nossos motores, já perto de casa.
Nos momentos em que não estava cochilando, eu ficava pensando que desejava me casar com Stahr, queria fazê-lo me amar. Ah, quanta presunção! O que tinha eu a oferecer? Mas não pensava assim naquele tempo. Eu tinha o orgulho das moças cuja fonte de poder são pensamentos sublimes tais como “sou tão boa quanto ela”. Para o que eu pretendia, era tão bela quanto as grandes beldades que, inevitavelmente, deviam chover sobre ele. Meu breve lampejo de interesse intelectual me tornava apta a brilhar como um ornamento em qualquer salão.
Hoje sei que isso era absurdo. Embora a formação de Stahr não fosse muito além de um curso noturno de estenografia, fazia muito que, à frente de todos, ele percorria os ermos descaminhos da percepção até paragens às quais poucos homens eram capazes de segui-lo. Mas eu, em minha presunção imprudente, alçava maliciosamente meus olhos verdes à altura dos olhos castanhos dele, as batidas jovens e atléticas do meu coração contra as dele, já um pouco desaceleradas pelos anos de excesso de trabalho. E planejei e maquinei e tramei — as mulheres é que sabem —, mas nunca deu em nada, conforme vocês verão. Até hoje gosto de pensar que, se ele fosse um rapaz pobre da minha idade, podia ter me dado bem, mas a verdade verdadeira é que eu não tinha nada a oferecer que ele já não possuísse; algumas das minhas mais românticas noções decerto haviam saído de filmes — Rua 42, por exemplo, era uma grande influência. É mais do que possível que alguns dos filmes que o próprio Stahr concebera tivessem delineado quem eu era.
De modo que era um caso perdido. Emocionalmente, ao menos, as pessoas não podem viver tão dependentes.
Mas daquela vez era diferente: o papai podia ajudar, a aeromoça podia ajudar. Ela talvez fosse à cabine e dissesse a Stahr: “Se é que alguma vez vi o amor, foi nos olhos daquela garota”.
O piloto quem sabe ajudasse: “Cara, você está cego? Por que não volta pra lá?”.
Wylie White podia ajudar — em vez de ficar parado no corredor olhando indecisamente para mim, perguntando-se se eu estava dormindo ou acordada.
“Senta”, falei. “Novidades? Onde estamos?”
“Em pleno ar.”
“Ah, então é isso. Senta.” Tentei me mostrar interessada, animada: “Sobre o que você está escrevendo?”.
“Que os céus venham em meu socorro: é sobre um Escoteiro — sobre O Escoteiro.”
“É ideia do Stahr?”
“Não sei — ele me falou pra dar uma olhada nessa coisa. É capaz de ter uns dez roteiristas trabalhando, mais adiantados ou mais atrasados do que eu, um sistema muito bem pensado por ele. Então quer dizer que você está apaixonada?”
“Claro que não”, indignei-me. “Eu o conheço desde criança.”
“Desesperadamente, hein? Bom, posso dar um jeito nisso pra você, e aí você usa toda a sua influência pra me ajudar. Quero uma unidade só pra mim.”
Fechei os olhos e deslizei devagar rumo ao sono. Acordei com a aeromoça me cobrindo com uma manta.
“Falta pouco”, ela disse.
Pela janela pude ver, à luz do pôr do sol lá fora, que estávamos em território mais verde.
“Acabei de ouvir uma coisa engraçada”, a aeromoça puxou conversa, “lá na cabine — aquele sr. Smith — ou sr. Stahr — não lembro de ter visto o nome dele alguma vez...”
“Nunca aparece nos filmes”, falei.
“Ah. Bem, ele estava perguntando aos pilotos uma porção de coisas sobre voar — enfim, está interessado mesmo nisso, você sabia?”
“Sabia.”
“Enfim, um dos pilotos me disse que podia apostar que em dez minutos ensinava o sr. Stahr a conduzir um voo solo. O homem tem uma mentalidade e tanto, foi o que ele me disse.”
Eu estava ficando impaciente.
“E o que tem de tão engraçado nisso?”
“Bem, um dos pilotos perguntou ao sr. Smith se gostava do ramo em que trabalha, e ele falou: ‘Claro. Claro que gosto. É bom ser o único doido normal num bando de doidos varridos’.”
A aeromoça dobrou o volume da risada — e eu estava a ponto de cuspir nela.
“Enfim, chamar aquele pessoal todo de bando de doidos. Enfim, doidos varridos.” Parou de rir, súbita e inesperadamente, e seu rosto assumiu um ar grave enquanto ela se punha de pé. “Bem, tenho de ir terminar de atender o pessoal.”
“Tchau.”
Stahr, era evidente, havia dado intimidade suficiente aos pilotos para lhes permitir que subissem um pouquinho ao patamar dele. Anos mais tarde, viajei com um desses mesmos comandantes, e ele me contou uma coisa que Stahr dissera.
Stahr olhava para as montanhas lá embaixo.
“Imagine que você é um chefe de ferrovia”, falou. “Você precisa mandar um trem pra algum lugar ali no meio. Bom, chega o relatório do seu fiscal de trilhos e você descobre um monte de falhas, três, quatro, uma dúzia delas, e nenhuma rota é melhor que a outra. Você tem de decidir... com base em quê? Não dá pra sair testando qual é o melhor caminho — é escolher um e ir por ele. É o que você acaba fazendo.”
O piloto achou que tinha perdido alguma coisa.
“E o que isso quer dizer?”
“Que a gente escolhe um caminho sem ter razão alguma — porque aquela montanha é rosa, ou porque o mapa é mais bonitinho. Entende?”
O piloto tomou aquilo como um conselho muito valioso. Mas duvidou que algum dia estaria em situação de aplicá-lo.
“O que eu queria saber”, ele me disse, pesaroso, “era como foi que ele chegou a se tornar o sr. Stahr.”
Acho que Stahr jamais poderia ter respondido à pergunta; o embrião ainda não tem o recurso da memória. Mas eu, sim, consigo responder em parte. Ainda muito jovem, com asas fortes, ele havia voado bem alto, de onde pôde ver. Lá de cima avistou todos os reinos com o tipo de olho com que se pode mirar diretamente o Sol. Batendo as asas tenazmente — freneticamente, afinal — e sem parar, permaneceu no ar por mais tempo do que a maioria de nós, e então, lembrando tudo que vira de como são as coisas daqueles píncaros, aos poucos se acomodara de volta à terra.
Motores desligados, nossos cinco sentidos começaram a se reajustar para o pouso. À frente e à esquerda, avistava-se a fileira de luzes da Base Naval de Long Beach, à direita, o borrão cintilante de Santa Monica. A lua da Califórnia apareceu, enorme e alaranjada, sobre o Pacífico. Fosse como fosse que eu me sentisse em relação a essas coisas — e elas me diziam que estava em casa, afinal de contas —, sei que o sentimento de Stahr devia ser muito maior. Aquelas eram as coisas que eu primeiro vira ao abrir os olhos para o mundo, como as ovelhas no terreno dos fundos do estúdio Laemmle; mas havia sido ali o lugar em que ele pousara de retorno à terra, depois daquele voo luminoso em que enxergou para onde íamos, e como éramos fazendo o que fazíamos, e quanto isso importava. Pode-se dizer que foi aí que um vento perigoso o apanhou, mas não penso assim. Prefiro achar que, numa “tomada panorâmica”, ele percebeu uma nova maneira de avaliar nossas esperanças espasmódicas e delicadas trapaças e mágoas incômodas, e que por escolha própria veio para estar conosco até o fim. Como o avião que descia no aeroporto de Glendale, adentrando a treva quente.
2
Eram nove horas de uma noite de julho, e alguns figurantes ainda se demoravam na lanchonete em frente ao estúdio — ao estacionar, pude vê-los debruçados sobre as máquinas de jogo. O “Velho” Johnny Swanson estava parado na esquina em seu traje meio caubói, o olhar perdido na lua. Algum dia fora um dos grandes do cinema, como agora Tom Mix ou Bill Hart — hoje, era triste falar com ele, de modo que me apressei a atravessar a rua e entrar pelo portão principal.
Um estúdio jamais é um ambiente totalmente quieto. Sempre tem alguma equipe de técnicos do turno da noite nos laboratórios e nas salas de dublagem, o pessoal da manutenção dando um pulo no refeitório. Mas os ruídos são todos diferentes — o som abafado de pneus, o tranquilo ronronar de um motor em giro inercial, o agudo nu de uma soprano num microfone no meio da noite. Virando uma esquina, topei com um homem em botas de borracha lavando um carro sob uma maravilhosa luz branca — uma fonte em meio às sombras mortas daquela indústria. Ao ver o sr. Marcus sendo amparado para entrar em seu carro em frente ao prédio da administração, diminuí o passo, pois ele demorava um bocado para dizer o que quer que fosse, até mesmo um boa-noite — e, enquanto esperava, me dei conta de que a soprano estava cantando sem parar, e repetidamente, Come, come, I love you only; lembro disso porque ela prosseguiu com o mesmo verso durante o terremoto. Faltavam ainda cinco minutos para começar.
Os escritórios do papai estavam localizados no prédio antigo, com suas sacadas compridas e corrimões de ferro cuja aparência era, incorrigivelmente, a de cordas bambas. Papai ficava no segundo piso, Stahr de um lado e o sr. Marcus do outro — naquela noite havia luzes acesas ao longo de toda a sequência de escritórios. Eu ia com um friozinho na barriga pela proximidade com Stahr, mas já controlava bem a sensação naquele momento — só o vira uma vez naquele mês desde que estava em casa.
Muita coisa havia de peculiar no escritório do papai, mas vou resumir. Do lado de fora, três secretárias com cara inescrutável, as quais, até onde minha memória alcançava, desde sempre estiveram ali, feito bruxas, Birdy Peters, Maude não-sei-de-quê e Rosemary Schmiel, a decana do trio — não sei se era esse o nome, mas debaixo da sua escrivaninha ficava o abre-te-sésamo que dava acesso à sala do trono do papai. Todas as três eram capitalistas ferrenhas, e Birdy tinha inventado a regra segundo a qual, se datilógrafas fossem vistas fazendo as refeições juntas mais de uma vez na semana, mereceriam advertência do alto escalão. Naquela época os estúdios temiam ser controlados pelas massas.
Entrei no escritório. Hoje em dia qualquer executivo tem imensas salas de visita, mas a do meu pai foi a primeira. Também foi a primeira a ter vidros espelhados nos janelões altos, e ouvi falar de um alçapão no assoalho que engoliria visitantes desagradáveis, lançando-os numa masmorra, mas acredito que fosse invenção. Havia um grande quadro de Will Rodgers exposto ostensivamente e destinado, acho, a sugerir um parentesco essencial entre papai e o são Francisco de Hollywood; havia uma foto autografada de Minna Davis, a falecida mulher de Stahr, e de outras celebridades do estúdio, além de grandes desenhos a giz meus e da mamãe. Naquela noite, os janelões estavam abertos, e a lua, enorme, em tons dourado e róseo e envolta em névoa, entrava inevitável por uma delas. Papai, Jacques La Borwitz e Rosemary Schmiel estavam ao fundo, reunidos em torno de uma grande mesa circular.
Que aparência tinha o papai? Não seria capaz de descrevê-lo, exceto daquela vez em que o encontrei em Nova York sem estar esperando; percebi então aquele homem corpulento de meia-idade, parecendo um pouco envergonhado de si mesmo, e desejei que saísse dali — e foi aí que vi que era o papai. Depois fiquei chocada com essa minha impressão. Papai consegue ser bem magnético — com seu queixo duro e seu sorriso de irlandês.
Quanto a Jacques La Borwitz, prefiro poupá-los. Digo apenas que era um produtor-assistente, tipo subalterno, e basta. Sempre me espantava pensando de onde Stahr desenterrava aqueles cadáveres mentais, ou por que se obrigava a suportar uns tipos assim — e, especialmente, como é que conseguia torná-los úteis de alguma forma —, algo que espantaria qualquer recém-chegado da Costa Leste que topasse com eles. Sem dúvida que Jacques La Borwitz tinha lá seu interesse, mas protozoários submicroscópicos ou um cão uivando por uma cadela e um osso também têm. Jacques La... meu Deus!
Pela expressão no rosto deles, soube com certeza que falavam de Stahr. Ele tinha dado uma ordem qualquer, ou proibido alguma coisa, ou desafiado o papai, ou arruinado um dos filmes de La Borwitz, ou feito algo catastrófico do tipo, e ali estavam eles, em protesto noturno, uma comunidade revoltada e impotente. Rosemary Schmiel, bloco de anotações em punho, parecia pronta a pôr no papel o abatimento dos três.
“Me mandaram te levar pra casa vivo ou morto”, falei para o papai. “Tem um monte de presentes de aniversário apodrecendo nos pacotes!”
“Aniversário!”, berrou Jacques, numa profusão de desculpas. “Quantos anos? Eu não sabia.”
“Quarenta e três”, respondeu papai, indubitável.
Era mais velho — quatro anos —, e Jacques sabia; vi que anotava aquilo para usar em alguma ocasião. Por estas bandas, cadernos de notas são carregados abertos. Pode-se ver o que é anotado sem que se precise de leitura labial, e Rosemary Schmiel, por emulação, marcou alguma coisa também no seu. Enquanto apagava uma anotação, a terra tremeu debaixo de nós.
Não sentimos o tremor em cheio, como em Long Beach, onde os pisos de cima das lojas foram lançados às ruas e hoteizinhos levados pelo mar — mas, por um minuto, nossas entranhas e as da Terra eram uma coisa só, como num pesadelo em que tentássemos religar nosso cordão umbilical e voltar ao útero da criação.
A foto da mamãe caiu da parede, revelando um pequeno cofre — Rosemary e eu nos enganchamos freneticamente uma à outra para uma estranha valsa, dançada aos gritos pela sala. Jacques desmaiou, ou ao menos desapareceu, enquanto o papai se agarrava à escrivaninha e berrava: “Você está bem?”. Pela janela, lá fora, a cantora chegou ao clímax de “I love you only”, parou por um momento e então, juro, começou de novo. Ou talvez tenham ligado o gravador para ela se ouvir.
A sala restou imóvel, trepidando um pouquinho. Alcançamos a porta, Jacques subitamente conosco outra vez, ressurgido, e cambaleamos tontos pela antessala até a sacada de ferro. Quase todas as luzes tinham se apagado e, aqui e acolá, ouvíamos gritos e gente chamando. Permanecemos um instante ali, esperando por um segundo tremor — então, como que num impulso coletivo, seguimos até o vestíbulo do escritório de Stahr, e dali para dentro.
Era grande, mas não tanto quanto o do papai. Stahr estava sentado na lateral de seu sofá e esfregava os olhos. No momento do terremoto, dormia, e ainda não tinha certeza se não sonhara aquilo. Quando o convencemos de que não, achou tudo muito engraçado — até que os telefones começaram a tocar. Observei-o com a maior discrição possível. Tinha a aparência pálida de cansaço, atento ao telefone e ao ditafone; mas, à medida que chegavam os relatos, recobrou o brilho nos olhos.
“Alguns canos devem ter estourado”, falou, dirigindo-se ao papai, “estão indo dar uma olhada lá nos fundos.”
“O Gray está filmando na Aldeia Francesa”, falou papai.
“O entorno da Estação alagou também, e ainda a Selva e a Esquina. Caramba — parece que ninguém se feriu.” De passagem, ele apertou minha mão, solene: “Por onde você andou, Cecilia?”.
“Você vai até lá, Monroe?”, perguntou papai.
“Quando tiver as informações todas: uma das linhas de energia caiu também — avisei o Robinson.”
Me fez sentar com ele no sofá e contar sobre o tremor novamente.
“Você parece cansado”, falei, graciosa e maternal.
“Pois é”, concordou ele, “não tenho pra onde ir à noite, então não paro de trabalhar.”
“Vou programar umas saídas pra você.”
“Costumava jogar pôquer com um pessoal”, ele disse, pensativo, “quando era solteiro. Mas os rapazes todos se acabaram na bebida.”
A srta. Doolan, secretária dele, entrou com más notícias fresquinhas.
“O Robby vai cuidar de tudo quando chegar”, assegurou Stahr ao meu pai. Virou-se para mim. “Esse cara é o seguinte — o Robinson. Resolve qualquer encrenca — consertava linhas telefônicas debaixo de tempestades de neve em Minnesota —, nada é empecilho para o homem. Já, já ele chega — você vai gostar do Robby.”
Falou isso como se a vida toda tivesse tido a intenção de nos apresentar, e como se o terremoto em si tivesse sido pensado só para isso.
“Pois é, você vai gostar do Robby”, repetiu. “Quando volta pra faculdade?”
“Acabei de chegar.”
“Vai ficar o verão todo?”
“Desculpe”, respondi. “Volto na primeira oportunidade.”
Estava confusa. Não deixou de me passar pela cabeça que ele talvez tivesse alguma intenção em relação a mim, mas, se fosse o caso, ainda num estágio muito inicial — eu era meramente “um bom ativo”. E a ideia não me parecia muito atraente àquela altura — como casar com um médico. Raramente ele saía do estúdio antes das onze.
“Quanto tempo falta”, ele perguntou ao meu pai, “pra ela se formar na faculdade? Era o que eu estava tentando dizer.”
E acho que o que eu estava ansiosa para dizer, alto e bom som, era que não ia voltar coisa nenhuma, que já tinha estudado o suficiente — foi então que apareceu o incrível Robinson. Era um rapaz ruivo de pernas tortas e pronto para o que desse e viesse.
“Este é o Robby, Cecilia”, disse Stahr. “Vem cá, Robby.”
Pois fiquei conhecendo Robby. Não posso dizer que parecia o destino — mas era. Porque foi Robby quem, mais tarde, me contou a história de como Stahr encontrou o amor naquela noite.
*
À luz da lua, os doze mil metros quadrados do terreno dos fundos eram uma terra encantada — não porque as locações pareciam, de verdade, selvas africanas, chatôs franceses, escunas no ancoradouro ou a Broadway à noite, mas por se assemelharem a surrados livros infantis ilustrados, feito fragmentos de histórias bailando em torno de uma fogueira. Nunca vivi numa casa com sótão, mas um terreno como aquele deve ser parecido, e à noite, claro, como que por encanto e numa visão distorcida, tudo fica real.
Quando Stahr e Robby chegaram, fachos de luz já iluminavam os pontos mais perigosos da inundação.
“Vamos drenar isso aí para o banhado da rua 36”, falou Robby em seguida. “É uma área da prefeitura, mas o que aconteceu aqui foi ato divino, não foi? Me digam — olhem só aquilo lá!”
Sobre o topo da cabeça gigante de uma deusa Shiva, duas mulheres boiavam correnteza abaixo de um rio que se formara. A estátua tinha se desgarrado de um cenário simulando Burma e ziguezagueava impávida, abrindo caminho e às vezes parando, aqui e ali, em solavancos e desvios à medida que achava espaços em meio aos outros destroços da inundação. As duas refugiadas tinham encontrado abrigo num tufo encaracolado sobre a testa nua da estátua e pareciam, à primeira vista, visitantes fazendo um interessante tour no local da enchente.
“Olha só aquilo, Monroe!”, disse Robby. “Olha só aquelas senhoras!”
Arrastando as pernas para se locomoverem em meio àquele pântano recém-formado, elas conseguiram chegar a uma das margens do curso d’água. Agora dava para vê-las, um pouco assustadas, mas animadas com a perspectiva de um resgate.
“Devíamos deixá-las ir embora pelo cano de escoamento”, falou Robby, um cavalheiro, “mas DeMille precisa daquela cabeça pra semana que vem.”
Ele não faria mal a uma mosca, porém, e naquele momento, com água pela cintura, tentava resgatar as mulheres com uma vara, mas tudo que conseguia era girá-la em círculos nauseantes. Chegaram reforços, e rapidamente já se comentava como era bonita uma das duas, e em seguida que eram gente importante. Mas não passavam de visitantes comuns, e Robby estava só esperando que as coisas ficassem sob controle para lhes passar uma descompostura.
“Ponham essa cabeça de volta aí!”, gritou para elas. “Estão pensando que é um suvenir?”
Uma das mulheres deslizou devagar pela bochecha da estátua, e Robby a apanhou e colocou em terra firme; a outra moça hesitou um pouco, mas seguiu a primeira. Robby virou-se para Stahr em busca de um veredicto.
“O que fazemos com elas, chefe?”
Stahr não respondeu. A não mais do que um metro e pouco de distância dele, o rosto de sua falecida esposa lhe sorria debilmente, idêntico até mesmo na expressão. Aquele metro e pouco sob o luar, e ali estavam os olhos que ele conhecia e o encaravam, a mecha sobre a fronte familiar balançando de leve na brisa; o sorriso se mantinha, um pouquinho alterado mas ainda reconhecível; os lábios se entreabriram — os mesmos. Um medo horrível o tomou, e ele queria gritar bem alto. Ela voltava da câmara mortuária, junto com o deslizar abafado da limusine fúnebre, as flores cobrindo o caixão já perdendo suas pétalas, voltava da escuridão — e ressurgia ali, viva e radiante. O rio passou por ele num turbilhão, os enormes holofotes piscaram súbitos — e ele, então, ouviu uma voz que não era a de Minna.
“Desculpem”, disse a voz. “A gente entrou atrás de um caminhão por um dos portões.”
O incidente havia reunido uma pequena multidão — eletricistas, motoristas de caminhão, técnicos em geral — e Robby passou a fustigá-los feito um cão pastor.
“... peguem as bombas grandes dos tanques do estúdio 4... passem um cabo em torno dessa cabeça, depois icem com umas ripas de dois por quatro... drenem primeiro a água da Selva, pelo amor de Deus... esse cano aí, podem largar... é tudo plástico esse negócio...”
Stahr ficou parado observando as duas moças, que seguiam um policial em direção ao portão de saída. Então deu um pequeno passo, experimentando para ver se a fraqueza nos joelhos tinha passado. Um trator barulhento foi chegando aos solavancos pelo lamaçal, e mais o fluxo de homens que, ao passar perto dele, sorriam, falavam: “Olá, Monroe... Olá, sr. Stahr... noite úmida, sr. Stahr... Monroe... Monroe... Stahr... Stahr... Stahr”.
Ele respondia e acenava de volta à medida que o pessoal ia passando na escuridão, acho que parecendo um pouco o Imperador e sua Velha Guarda. Um mundo inexistente, mas com seus heróis, e Stahr era o herói. A maioria daqueles homens estava ali fazia bastante tempo — dos primórdios à grande mudança, quando o som foi introduzido, chegando aos três anos de Depressão, e ele cuidara para que não sofressem. Antigas lealdades agora eram abaladas, revelavam-se pés de barro por todo lado; mas ele ainda era o homem forte daquela gente, o último dos príncipes. E era saudado pelos que ali passavam, uma espécie de contida celebração do herói.
3
Da noite em que chegara em casa até o terremoto, eu havia feito muitas observações.
Sobre o papai, por exemplo. Eu amava o papai — uma espécie de amor que, num gráfico, faz muitas curvas de queda —, mas comecei a ver que sua firme determinação não o tornava um homem aceitável. A maior parte do que conquistara era fruto de astúcia. Com sorte e sagacidade, tinha adquirido — junto com o jovem Stahr — um quarto do negócio promissor que era aquele circo. Na vida, empenhara-se nisso — tudo o mais era um instinto para a espera. Ele, claro, fazia aquele jogo de cena para Wall Street sobre os mistérios de produzir um filme, mas papai não sabia nem o bê-á-bá da dublagem ou mesmo do processo de montagem. Não que tivesse aprendido muito sobre o espírito da América servindo mesas num bar em Ballyhegan, nem que soubesse grande coisa sobre enredos. Por outro lado, não ficava fingindo que trabalhava, ao contrário de...; chegava ao estúdio antes do meio-dia e, tendo desenvolvido seu senso de desconfiança como quem fortalece um músculo, era difícil que deixasse passar alguma coisa.
Em Stahr encontrou sua sorte — e Stahr era ainda algo mais. Era um divisor de águas na indústria, como Edison e Lumière, Griffith e Chaplin. Elevava seus filmes muito acima do alcance e do poder do teatro, atingindo uma espécie de era de ouro, anterior à censura.
A prova de sua liderança era a espionagem que o rondava — não apenas em busca de informações em primeira mão ou de processos secretos protegidos por patentes —, mas atrás de seu faro para tendências que cairiam no gosto popular, de seus palpites sobre como as coisas se desenvolveriam. Consumia além da conta sua vitalidade apenas se esquivando desse assédio. Era isso que tornava seu trabalho algo sigiloso, em parte, muitas vezes furtivo, lento — e tão difícil de ser descrito quanto os planos de um general, em que os fatores psicológicos acabam sendo tão sutis que simplesmente contabilizamos sucessos e fracassos. Mas me comprometi a dar a vocês um vislumbre de como ele trabalhava, e isso justifica o que se segue. Foi baseado em parte num trabalho que escrevi para a faculdade, O dia de um produtor, e parte saiu da minha imaginação. Os acontecimentos que eu mesma inventei são, no mais das vezes, aqueles mais ordinários, ao passo que os mais estranhos são os verdadeiros.
*
Na manhã seguinte à inundação, logo cedo, um homem se dirigiu à sacada externa do prédio da administração. Deixou-se ficar por ali algum tempo, segundo uma testemunha ocular, então montou no corrimão de ferro e mergulhou de cabeça para a calçada embaixo. Balanço de fraturas — um braço.
A srta. Doolan, secretária de Stahr, contou-lhe sobre o incidente quando ele a chamou, às nove. Tinha dormido no escritório e não percebera a mais leve perturbação.
“Pete Zavras!”, exclamou Stahr, “o cinegrafista?”
“Foi levado ao consultório de um médico. Não vai sair nos jornais.”
“Que encrenca”, disse Stahr. “Sabia que ele estava na pior — mas não o porquê. Estava bem quando trabalhou pra nós há dois anos — por que teria vindo aqui? Como conseguiu entrar?”
“Deu o golpe usando seu antigo crachá do estúdio”, falou Catherine Doolan. Era uma mulher severa, casada com um diretor-assistente. “Talvez o terremoto tenha algo a ver com a história.”
“Ele era o melhor cinegrafista da cidade”, disse Stahr. Depois de ouvir sobre as centenas de mortos em Long Beach, ainda continuava assombrado pelo suicídio não consumado na madrugada. Mandou que Catherine Doolan acompanhasse o caso.
As primeiras mensagens começaram a chegar pelo ditafone na manhã quente. Falava e escutava enquanto fazia a barba e tomava o café. Robby deixara uma mensagem: “Se o sr. Stahr perguntar por mim, que se dane, estou dormindo”. Um ator estava doente, ou achava que estava; o governador da Califórnia daria uma festa; um supervisor havia espancado a esposa com repercussão nos jornais e devia ser “rebaixado a roteirista” — todos os três casos a cargo do papai — a menos que o ator estivesse sob contrato pessoal com Stahr. Uma neve precoce caía numa locação no Canadá com a equipe já no local — Stahr percorreu rapidamente as possibilidades de correção de rumos, revendo o enredo do filme. Nada. Ligou para Catherine Doolan.
“Quero falar com o policial que retirou duas moças do terreno dos fundos ontem à noite. Acho que o nome dele é Malone.”
“Sim, sr. Stahr. Estou com Joe Wyman na linha — é sobre as calças.”
“Alô, Joe”, falou Stahr. “Escute — duas pessoas que assistiram às sessões de teste reclamaram que em metade do filme a braguilha do Morgan aparece aberta... devem estar exagerando, claro, mas mesmo que apareça só uns segundos... não, não tenho como saber quem são as pessoas, mas quero que você veja e reveja o filme até encontrar essas cenas. Ponha um monte de gente na sala de projeção — alguém há de conseguir enxergar.”
Tout passe. — L’art robuste
Seul a l’éternité.
“E o príncipe da Dinamarca está aí”, disse Catherine Doolan. “É muito bonito...”, e ela se sentiu impelida a acrescentar, sem que houvesse por quê: “... em se tratando de um homem alto”.
“Obrigado”, respondeu Stahr. “Obrigado, Catherine, por me considerar o baixinho mais bonito do pedaço. Mande o príncipe dar um passeio pelos cenários e diga a ele que almoçamos juntos à uma.”
“E também está aí o sr. George Boxley — parece muito irritado, à maneira britânica.”
“Falo com ele em dez minutos.”
Quando ela ia saindo, ele perguntou: “Robby ligou?”.
“Não.”
“Ligue no departamento e, se souberem dele, mande chamar e pergunte o seguinte. Pergunte o seguinte a ele — se ouviu o nome daquela mulher ontem à noite. De qualquer uma das duas. Ou se ouviu qualquer outra coisa que possa ajudar a encontrá-las.”
“Algo mais?”
“Não, mas diga que é importante tentar saber delas enquanto ele ainda se lembra. Quem eram? Quero dizer, que tipo de gente — pergunte isso a ele, também. Quero dizer, se elas eram...”
Ela aguardou, rabiscando umas palavras no bloco sem levantar a vista.
“... ah, se elas eram... suspeitas? Afetadas? Deixa pra lá... esqueça isso. Apenas pergunte se ele sabe como encontrar as duas.”
O policial, Malone, não sabia de nada. Duas senhoras, ele tinha escoltado as duas, positivo. Uma delas estava machucada. Qual das duas? Uma delas. Tinham um carro, um Chevvy — ele chegou a pensar em lhes apreender a habilitação. A mais bonita — era ela a que estava machucada? Era uma das duas.
Não sabia qual — não tinha reparado em nada de diferente. Mesmo entre o pessoal ali, Minna havia sido esquecida. Em três anos. Assunto encerrado, então.
Stahr sorriu para o sr. George Boxley. Era um sorriso paternal e gentil, bem diferente daquele de quando era um jovem recém-promovido ao alto escalão. Nessa época, sorria de maneira respeitosa para os veteranos do ramo até que, mais tarde, uma vez que suas próprias decisões já sobrepujavam as deles, passou a fazê-lo de modo que não percebessem isso — emergindo, finalmente, o sorriso de agora: um sorriso bondoso — por vezes um pouco apressado e cansado, mas sempre presente — exibido a qualquer um que não o tivesse irritado na hora anterior. Ou a qualquer um que ele não pretendesse insultar, agressivo e direto.
O sr. Boxley não correspondeu ao sorriso. Entrou como se estivesse sendo violentamente arrastado até ali, embora ninguém, aparentemente, o obrigasse. Parou em frente a uma cadeira e, de novo, foi como se dois acompanhantes agarrassem seus braços e o forçassem a se sentar. Ali ficou, contrariado. Mesmo ao acender um cigarro a convite de Stahr, alguém diria que o fósforo era guiado por forças externas que ele não fazia nenhuma questão de controlar.
Stahr o encarou, cortês.
“Alguma coisa errada, sr. Boxley?”
O romancista o encarou de volta num silêncio eloquente.
“Li sua carta”, disse Stahr. O tom agradável de jovem diretor de escola tinha desaparecido. Falava a um igual, com uma vaga e ambígua deferência.
“Nada do que escrevo é aproveitado”, desabafou Boxley. “Você tem me tratado com muita decência, mas é uma espécie de conspiração. Aqueles dois redatorzinhos com quem você me pôs para trabalhar me escutam, mas depois estragam tudo — parece que o vocabulário deles não passa de umas cem palavras.”
“Por que o senhor não escreve sozinho?”, quis saber Stahr.
“É o que tenho feito. Te mandei alguma coisa.”
“Mas aquilo é só conversa, um fala daqui, outro de lá”, disse Stahr, amenizando o tom. “Interessante, mas nada mais que conversa.”
A essa altura os dois acompanhantes fantasmas mal conseguiam manter Boxley sentado na cadeira. Ele lutava para se levantar; soltou um único rosnado baixo, algo semelhante a uma risada, embora nada divertida, e falou: “Acho que vocês não leem coisa nenhuma. Os homens estão duelando quando acontece a conversa. No final, um deles cai num poço e é resgatado num balde.”
Rosnou de novo e se recolheu.
“O senhor escreveria isso num livro seu, sr. Boxley?”
“Como é? Claro que não.”
“Acha banal demais para um livro.”
“O padrão dos filmes é outro”, respondeu Boxley, esquivando-se.
“O senhor costuma ir ao cinema?”
“Não — quase nunca.”
“Será que é porque nos filmes as pessoas estão sempre duelando e caindo em poços?”
“Sim — e fazendo expressões faciais cansadas em diálogos incrivelmente forçados.”
“Deixe os diálogos de lado um momento”, falou Stahr. “Admito que seus diálogos são mais bem-acabados do que os que esses redatorzinhos são capazes de escrever — por isso o contratamos. Mas vamos imaginar algo que não se resuma nem a diálogos ruins nem a gente pulando em poços. No seu escritório tem uma estufa que acende com fósforo?”
“Acho que sim”, disse Boxley, tenso, “mas nunca uso.”
“Suponha que o senhor está em seu escritório. Passou o dia duelando ou escrevendo e está cansado demais para continuar no combate ou na escrita. Está ali parado, olhar perdido — prostrado, como todos ficamos de vez em quando. Uma bela estenógrafa, em quem já tinha reparado, adentra o recinto e o senhor a observa, ocioso. Ela não o está vendo, embora vocês estejam bem próximos. Tira as luvas, abre a bolsa e espalha o conteúdo sobre a mesa...”
Stahr ficou de pé, largando o chaveiro sobre a escrivaninha.
“Ela tem duas moedas de dez centavos e uma de cinco — mais uma caixa de fósforos. Deixa a moeda de cinco centavos na mesa, põe de volta na bolsa as duas de dez, leva suas luvas pretas até a estufa e, depois de abri-la, coloca as luvas dentro. Com o único fósforo da caixa, ajoelhada junto à estufa, começa a acendê-la. O senhor repara que um vento mais forte sopra da janela — mas seu telefone toca. A moça atende, diz alô — fica escutando — e então responde, deliberadamente: ‘Nunca tive um par de luvas pretas’. Desliga, ajoelha-se novamente junto à estufa e, no momento em que está acendendo o fósforo, o senhor olha em torno e vê que há outro homem no escritório, a observar cada movimento da moça...”
Stahr fez uma pausa. Pegou de volta as chaves e as pôs no bolso.
“Continue”, falou Boxley, sorrindo. “O que acontece?”
“Não sei”, disse Stahr. “Só estava inventando um filme.”
Boxley sentiu que tinha acabado de ser ludibriado.
“Isso não passa de melodrama”, devolveu.
“Não necessariamente”, falou Stahr. “Em todo caso, ninguém cometeu nenhuma violência, nem pronunciou um diálogo banal, nem apareceu com alguma expressão facial. Houve uma única fala ruim, e um escritor como o senhor poderia melhorá-la. Mas a cena lhe interessou.”
“Para que ela ia usar a moeda de cinco?”, quis saber Boxley, evasivo.
“Não sei”, respondeu Stahr. E riu de repente. “Ah, sim... a moeda ela separou pra ir ao cinema.”
Os dois acompanhantes invisíveis pareceram liberar Boxley. Ele relaxou, recostou-se em sua cadeira e riu.
“Por que diabos você paga meu salário?”, perguntou. “Não entendo patavina desse negócio.”
“Vai acabar entendendo”, falou Stahr, sorriso no rosto, “ou não teria perguntado sobre a moeda.”
*
Um homem moreno de olhos esbugalhados esperava do lado de fora do escritório quando saíram.
“Sr. Boxley, este é o sr. Van Dyke”, falou Stahr. “O que me conta, Mike?”
“Nada”, respondeu Mike. “Só dei uma passada pra conferir se você ainda existia.”
“Por que não vai trabalhar?”, devolveu Stahr. “Faz dias que não dou umas risadas no set.”
“Estou com medo de acabar tendo um colapso nervoso.”
“Você precisa manter a forma”, disse Stahr. “Vamos ver do que é capaz.” Voltou-se para Boxley: “Mike é quem cria as gags — eu ainda estava nas fraldas e ele já andava por aí. Mostre ao sr. Boxley o truque dos braços abanando, aquele do agarra, chuta e vaza”.
“Aqui?”, perguntou Mike.
“Aqui mesmo.”
“Mas não tem espaço. Queria te perguntar sobre...”
“Tem espaço de monte.”
“Bem”, ele olhou em torno, avaliando. “Você dá o tiro.”
A assistente da srta. Doolan, Katy, apanhou um saco de papel e o encheu de ar.
“Essa é uma rotina”, Mike explicou a Boxley, “dos tempos de Keystone.” Virou-se para Stahr: “Ele sabe o que é uma rotina?”.
“É um número”, Stahr esclareceu. “George Jessel falava da ‘rotina representada por Lincoln em Gettysburg’.”
Katy mantinha a boca do saco cheio de ar próxima à sua própria, pronta para começar. Mike estava de costas para ela.
“Podemos?”, perguntou Katy. Desceu a mão contra a lateral do corpo. Imediatamente ele agarrou o traseiro com ambas as mãos, saltou no ar, deslizando e tirando os pés do chão um após o outro, mas sem sair do lugar, e batendo os braços duas vezes feito um pássaro...
“Braços abanando”, mostrou Stahr.
... então correu para fora do recinto pela porta de tela que o contínuo segurava aberta para ele e desapareceu da vista ao passar pela janela da sacada.
“Sr. Stahr”, disse a srta. Doolan, “o sr. Hanson está na linha, de Nova York.”
Dez minutos depois, desligou o ditafone e a srta. Doolan entrou no escritório. Uma das estrelas do elenco masculino o aguardava no vestíbulo, informou a secretária.
“Diga a ele que deixei o prédio pela sacada”, ele a instruiu.
“Certo. É a quarta vez que aparece esta semana. Parece muito ansioso.”
“Deu alguma pista do que está querendo? Será que não é alguma coisa que o sr. Brady possa resolver?”
“Ele não disse. Está quase na hora da sua reunião. A srta. Meloney e o sr. White já chegaram. O sr. Broaca está aqui ao lado, no escritório do sr. Reinmund.”
“Mande o sr. Roderiguez entrar”, decidiu Stahr. “Diga que não tenho mais do que um minuto pra atendê-lo.”
Stahr permaneceu de pé quando o belo ator entrou.
“Que assunto é esse tão urgente?”, perguntou, simpático.
O ator teve o cuidado de esperar até que a srta. Doolan tivesse se retirado.
“Monroe, estou acabado”, disse ele. “Precisava te ver.”
“Acabado!”, falou Stahr. “Viu a Variety? Seu filme continua em cartaz no Roxy e fez trinta e sete mil em Chicago na semana passada.”
“Isso é que é o pior. Essa é que é a tragédia. Consigo tudo que quero e não significa nada.”
“Bem, vamos lá, explique isso.”
“Está tudo terminado com a Esther. Não pode mais haver nada entre nós, nunca mais.”
“Uma briga.”
“Ah, não — pior — não consigo nem falar. Minha cabeça está virada do avesso. Ando por aí feito um louco. Tenho atuado como um sonâmbulo.”
“Não reparei”, disse Stahr. “Você estava ótimo nas filmagens de ontem.”
“Estava? Isso só mostra que as pessoas nunca se apercebem.”
“Está tentando me dizer que você e a Esther estão se separando?”
“Acho que é o que vai acabar acontecendo. Sim — inevitavelmente —, vai acontecer.”
“Que foi que houve?”, quis saber Stahr, impaciente. “Ela entrou sem bater?”
“Ah, não, não tenho outra. O problema é comigo — só comigo. Estou acabado.”
Stahr compreendeu de repente.
“Como sabe que é isso?”
“Faz seis semanas que estou assim.”
“É sua imaginação”, falou Stahr. “Já foi a um médico?”
O ator aquiesceu.
“Tentei de tudo. Cheguei até... um dia, em desespero, cheguei mesmo a ir... ao Claris. Mas não adiantou nada. É o meu fim.”
Stahr teve a tentação travessa de lhe dizer que procurasse Brady. Era ele quem resolvia todas as questões de relações públicas. Ou será que aquilo se encaixava em relações privadas? Desviou o rosto por um momento, recobrou uma expressão controlada, voltou a olhar para o ator.
“Já falei com Pat Brady”, disse o astro, como se adivinhasse seu pensamento. “Ele me deu uma porção de conselhos inócuos, tentei todos, mas nada. Sento diante da Esther na hora do jantar e tenho vergonha de encará-la. Ela tem sido muito generosa quanto ao problema, mas estou envergonhado. Sinto vergonha o dia todo. Acho que Dia chuvoso faturou vinte e cinco mil em Des Moines e quebrou todos os recordes em St. Louis, fez vinte e sete mil em Kansas City. As cartas de fãs não param de chegar, e aqui estou eu, com medo de ir pra casa à noite, com medo de ir pra cama.”
Stahr começou a se sentir levemente oprimido. De início, quando o ator entrou no escritório, tinha a intenção de convidá-lo para um coquetel, mas isso parecia fora de questão agora. O que teria o homem a fazer num coquetel com aquilo a atormentá-lo? Visualizou o ator na festa, rondando feito um fantasma de um convidado a outro, um drinque na mão e um faturamento que chegava a vinte e sete mil.
“Por isso te procurei, Monroe. Nunca vi uma situação para a qual você não encontrasse uma saída. Falei pra mim mesmo: mesmo que ele me aconselhe a me matar, vou perguntar ao Monroe.”
A campainha soou na mesa de Stahr — ele ligou o ditafone e ouviu a voz da srta. Doolan.
“Cinco minutos, sr. Stahr.”
“Desculpe”, respondeu Stahr. “Vou precisar de outros cinco.”
“Quinhentas colegiais foram em procissão da escola até minha casa”, contou o ator, pesaroso, “e fiquei lá, atrás das cortinas, observando-as. Não conseguia sair.”
“Senta aí”, falou Stahr. “Vamos conversar com calma o tempo que precisar.”
No vestíbulo, dois dos participantes da reunião já estavam esperando havia dez minutos — Wylie White e Jane Meloney. Ela era uma loira baixinha e muito magra de uns cinquenta anos sobre a qual circulavam cinquenta opiniões diversas em Hollywood — “uma tola sentimental”, “a melhor roteirista de Hollywood”, “uma veterana”, “aquela velha redatorazinha”, “a mulher mais inteligente do pedaço”, “a mais esperta plagiadora do cinema”; além, claro, de outras variadas descrições, como ninfomaníaca, virgem, fácil, lésbica, esposa fiel. Sem ser uma solteirona, passava, como a maioria das mulheres que se fazem por si mesmas, essa impressão. Tinha úlceras estomacais e seu salário ultrapassava os cem mil por ano. Um tratado complexo poderia ser escrito sobre se “valia o preço” ou mais do que isso, ou se não valia era nada. Sua apreciação se baseava em qualidades ordinárias, como os fatos elementares de ser mulher e adaptável, rápida e confiável, ou de “conhecer o jogo” e não ser egocêntrica. Havia sido grande amiga de Minna e, ao longo dos anos, Stahr conseguira superar em relação a ela algo que chegava ao ponto de uma aguda repulsa física.
Ela e Wylie esperavam em silêncio — comentando alguma coisa, aqui e ali, com a srta. Doolan. A intervalos de poucos minutos, Reinmund, o supervisor, vinha de seu escritório, onde ele e Broaca, o diretor, aguardavam. Passados dez minutos, Stahr chamou, e a srta. Doolan avisou Reinmund e Broaca; ao mesmo tempo, Stahr e o ator saíam do escritório, Stahr levando o outro pelo braço. Este vinha tão nervoso agora que, quando Wylie White lhe perguntou como estava, ele abriu a boca e começou a contar tudo ali mesmo.
“Ah, estou passando por um momento terrível”, falou, mas Stahr o interrompeu, ríspido.
“Não, não está. Agora vá e faça seu papel do jeito que falei pra fazer.”
“Obrigado, Monroe.”
Jane Meloney, quieta, o observou se retirar.
“Alguém andou roubando a cena dele?”, perguntou — e a expressão, nesse caso, foi usada literalmente.
“Desculpem por fazê-los esperar”, disse Stahr. “Entrem.”
*
Já era meio-dia, e os participantes da reunião teriam direito a uma hora, exatamente, do tempo de Stahr. Não menos, pois uma reunião como aquela só podia ser interrompida por algum diretor em apuros com suas filmagens; tampouco muito mais, pois, a cada oito dias, o estúdio tinha de lançar uma produção complicada e cara como Milagre, de Reinhardt.
Ocasionalmente, e isso agora era menos frequente do que cinco anos antes, Stahr trabalhava a noite toda num único filme. Mas ficava mal durante dias depois de uma maratona dessas. Se conseguisse passar de um problema a outro, renascia em sua vitalidade a cada alternância. E, por ser uma daquelas pessoas capazes de ir dormir e acordar à hora que bem entendem, mantinha o relógio psicológico programado para períodos de uma hora.
A equipe ali reunida incluía, além dos roteiristas, Reinmund, um dos supervisores mais prestigiados, e John Broaca, diretor do filme.
À primeira vista, Broaca era um técnico de corpo e alma — grande e fleumático, determinado à sua maneira tranquila, simpática. Era um simplório, e Stahr com frequência o flagrava fazendo as mesmas cenas repetidamente — uma dessas, mostrando uma menina rica, aparecia em todos os seus filmes com a mesma ação, ilustrada pela mesma sequência. Um bando de cachorros grandes adentrava a cena pulando ao redor da menina. Depois, ela ia a um estábulo e chicoteava um cavalo nas ancas. A explicação provavelmente não tinha nada de freudiana; mais provável que, num momento insosso de sua juventude, ele tenha visto, do outro lado de uma cerca, uma bela menina rodeada de cães e cavalos. Aquilo ficou gravado em seu cérebro para sempre como marca registrada de glamour.
Reinmund era um jovem bonito e oportunista com uma formação bastante boa. De início homem de algum caráter, dia a dia ia sendo forçado, por sua posição anômala, a modos escusos de agir e pensar. Era um homem mau agora, como outros. Aos trinta, não tinha nenhuma das virtudes admiráveis ensinadas tanto aos gentios americanos como aos judeus. Mas terminava seus filmes nos prazos e, ao manifestar uma fixação quase homossexual em Stahr, parecia ter amolecido a habitual agressividade do chefe. Stahr gostava dele — considerava-o um bom pau pra toda obra.
Wylie White, claro, seria considerado um intelectual de segunda linha em qualquer outro país. Era civilizado e eloquente, ao mesmo tempo simples e perspicaz, meio confuso e meio antipático. Seu ciúme de Stahr se mostrava apenas em vislumbres que lhe escapavam ao controle, misturado à admiração e mesmo ao afeto.
“A produção deve se iniciar em duas semanas a partir de sábado”, falou Stahr. “Acho que, no geral, está tudo certo — melhorou muito.”
Reinmund e os dois roteiristas trocaram olhares congratulatórios.
“Exceto por uma coisa”, continuou Stahr, pensativo. “Não vejo nenhuma razão pra esse filme entrar em produção, e decidi deixá-lo de lado.”
Houve um momento de silêncio e perplexidade — e, em seguida, murmúrios de protesto, inquirições ofendidas.
“Não é culpa de vocês”, disse Stahr. “Pensei que tínhamos algo nas mãos, mas era outra coisa — só isso.” Hesitou, olhando pesaroso para Reinmund: “É uma pena — a peça é boa. Pagamos cinquenta mil por ela”.
“Qual é o problema com o roteiro, Monroe?”, cortou Broaca.
“Bem, é que não parece que valha muito a pena levá-lo adiante”, respondeu Stahr.
Tanto Reinmund como Wylie White pensavam nas consequências profissionais de tal decisão. Reinmund estava assinando dois filmes naquele ano — mas Wylie White precisava botar o nome em algum, se queria começar a voltar à cena. Jane Meloney observava, atenta, com pequenos olhos de caveira, os movimentos de Stahr.
“Não dá pra você nos dar uma pista?”, perguntou Reinmund. “Essa decisão é uma tremenda invertida, Monroe.”
“Simplesmente não colocaria Margaret Sullavan num filme desses”, falou Stahr. “Ou Colman, tampouco. Não diria aos dois pra atuarem nele...”
“Especificamente, Monroe”, apelou Wylie White. “Do que é que você não gostou? Das cenas? Dos diálogos? Do humor? Da estrutura?”
Stahr apanhou o roteiro de cima da mesa, abandonando-o, por assim dizer, fisicamente de volta, como se fosse pesado demais.
“Não gosto das pessoas nele”, disse. “Não gostaria de encontrá-las — se soubesse que elas estariam em determinado lugar, iria pra outro.”
Reinmund sorriu, mas seus olhos deixavam transparecer preocupação.
“Bem, isso é uma crítica e tanto”, observou. “Achei os personagens bem interessantes.”
“Eu também”, concordou Broaca. “Achei a Em uma personagem muito simpática.”
“Achou, é?”, devolveu Stahr, brusco. “Ela mal conseguiu me convencer de que estava viva. E, quando cheguei ao final, falei pra mim mesmo: ‘E daí?’.”
“Deve haver alguma coisa que possamos fazer”, falou Reinmund. “Naturalmente ficamos mal com a situação. Era essa a estrutura que concordamos que o filme teria...”
“Mas o problema não é o enredo”, disse Stahr. “Já te falei muitas vezes que a primeira coisa que decido é que tipo de história eu quero. Podemos mudar qualquer coisa, mas, uma vez decidido, devemos trabalhar de acordo em cada fala e em cada movimento. Esse não é o tipo de história que eu quero. A que compramos tinha brilho e graça — era uma história feliz. O roteiro é cheio de dúvida e hesitação. O herói e a heroína deixam de se amar por motivos banais — aí voltam a se amar por banalidades semelhantes. Depois da primeira sequência, a gente não está mais ligando se ela nunca mais voltar a vê-lo ou ele, a ela.”
“A culpa é minha”, falou Wylie, súbito. “Sabe, Monroe, não acho que as estenógrafas mantenham a mesma admiração patética por seus chefes que tinham em 1929. Elas foram demitidas — conheceram a inconstância de seus patrões. O mundo muda, só isso.”
Stahr olhou para ele com impaciência, aquiescendo de leve.
“Isso não está em discussão”, respondeu. “O pressuposto da história é que essa moça tinha, sim, pelo chefe dela uma admiração patética, se é assim que você quer chamar. E não havia nenhuma indicação de que ele tivesse sido inconstante. Se a gente a faz duvidar dele, de qualquer forma, é um tipo diferente de história. Ou melhor, não tem história nenhuma. Essas pessoas são do tipo extrovertido — entenda de uma vez — e quero que esbanjem extroversão. Quando quiser filmar uma peça do Eugene O’Neill, eu compro uma.”
Jane Meloney, que em momento algum tirara os olhos de Stahr, soube que as coisas ficariam bem agora. Se ele fosse realmente abandonar o filme, não teria feito aqueles comentários. Ela estava no negócio havia mais tempo do que qualquer um ali, exceto Broaca, com quem tivera um caso de três dias vinte anos antes.
Stahr virou-se para Reinmund.
“Pelo elenco você deveria ter entendido, Reiny, o tipo de filme que eu queria. Comecei por marcar as falas que não podiam ser de Corliss e McKelway e fui me cansando. Lembre disso no futuro — se mando buscar uma limusine, quero esse tipo de carro. E o carro de corrida mais rápido que você já viu não me serve. E então” — ele olhou ao redor — “continuamos? Agora que eu já disse a vocês que não gosto nem mesmo do tipo de filme que temos aqui? Seguimos em frente? Temos duas semanas. Depois disso, coloco Corliss e McKelway nesse filme ou em alguma outra coisa — vale a tentativa?”
“Bem, naturalmente”, falou Reinmund, “acho que vale. Eu me sinto mal pela situação. Devia ter alertado o Wylie. Pensei que ele tinha umas boas ideias.”
“Monroe tem razão”, disse Broaca, seco. “Senti o tempo inteiro que a coisa estava errada, mas não podia botar a mão.”
Wylie e Rose o miraram com ódio e trocaram olhares.
“Vocês, roteiristas, acham que conseguem se animar e retomar esse negócio?”, quis saber Stahr, num tom que não chegou a ser indelicado. “Ou devo tentar alguém novo?”
“Eu gostaria de mais uma chance”, disse Wylie.
“E você, Jane?”
Ela concordou, breve.
“O que você acha da moça?”, perguntou Stahr.
“Bem... obviamente sou suspeita, e em favor dela.”
“Melhor esquecer isso”, avisou Stahr. “Dez milhões de americanos reprovariam aquela garota se ela chegasse às telas. Temos uma hora e vinte e cinco minutos de projeção — se a menina aparece sendo infiel a um homem durante um terço desse tempo, a impressão é de que ela é um terço prostituta.”
“E isso é muito?”, respondeu Jane, matreira, e todos riram.
“Pra mim é”, disse Stahr, pensativo, “mesmo que não seja para o pessoal da censura. Se o que você quer é lhe aplicar às costas uma letra escarlate, tudo bem, mas essa é outra história. Não esta história aqui. A moça é uma futura esposa e mãe. Porém... porém...”
Ele apontou para Wylie White com o lápis.
“... até aquele Oscar em cima da minha mesa é mais passional.”
“Qual é!”, retrucou Wylie. “A moça é toda paixão. Tanto que...”
“Ela até que é bastante saidinha”, disse Stahr, “mas não passa disso. Tem uma cena na peça que é melhor do que toda esta coisa aqui, e você a deixou de fora. É quando a moça, tentando fazer passar o tempo, adianta o relógio.”
“Não encaixava no roteiro”, desculpou-se Wylie.
“Pois”, falou Stahr, “tenho umas cinquenta ideias. Vou chamar a srta. Doolan”, ele pressionou um botão, “e, se vocês não entenderem alguma coisa do que vou dizer, avisem...”
A srta. Doolan assumiu seu posto quase imperceptivelmente. Em passos lépidos de um lado ao outro do assoalho, Stahr começou. A primeira coisa que queria fazer era lhes dizer que tipo de moça ela era — qual era o tipo de garota que ele aprovava ali. Era uma mocinha perfeita com alguns pequenos defeitos, como na peça, mas uma garota perfeita não porque o público a quisesse desse jeito, e sim porque era o tipo de garota que ele, Stahr, gostava de ver nesse tipo de história. Estava claro? Não era pra ser uma personagem, propriamente. Ela se destacaria pela saúde, pela vitalidade, pela ambição e pelo amor. Todo o diferencial da peça estava na situação em que ela se encontrava. Passava a possuir um segredo capaz de afetar um grande número de vidas. Havia a coisa certa a fazer e a coisa errada — de início, não ficava claro qual era qual, mas então, quando isso se esclarecia, ela ia lá e fazia. Era esse o tipo de história naquele caso — econômica, enxuta e luminosa. Sem deixar margem a dúvidas.
“Ela nunca ouviu falar de questões trabalhistas”, ele disse, soltando um suspiro. “Mesmo que esteja vivendo em plena crise de 1929. Está claro o tipo de garota que eu quero?”
“Muito claro, Monroe.”
“Agora falemos das coisas que ela faz”, continuou Stahr. “O tempo inteiro e a qualquer momento em que ela estiver na tela, à nossa frente, vai estar querendo dormir com Ken Willard. Está claro, Wylie?”
“Passionalmente claro.”
“O que quer que ela faça, será visando ir pra cama com Ken Willard. Se estiver caminhando pela rua, é pra ir dormir com Ken Willard; se estiver comendo, é pra estar mais disposta na hora de dormir com Ken Willard. Mas em momento algum passamos a impressão de que ela sequer considera ir pra cama com Ken Willard, a menos que a união dos dois tenha sido adequadamente sacramentada. Fico constrangido por ter de explicar a vocês essas questões tão elementares, mas elas, por alguma razão, escaparam à história.”
Abriu o roteiro e passou a examiná-lo página por página. As anotações da srta. Doolan seriam datilografadas em cinco cópias e entregues a todos, mas Jane Meloney tomava as próprias notas. Broaca levou a mão aos olhos meio fechados — ele ainda se lembrava do tempo em que “um diretor significava alguma coisa por aqui”, quando os roteiristas eram o pessoal das gags, ou então jovens repórteres, ávidos e encabulados, mamados de uísque — o diretor era a figura principal na época. Nada de supervisor — nada de Stahr.
Começou a despertar ao ouvir seu nome.
“Seria ótimo, John, se você pudesse colocar o rapaz sobre um telhado saliente e o fizesse caminhar por ali com a câmera nele. Talvez consiga um efeito interessante — não de perigo, não de suspense, nada que aponte pra algo significativo —, só um rapaz em cima do telhado de manhã.”
Broaca voltou a si e à sala.
“Certo”, concordou, “... um toque de perigo, apenas.”
“Não exatamente”, respondeu Stahr. “Não é que ele vá cair do telhado. Corta dali pra próxima cena.”
“Pela janela”, sugeriu Jane Meloney. “Ele podia entrar pela janela do quarto da irmã.”
“É uma boa passagem”, concordou Stahr. “Direto pra cena do diário.”
Broaca estava bem desperto agora.
“Vou apontar a câmera pra ele”, falou. “Deixá-lo se afastar da câmera. Uma tomada fixa a partir de uma boa distância — e deixá-lo ir se afastando. Não sigo atrás. Começo com uma tomada próxima e de novo o deixo ir. Sem dar destaque ao rapaz, exceto no contraste com o resto do telhado e o céu.” Gostou da sequência — era o tipo de cena de diretor que não se via mais em nenhuma página de roteiro. Pensou em recorrer a uma grua — era mais barato do que construir, no chão, um telhado com um céu artificial. Aquilo era bem do feitio de Stahr — o céu, literalmente, era o limite. Fazia tempo demais que trabalhava com judeus para ainda acreditar na lenda de que eram sovinas.
“Na terceira sequência ele acerta o padre”, disse Stahr.
“O quê?”, berrou Wylie. “E ter os católicos pegando no nosso pé?”
“Falei com Joe Breen. Houve casos de padres agredidos. Não vai pegar mal com eles.”
Seguia adiante, em tom calmo — e de repente parou, no momento em que a srta. Doolan deu uma olhada para o relógio.
“É muita coisa pra vocês aprontarem até segunda?”, quis saber de Wylie.
Wylie olhou para Jane, que olhou de volta, mas nem se deu ao trabalho de consentir. Wylie percebeu que o fim de semana ia por água abaixo, mas era um homem diferente daquele que adentrara o escritório. Quando se está ganhando mil e quinhentos por semana, trabalho extra não é alguma coisa que se estranhe, ainda mais quando seu filme está ameaçado. Como escritor freelancer, Wylie fracassara por falta de dedicação, mas agora havia alguém a quem se dedicar, e logo quem, Stahr. A sensação não passaria ao deixar o escritório — nem enquanto estivesse por ali, no estúdio. Sentia um grande senso de propósito. Aquela mistura, pouco tempo antes enunciada por Stahr, de sensatez, sensibilidade prudente, engenhosidade afetada e uma certa concepção meio ingênua do vergão infligido coletivamente o inspirava a fazer sua parte, a contribuir com seu tijolo, ainda que tal esforço estivesse condenado de saída, que o resultado fosse se revelar tão sem graça quanto uma pirâmide.
Pela janela, Jane Meloney observava o fio d’água que descia até o refeitório. Almoçaria em seu escritório e, enquanto estivesse esperando a comida chegar, tricotaria algumas carreiras. O homem viria à uma e quinze trazendo o perfume francês contrabandeado pela fronteira mexicana. Não cometia nenhum pecado — era como violar a Lei Seca.
Broaca ficou vendo Reinmund bajular Stahr. Sentia que Reinmund estava ganhando espaço. Seu salário era de setecentos e cinquenta por semana para exercer autoridade parcial sobre diretores, roteiristas e astros que recebiam muito mais. Usava um par de sapatos ingleses baratos que havia comprado perto de Beverley Wilshire, e que Broaca esperava que estivessem lhe apertando os pés, mas logo estaria mandando buscar uns pares na Peel’s e abandonaria seu chapéu tirolês enfeitado com uma pena. Tinha feito bonito na guerra, porém nunca mais se sentiu em paz consigo mesmo desde o tapa de mão espalmada que levou de Ike Franklin.
A sala estava enfumaçada e, detrás da fumaça, detrás de sua mesa, Stahr se recolhia cada vez mais, ainda cortês, um ouvido dedicado a Reinmund, o outro à srta. Doolan. A reunião tinha acabado.
*
[Stahr deveria receber, em seguida, o príncipe Agge, da Dinamarca, o qual “queria aprender do começo sobre cinema” e aparece na lista de personagens do autor descrito como “um pioneiro fascista”.]
“O sr. Marcus está ligando de Nova York”, disse a srta. Doolan.
“Como assim?”, perguntou Stahr. “Pois eu o vi aqui ontem à noite.”
“Bem, ele está na linha — é uma ligação de Nova York e a voz é da srta. Jacobs. É do escritório dele.”
Stahr soltou uma risada.
“Vou encontrar com ele no almoço”, falou. “Não existe um avião tão rápido que seja capaz de trazê-lo a tempo.”
A srta. Doolan voltou ao telefone. Stahr esperou para ver o que ela diria.
“Está certo”, logo veio dizer a srta. Doolan. “Foi um engano. O sr. Marcus ligou para a Costa Leste, pela manhã, contando sobre o terremoto e a inundação no terreno dos fundos, e parece que disse ao pessoal lá que perguntasse a você. Era uma secretária nova que não entendeu o sr. Marcus. Acho que ela se confundiu.”
“Acho que sim”, disse Stahr, taciturno.
O príncipe Agge não entendeu nenhum dos dois, mas, querendo encontrar algo de fabuloso, interpretou aquilo como algo triunfantemente americano. O sr. Marcus, cujas salas ficavam logo ali, no corredor, havia telefonado para o escritório de Nova York a fim de perguntar a Stahr sobre a inundação. O príncipe ficou fantasiando algum tipo de intricada relação, sem se dar conta de que aquela confusão se desenrolara inteiramente no outrora brilhante e afiado cérebro do sr. Marcus, que cada vez mais amiúde vinha falhando.
“Acho que devia ser uma secretária recém-contratada mesmo”, repetiu Stahr. “Alguma outra mensagem?”
“O sr. Robinson ligou”, informou a srta. Doolan, já se encaminhando para o refeitório. “Disse que uma das mulheres falou o nome, mas ele esqueceu — acha que era Smith ou Brown ou Jones.”
“Grande ajuda.”
“E lembra de ela ter dito que acabou de se mudar pra Los Angeles.”
“Lembro que ela usava um cinto prateado”, falou Stahr, “com estrelas recortadas.”
“Ainda estou tentando descobrir mais notícias sobre Pete Zavras. Falei com a esposa dele.”
“O que ela disse?”
“Ah, que eles passaram por coisas terríveis — perderam a casa, ela doente...”
“E o problema de vista?”
“Ela parecia não saber nada a respeito do problema dele. Nem fazia ideia de que está ficando cego.”
“Estranho.”
Pensou no assunto a caminho do almoço, mas era um negócio tão confuso quanto o problema do ator que o procurara naquela manhã. Os problemas de saúde das pessoas não pareciam ser da sua alçada — não se preocupava nem com os seus próprios. Na alameda próxima ao refeitório, esperou passar um caminhão que, carregado de meninas em figurinos brilhantes da época da Regência, vinha do terreno dos fundos. Trajes ao vento, os jovens rostos maquiados o encaravam, curiosos, e ele, enquanto passavam, respondeu com um sorriso.
Onze homens e seu convidado, o príncipe Agge, se sentaram à mesa do salão privativo do refeitório do estúdio para almoçar. Eram os homens do dinheiro — os mandachuvas; a menos que tivessem um convidado, comiam num silêncio entremeado, por vezes, de perguntas sobre as esposas e os filhos uns dos outros, ou, absortos na superfície de suas consciências por alguma questão, comentavam-na. Oito a cada dez deles eram judeus — cinco em dez, estrangeiros, incluindo um grego e um inglês; e se conheciam todos fazia muito tempo: havia uma hierarquia no grupo, do velho Marcus ao velho Leanbaum, que era quem tinha comprado o lote de ações mais privilegiado do negócio e jamais ganhava permissão de ultrapassar um milhão por ano com seus filmes.
O velho Marcus ainda se mantinha capaz de, com inquietante desenvoltura, desempenhar suas funções. Um instinto que parecia nunca atrofiar o alertava do perigo, de complôs contra ele — quando os demais o consideravam acuado é que se tornava, ele próprio, mais perigoso. Seu rosto pálido havia adquirido tal imobilidade que, mesmo aqueles acostumados a observar-lhe o reflexo do canto interno do olho, deixaram de poder vê-lo. A natureza colocara ali, para encobrir, suíças brancas; a armadura estava completa.
Enquanto Marcus era o mais velho, Stahr era o mais novo do grupo — àquela altura a discrepância de idades não era tanta, embora ele tivesse começado a se sentar entre aqueles senhores sendo ainda um menino prodígio de vinte e dois anos. Na época, mais do que agora, um homem do dinheiro entre iguais. Naquele tempo, era capaz de calcular custos com uma velocidade e uma precisão que os deixavam tontos — pois não eram mágicos, tampouco especialistas nisso, apesar do imaginário popular sobre judeus e finanças. A maioria ali devia o sucesso obtido a qualidades diferentes e incompatíveis. Mas, num grupo, uma tradição acaba prevalecendo sobre os menos adaptados, e eles ficavam satisfeitos de olhar para Stahr e nele ver sublimado seu desejo de controle financeiro, experimentando uma espécie de alegria, como se o feito fosse deles mesmos, a exemplo do que sentem torcedores de futebol.
Stahr, em sua configuração atual, distanciara-se desse dom em particular, embora a habilidade não o tivesse abandonado.
O príncipe Agge se acomodou entre Stahr e Mort Fleishacker, o advogado do estúdio, e de frente para Joe Popolos, dono da sala de projeções. Era vagamente avesso a judeus de forma geral, um mal do qual estava tentando se curar. Homem turbulento quando servia na Legião Estrangeira, achava que os judeus prezavam por demais salvar a própria pele. Mas se dispunha a acreditar que talvez fossem diferentes na América, em circunstâncias outras, e certamente tinha Stahr na conta de um homem e tanto em todos os sentidos. Quanto ao resto — para ele, homens de negócios, em sua maioria, eram de uma chatice feroz —, sempre se voltava, em busca de referencial, ao sangue azul que corria em suas veias.
Meu pai — vou chamá-lo de sr. Brady, como o príncipe Agge, ao me contar sobre esse almoço — estava preocupado com um filme e Leanbaum, tendo deixado o encontro mais cedo, aproximou-se para ocupar a cadeira em frente.
“E quanto à ideia daquela produção na América do Sul, Monroe?”, perguntou.
O príncipe Agge notou um lampejo de atenção na direção deles, perceptível a ponto de parecer que uma dúzia de pares de cílios ressoava feito morcegos batendo asas. E de novo silêncio.
“Estamos tocando”, falou Stahr.
“Com o mesmo orçamento?”, quis saber Brady.
Stahr aquiesceu.
“É desproporcional”, disse Brady. “Não vai haver nenhum milagre em tempos difíceis como estes — nenhum Anjos do inferno ou Ben Hur, em que dá pra gastar a fundo perdido e depois recuperar.”
O ataque fora planejado, provavelmente, pois Popolos, o grego, entrou no assunto com uma conversa meio enrolada.
“Não é fácil de adotar, Monroe, a ideia que a gente quer adotar nesta época que mudou. O que podia fazer quando a gente tinha negócio de prosperidade é difícil pensar agora.”
“O que você acha disso, Marcus?”
Todos os olhares seguiram o de Stahr na direção da cabeceira da mesa, mas, como se estivesse de sobreaviso, o sr. Marcus já havia feito sinal a seu garçom particular, atrás dele, de que gostaria de se levantar, e naquele exato momento era erguido pelo rapaz. Olhou para eles parecendo de tal forma impotente que era difícil imaginar que de vez em quando saía para dançar em noitadas com sua namorada canadense.
“Monroe é nosso gênio em matéria de produção”, disse. “Conto com Monroe e confio totalmente nele. Nem cheguei a ver a inundação eu mesmo.”
Houve um momento de silêncio enquanto o velho se retirava.
“Não se consegue um faturamento de dois milhões de dólares neste país, hoje em dia”, falou Brady.
“Não consegue”, concordou Popolos. “Nem pegando pessoal à força e botando lá, não consegue.”
“Provavelmente não”, concedeu Stahr. Fez uma pausa, como que para se certificar de que todos o ouviam. “Acho que podemos contar com um milhão, duzentos e cinquenta mil nas projeções itinerantes. Talvez um milhão e meio, no total. E mais uns duzentos e cinquenta mil no exterior.”
Outro momento de silêncio — desta vez um silêncio perplexo, um pouco confuso. Por sobre o ombro, Stahr pediu ao garçom que contatasse seu escritório pelo telefone.
“Mas e o seu orçamento?”, questionou Fleishacker. “Seu orçamento é de setecentos e cinquenta mil, pelo que sei. E suas previsões não passam disso, não há lucro.”
“Não sou eu quem está prevendo aqueles números”, respondeu Stahr. “Não temos garantia de mais do que um milhão e meio.”
O recinto estava em suspenso a ponto de o príncipe Agge conseguir perceber, a meio caminho do chão, o monte de cinzas que caía de um charuto. Fleishacker, o rosto congelado de espanto, começou a falar, mas um telefone foi entregue a Stahr por cima de seu ombro.
“Do seu escritório, sr. Stahr.”
“Ah, sim — ah, olá, srta. Doolan. Descobri tudo sobre o Zavras. É um daqueles boatos nojentos — aposto um braço... Ah, você conseguiu. Bom... bom. Faça o seguinte: mande-o ir hoje à tarde ao meu oculista — dr. John Kennedy — e diga pra trazer um atestado e tire uma cópia — entendido?”
Desligou — e, com um quê de passional, se voltou à mesa como um todo.
“Algum de vocês chegou a ouvir uma história de que Pete Zavras estava perdendo a visão?”
Um ou outro aquiesceu. Mas a maioria dos presentes ainda estava à espera, respiração suspensa, para saber se Stahr havia se confundido com seus números um minuto antes.
“Pura bobagem. Ele diz que nunca foi a um oculista — e nunca soube por que os estúdios se voltaram contra ele”, continuou Stahr. “Alguém não gostava dele ou falou demais, e Zavras está sem trabalho há mais de um ano.”
Ouviu-se um murmúrio convencional de solidariedade. Stahr assinou o cheque e fez menção de se levantar.
“Desculpe, Monroe”, insistiu Fleishacker, observado por Brady e Popolos. “Sou mais ou menos novo por aqui, e talvez não esteja conseguindo compreender coisas implícitas e explícitas.” Falava rápido, mas as veias em sua testa saltavam de orgulho com a grandiloquência de seu estilo acadêmico. “Entendi direito? Você disse que espera faturar duzentos e cinquenta mil a menos do que é seu orçamento?”
“É um filme de qualidade”, respondeu Stahr, fingindo inocência.
Todos começavam a entender agora, mas ainda sentiam que havia algum truque ali. Stahr pensava, certamente, que o filme faturaria. Ninguém em seu juízo...
“Nos últimos dois anos, não nos arriscamos”, disse ele. “Está na hora de fazermos um filme que dê algum prejuízo. Perder esse dinheiro de bom grado — isso vai nos trazer público novo.”
Alguns ainda estavam pensando que Stahr lançaria algum prognóstico, e favorável, mas ele não deixou dúvidas.
“O filme vai dar prejuízo”, disse, levantando-se, a mandíbula levemente pronunciada e os olhos brilhantes e sorridentes. “Seria um milagre maior ainda do que Anjos do inferno se as cifras empatassem. Mas temos um certo compromisso com o público, conforme tem dito Pat Brady nos jantares da Academia. É bom para a sequência das produções que a gente lance um filme deficitário.”
Cumprimentou com um movimento de cabeça o príncipe Agge, o qual, enquanto respondia com uma rápida mesura, tentou captar, numa última olhada, o efeito geral do que Stahr tinha acabado de dizer, mas não foi capaz de perceber nada. Os olhares de todos não eram tanto de abatimento, mas fixos num ponto indefinido à distância, logo acima da linha da mesa, as pálpebras piscando ligeiras, e não se ouvia um só cochicho no recinto.
*
Ao saírem do salão privativo, eles atravessaram um canto do refeitório propriamente dito. O príncipe Agge observava tudo com avidez. O ambiente estava animado com personagens do Primeiro Império, ciganos, cidadãos e soldados de suíças paramentados com casacas enfeitadas. Olhando-se de uma pequena distância, eram homens de um século antes, tal como viviam então, e Agge se perguntou que aparência teriam ele e os homens de seu tempo em alguma futura produção de época.
Foi então que avistou Abraham Lincoln, e o que sentia mudou totalmente. Crescera ainda na alvorada do socialismo escandinavo, quando a biografia do presidente americano escrita por Nicolay era muito lida. Tinham-lhe dito que Lincoln era um grande homem que devia ser admirado, e ele, ao contrário, passou a odiá-lo, porque tentavam forçar aquela admiração. Mas agora, vendo-o ali sentado, pernas cruzadas, o rosto amistoso concentrado num jantar de quarenta centavos, sobremesa incluída, envolto em seu xale, como se precisasse se proteger do errático sistema de ventilação — agora o príncipe Agge, enfim em visita à América, tinha a visão do turista que observa a múmia de Lênin no Kremlin. Aquele, então, era Lincoln. Stahr deixara o visitante para trás e se voltava para esperá-lo — mas Agge continuava a olhar.
Aquele, então, ele pensou, era o destino de todos eles.
Lincoln de repente levou um pedaço triangular de torta à boca, engolindo-o, e o príncipe Agge, um pouco assustado, correu para junto de Stahr.
“Espero que a visita esteja sendo como o senhor queria”, disse Stahr, sentindo que o negligenciara. “Vamos ter filmagens dentro de meia hora, e então o senhor poderá ir a quantos sets desejar.”
“Prefiro ter a sua companhia”, falou o príncipe Agge.
“Vou ver se há mensagens para mim”, respondeu Stahr. “Então seguimos juntos.”
O cônsul do Japão o procurava a respeito do lançamento de uma história de espionagem que talvez ferisse suscetibilidades nacionais em seu país. Havia ligações e telegramas. E Robby com mais alguma informação.
“Agora ele lembrou do nome da moça. Tem certeza de que era Smith”, disse a srta. Doolan. “Perguntou se ela queria entrar pra pegar uns sapatos secos e a garota respondeu que não — de modo que não pode nos processar.”
“Pois agora ele lembrou de ‘tudo’, que porcaria — ‘Smith’. Grande ajuda.” Stahr refletiu por um momento: “Peça à companhia telefônica uma lista dos Smiths que solicitaram novas linhas no último mês. Ligue pra todos eles”.
“Certo.”
4
“Como vai, Monroe?”, disse Red Ridingwood. “Fico feliz que tenha vindo.”
Stahr passou por ele, atravessando o estúdio na direção de um cenário que reproduzia uma sala esplêndida, a ser usada nas filmagens do dia seguinte. O diretor Ridingwood o seguiu e, passado um momento, deu-se conta de que, por mais que andasse ligeiro, Stahr sempre conseguia estar um ou dois passos à frente. Reconheceu aquilo como sinal de descontentamento — ele próprio já usara o mesmo recurso. Tivera um estúdio próprio, algum dia, e ele mesmo havia recorrido àquela encenação toda. Nada do que Stahr pudesse fazer o surpreenderia. Sua tarefa era resolver situações, e Stahr não podia, no fim das contas, passar por cima dele em seu próprio território. Goldwyn certa vez tentara desautorizá-lo, e Ridingwood o induzira a tentar representar um número na frente de cinquenta pessoas — o resultado foi o que esperava: teve sua autoridade restabelecida.
Stahr chegou ao esplêndido cenário e parou.
“Não está bom”, disse Ridingwood. “Falta imaginação. Pouco me importa como vai ser a iluminação...”
“Por que você me chamou pra ver isso?”, perguntou Stahr, parado ao lado do diretor. “Por que não resolveu com o Art?”
“Não pedi que você descesse aqui, Monroe.”
“Você pretendia ser seu próprio supervisor.”
“Desculpe, Monroe”, continuou Ridingwood, paciente, “mas não pedi que você descesse aqui.”
Stahr virou as costas, repentinamente, e caminhou de volta até onde estavam as câmeras. O olhar e a boca aberta de um grupo de visitantes por um momento se desviaram da heroína do filme, seguiram Stahr e, por fim, novamente se voltaram, absortos, à atriz. Eram Cavaleiros de Colombo. Já tinham visto seu anfitrião carregado em procissão, mas aquilo era ter seu sonho transformado em realidade.
Stahr parou junto à cadeira dela. Usava um vestido decotado que deixava ver as marcas claras de uma irritação cutânea no peito e nas costas. Antes do início de cada cena, os locais afetados eram cobertos com um creme, imediatamente removido ao final da filmagem. O cabelo tinha a cor e a viscosidade de sangue coagulado, mas a luz de uma estrela podia, de fato, ser flagrada em seus olhos.
Antes que pudesse abrir a boca, Stahr ouviu às suas costas uma voz solícita: “Ela está radiante. Absolutamente radiante.”
Era um diretor-assistente, e a intenção havia sido a de um delicado elogio. À atriz, para que não tivesse nem o trabalho de se mover, evitando retesar a pele maltratada. A Stahr, por tê-la contratado. E, por extensão, a Ridingwood.
“Tudo certo?”, perguntou Stahr, simpático.
“Ah, tudo bem”, assentiu ela, “não fossem esses p... da imprensa.”
Ele piscou para ela, suave.
“Não vamos deixar que eles cheguem perto de você”, disse.
O nome da moça, naquele momento, havia se tornado sinônimo de “vadia”. Ela, ao que se podia presumir, criara para si a imagem de uma daquelas rainhas que, nos quadrinhos de Tarzan, misteriosamente governam uma nação negra. Tratava o resto do mundo como se fossem os negros. Era um mal necessário, trazida para um único filme.
Ridingwood caminhou junto com Stahr até a porta de saída do estúdio.
“Está tudo bem”, garantiu o diretor. “Ela está numa boa, na medida do possível.”
Ninguém podia escutá-los ali, e Stahr parou de repente, fulminando Red com o olhar.
“O que você anda filmando é um lixo”, disse Stahr. “Sabe o que ela parece fazendo essas cenas? Uma canastrona.”
“Estou tentando tirar dela o seu melhor...”
“Me acompanhe”, falou Stahr, abrupto.
“Acompanhar? Digo ao pessoal pra fazermos uma pausa?”
“Deixe tudo aí como está”, disse Stahr, empurrando a porta com forração que dava para o lado de fora do estúdio.
Carro e motorista o aguardavam ali. Minutos eram coisa preciosa, na maioria dos dias.
“Suba”, disse Stahr.
Red percebia agora que era sério. Entendeu na mesma hora até do que se tratava. A moça o mantinha sob seu domínio desde o primeiro dia, com frieza e sem papas na língua. Ele era do tipo paz e amor, e sem reclamar permitira que ela fizesse um trabalho medíocre.
Stahr adivinhou seus pensamentos.
“Você não consegue controlá-la”, disse. “Falei pra você o que eu queria. Queria uma mulher má — e ela ficou entediante no filme. Receio que tenhamos de parar por aqui, Red.”
“Com o filme?”
“Não. Vou colocar o Harley pra dirigir.”
“Tá certo, Monroe.”
“Desculpe, Red. Tentamos alguma outra coisa uma outra hora.”
O carro encostou em frente ao escritório de Stahr.
“Termino aquela cena?”, quis saber Red.
“Já está sendo terminada”, respondeu Stahr, taciturno. “O Harley ficou lá.”
“Como é que...”
“Ele entrou enquanto saíamos. Pedi que lesse o roteiro na noite passada.”
“Veja bem, Monroe...”
“Estou bem ocupado hoje, Red”, falou Stahr, seco. “Faz três dias que você desistiu de vez.”
Aquilo era uma confusão lastimável, pensou Ridingwood. Ele saía perdendo um pouco, bem pouco — provavelmente não poderia desposar uma terceira mulher agora, como havia planejado. Nem mesmo a satisfação de uma encrenca ele teria — quando alguém se desentendia com Stahr, não saía por aí alardeando isso. Stahr era o maior cliente que havia naquele seu mundo, e sempre — quase sempre — tinha razão.
“E o meu paletó?”, lembrou, de repente. “Deixei em cima de uma cadeira no estúdio.”
“Eu sei”, respondeu Stahr. “Aqui está ele.”
Fazia tanto esforço para ser generoso com o lapso de Ridingwood que tinha esquecido que levava o paletó na mão.
*
A “Sala de Projeção do sr. Stahr” era uma sala de cinema em miniatura com quatro fileiras de poltronas superestofadas. Em frente à primeira fileira, havia mesas compridas equipadas com luminárias de luz suave, campainhas e telefones. Encostado à parede, ficava um piano de armário, esquecido ali desde os primórdios do cinema falado. A sala tinha sido decorada, e as poltronas, recauchutadas havia apenas um ano, mas, pelo uso intensivo, os estragos já voltavam a aparecer.
Era onde Stahr se sentava às duas e meia, e novamente às seis e meia, para assistir ao que tivesse sido rodado no dia. Geralmente a ocasião era de uma tensão atroz — o que veria ali eram faits accomplis — o resultado final de meses de aquisições, planejamento, escrita e reescrita, escolha de elenco, construção de cenários e iluminação, ensaios e filmagens — fruto de insights brilhantes ou de deliberações desesperadas, de letargia, conspiração e suor. Nesse ponto, a tortuosa manobra era encenada, e em suspensão — chegavam relatos da frente de batalha.
Além de Stahr, assistiam às projeções representantes de todos os departamentos técnicos, e ainda os supervisores e diretores de produção dos filmes em avaliação. Os diretores não compareciam — oficialmente, porque seu trabalho estava terminado; na verdade, porque o que tivesse de ser discutido ali diria respeito a dinheiro. Com o tempo, desenvolveu-se a percepção delicada de uma necessária distância.
O pessoal já estava reunido. Stahr chegou e rapidamente ocupou seu lugar, enquanto o murmúrio das conversas foi sumindo. Recostou-se e recolheu o joelho magro para junto de si na poltrona, e as luzes da sala se apagaram. Um fósforo foi riscado na fileira do fundo — e silêncio.
Na tela, uma tropa de soldados franco-canadenses conduzia suas canoas corredeira acima. A cena fora filmada no tanque de um dos estúdios e, ao final de cada tomada, quando se podia ouvir a voz do diretor dizendo “Corta!”, os atores em cena relaxavam, limpando o suor da testa e às vezes soltando risadas hilariantes — e a água do tanque parava de correr e a ilusão cessava. À parte ter escolhido qual das sequências preferia e dito que era “um bom recurso”, Stahr não fez comentários.
A cena seguinte, ainda nas corredeiras, envolvia um diálogo entre a garota canadense (Claudette Colbert) e o courrier du bois (Ronald Colman), ela se dirigindo a ele de uma canoa. Transcorridos alguns metros de rolo, Stahr subitamente falou.
“O tanque foi desmontado?”
“Sim, senhor.”
“Monroe... é que precisavam dele para...”
Stahr cortou a conversa, peremptório.
“Montem de novo agora mesmo. Vamos fazer novamente aquela segunda tomada.”
As luzes se acenderam por um momento. Um dos diretores de produção saiu de sua poltrona e se postou à frente de Stahr.
“Uma cena com tão belas interpretações jogada fora”, ralhou Stahr, em voz baixa. “Sem enquadramento. A câmera ficou numa posição em que só pegava o topo da cabeça da Claudette o tempo todo em que ela estava falando. Era bem isso que queríamos, não? É exatamente o que as pessoas querem ver — o topo da cabeça de uma bela moça. Diga ao Tim que podia ter economizado usando um boneco dela em tamanho natural.”
As luzes voltaram a se apagar. O diretor de produção, para sair do caminho, agachou-se junto à poltrona de Stahr. A cena foi exibida novamente.
“Percebe agora?”, perguntou Stahr. “E tem um risco na imagem — ali, à direita, está vendo? Descubra se é do projetor ou da película.”
Quase no final da tomada, Claudette Colbert lentamente erguia a cabeça, revelando seus formidáveis olhos cristalinos.
“Era esse o enquadramento que precisávamos ter o tempo inteiro”, falou Stahr. “Ela se saiu muito bem também. Veja se consegue consertar isso até amanhã ou o final da tarde de hoje.”
Pete Zavras não teria cometido um deslize daqueles. Não havia, em toda a indústria, meia dúzia de operadores de câmera em que se pudesse confiar plenamente.
As luzes retornaram; o supervisor e o diretor de produção daquele filme se retiraram.
“Monroe, esse material foi rodado ontem — chegou tarde da noite.”
A sala ficou escura. Na tela, surgiu a cabeça de Shiva, imensa e imperturbável, alheia ao fato de que em algumas horas seria levada por uma inundação. Uma multidão de fiéis se amontoava em torno dela.
“Quando forem repetir essa cena”, falou Stahr, de repente, “coloque umas crianças no alto da cabeça. Melhor checar antes se não é algum tipo de desrespeito, mas acho que não tem problema. Crianças costumam poder qualquer coisa.”
“Sim, Monroe.”
Um cinto prateado com estrelas recortadas... Smith, Jones ou Brown... Questão pessoal — será a mulher do cinto prateado que...?
Outro filme, e o cenário mudara para Nova York, uma história de gângsteres, e Stahr ficou impaciente.
“A cena está uma porcaria”, disse em voz alta, de repente, na escuridão. “Mal escrita, com elenco mal escolhido, nada presta. Aqueles tipos nem são durões. Parecem um bando de guardinhas de porta de escola fantasiados — que diabos aconteceu aí, Lee?”
“A cena foi escrita hoje de manhã no próprio set”, respondeu Lee Kapper. “Burton queria resolver a coisa toda no Estúdio 6...”
“Pois está uma porcaria. E essa aí também. Não serve pra nada filmar um troço desses. Ela própria não acredita no que está dizendo — tampouco o Cary. ‘Eu te amo’ em close — você vai ser escorraçado! E a roupa da moça está muito formal.”
Fez-se um sinal na sala escura, o projetor parou, as luzes se acenderam. A sala ficou em silêncio, todos à espera. O rosto de Stahr estava inexpressivo.
“Quem escreveu a cena?”, quis saber, passado um minuto.
“Wylie White.”
“Ele tem conseguido ficar sóbrio?”
“Certamente.”
Stahr refletia.
“Coloquem uns quatro roteiristas pra trabalhar na cena hoje à noite”, disse. “Vejam lá quem podem conseguir. Sidney Howard ainda está por aí?”
“Apareceu hoje de manhã.”
“Conversem com ele. Expliquem o que estou querendo pra essa sequência. A moça está mortalmente aterrorizada — ela está paralisada. Simples assim. As pessoas não conseguem sentir três emoções ao mesmo tempo. E, Kapper...”
O cenógrafo se inclinou para a frente em sua poltrona na segunda fileira.
“Pois não.”
“Tem alguma coisa com aquele cenário.”
Olhares discretos foram trocados por toda a sala.
“E o que é, Monroe?”
“Me diga você”, respondeu Stahr. “Está muito abarrotado. Não captura o olhar. Parece barato.”
“Não custou pouco.”
“Eu sei que não. Não é nada muito complicado, mas tem alguma coisa. Dê uma olhada hoje à noite. Talvez seja mobília demais — ou do tipo errado. Talvez uma janela ajude. Você não conseguiria forçar a perspectiva um pouco mais na direção daquele corredor?”
“Vou ver o que posso fazer.” Kapper, enquanto conferia o relógio, foi saindo da fileira de poltronas.
“Preciso começar agora mesmo”, falou. “Vou trabalhar durante a noite e damos um jeito no cenário de manhã.”
“Certo. Lee, você pode refilmar essas cenas, não?”
“Acho que sim, Monroe.”
“Eu me responsabilizo. E o material com as cenas de luta?”
“É o próximo.”
Stahr assentiu. Kapper se apressou em direção à saída e a sala voltou a ficar escura. Na tela, quatro homens encenavam uma sensacional briga de socos num galpão. Stahr riu.
“Olha só o Tracy”, falou. “Olha só como vai pra cima daquele cara. Aposto que já entrou em algumas dessas na vida.”
Os homens não paravam de se socar. Sempre a mesma briga. E sempre, ao final, se encaravam sorrindo, às vezes tocando o ombro do oponente num gesto amistoso. O único ali que corria algum perigo era o dublê, um pugilista que, se quisesse, mataria os outros três. O perigo era só que se empolgassem e deixassem de seguir as instruções sobre os golpes. Mesmo assim, o ator mais jovem estava com medo de ser acertado no rosto e, para disfarçar suas piscadas, o diretor havia lançado mão de engenhosos ângulos e interposições.
E então dois homens se esbarravam interminavelmente junto a uma porta, reconheciam-se e seguiam seus caminhos. Encontravam-se, sobressaltavam-se e continuavam a andar.
Em seguida, uma menininha estava lendo debaixo de uma árvore e, acima dela, num dos galhos, um menino também lia. A menina estava entediada e queria conversar com o menino. Ele não lhe dava atenção. O caroço da maçã que comia caiu na cabeça da menina.
Uma voz se manifestou no escuro: “Está muito longo, não está, Monroe?”
“Nem um pouco”, disse Stahr. “Está bom. Tem uma atmosfera agradável.”
“Só achei que se estende demais.”
“Às vezes três metros de rolo podem parecer que demoram demais — noutras, uma cena ocupando vinte vezes isso é muito curta. Quero falar com o montador antes de ele fazer o corte — essa é uma sequência que vai ficar na memória.”
Falava o oráculo. Não havia o que questionar ou discutir. Stahr precisa ter razão sempre — não apenas na maior parte do tempo, mas sempre — sob pena de a estrutura vir abaixo, como se fosse de manteiga e derretesse.
Mais uma hora se passou. Fragmentos de sonhos ornavam a parede da sala, eram analisados, davam lugar a outros — os quais seriam sonhados por multidões, ou então descartados. Com dois testes, um deles para um personagem masculino, outro de uma moça, a sessão se encaminhou para o fim. Em comparação com as tomadas em avaliação, em seu ritmo próprio e tenso, os testes rolavam de maneira suave e acabavam; a audiência relaxou nas poltronas; Stahr escorregou o pé de volta para o chão. Opiniões eram bem-vindas. Um dos técnicos declarou que levaria a moça para casa de bom grado; o resto do pessoal ficou indiferente.
“Alguém arranjou um teste pra essa moça há uns dois anos. Ela deve estar mais rodada — mas não parece que melhorou muito. Já o ator é bom. Não podemos usá-lo no papel do velho príncipe russo em Estepes?”
“Ele é um velho príncipe russo”, falou o diretor de elenco, “mas tem vergonha disso. É comunista. E o papel de príncipe é o único que não faria.”
“É o único papel que serve pra ele”, disse Stahr.
As luzes se acenderam. Stahr enrolou seu chiclete de volta no invólucro e o colocou no cinzeiro. Voltou-se inquisitivo para sua secretária.
“Filmagens no Estúdio 2”, ela informou.
Deu uma conferida rápida no que estava sendo feito lá: imagens em movimento sendo capturadas contra um fundo de outras imagens em movimento por um dispositivo engenhoso. Tinha uma reunião no escritório de Marcus cujo assunto era se Manon teria um final feliz, e Stahr continuava com a mesma opinião que já havia dado — fazia um século e meio que aquela história dava dinheiro sem final feliz. Estava irredutível — àquela hora da tarde era quando conseguia ser mais persuasivo, e a resistência a sua posição acabou sendo minada na direção de outro tema: cederiam uma dúzia de astros e estrelas para uma campanha em prol dos desabrigados pelo terremoto em Long Beach. Num surto repentino de generosidade, cinco deles já haviam doado, de uma vez, um total de vinte e cinco mil dólares. Tinham sido generosos, mas não como os pobres sabem ser. Aquilo não era caridade.
No escritório, novidades do oculista ao qual enviara Pete Zavras: os olhos do cinegrafista estavam praticamente em perfeito estado. O médico fizera um atestado, uma fotocópia do qual estava sendo entregue a Zavras. Stahr andava de um lado ao outro do escritório, cheio de si, a srta. Doolan a admirá-lo. O príncipe Agge aparecera para agradecer pela visita aos sets naquela tarde e, enquanto conversavam, um supervisor passou o recado cifrado de que uns roteiristas de nome Tarleton “descobriram” e estavam em vias de se demitir.
“São bons roteiristas”, Stahr explicou ao príncipe, “e não temos muitos deles por aqui.”
“Como assim, se você pode contratar quem quiser?”, exclamou o visitante, surpreso.
“Ah, nós os contratamos, mas aí eles chegam e não são bons roteiristas — de modo que precisamos trabalhar com o que temos.”
“Por exemplo?”
“Qualquer um que aceite as condições e tenha a decência de permanecer sóbrio — pegamos todo tipo de gente — poetas desiludidos, dramaturgos iniciantes, moças universitárias — e então os colocamos em duplas pra trabalhar numa ideia e, se a coisa estiver indo muito devagar, acrescentamos mais dois ao mesmo projeto. Já tive até três duplas trabalhando de forma independente numa ideia.”
“E os roteiristas gostam do esquema?”
“Se ficam sabendo, não. Não são gênios — e nenhum deles conseguiria ganhar mais em outro lugar. Mas esses dois, os Tarleton, são um casal da Costa Leste — dramaturgos muito bons. Acabaram de descobrir que não são os únicos trabalhando no enredo e isso os deixou transtornados — mexeu com seu senso de unidade, é essa a palavra que vão usar.”
“Mas como se consegue essa... unidade?”
Stahr hesitou — sua expressão era taciturna, exceto pelos olhos, que faiscavam.
“A unidade sou eu”, disse. “Venha nos visitar outras vezes.”
Recebeu os Tarleton para uma conversa. Disse-lhes que gostava do trabalho deles, olhando para a sra. Tarleton como se fosse capaz de adivinhar qual tinha sido sua contribuição específica no roteiro datilografado. Disse-lhes, em tom ameno, que os tiraria daquele filme para colocá-los em outro, com menos pressão e mais tempo. Conforme já meio que esperava, os dois imploraram para ficar no primeiro projeto, pela perspectiva de aparecerem nos créditos em lugar de destaque, mesmo que dividindo-os com outros. Aquele esquema era uma vergonha — vulgar, comercial, deplorável. Ele mesmo o criara — fato que deixou de mencionar.
Assim que saíram, a srta. Doolan entrou, triunfante.
“Sr. Stahr, a moça do cinto está na linha.”
Stahr passou da sala de visitas ao escritório sozinho, sentou-se atrás da escrivaninha e apanhou o telefone com um tremendo frio na barriga. Não sabia o que queria. Não havia pensado na questão como fizera com o caso de Pete Zavras. De início, a única coisa que desejara saber era se eram “profissionais”, se a moça não seria uma atriz produzida para se parecer com Minna, a exemplo do que certa vez fizera com uma jovem, fantasiando-a de Claudette Colbert para fotografá-la nas poses da original.
“Alô”, ele disse.
“Alô.”
Enquanto procurava a expressão breve de surpresa que recuperasse a sensação da noite anterior, começou a ceder ao terror, e precisou de determinação para espantá-lo.
“Então — foi difícil te achar”, falou. “Smith — e você se mudou recentemente pra cá. Essas eram as únicas informações que tínhamos. Além de um cinto prateado.”
“Ah, sim”, respondeu a voz, ainda desconfortável, insegura. “Eu estava mesmo usando um cinto prateado ontem à noite.”
E agora, para onde ir?
“Quem é você?”, perguntou a voz, com um toque nervoso de dignidade burguesa.
“Eu me chamo Monroe Stahr”, disse ele.
Uma pausa. Era um nome que nunca aparecia na tela, e ela pareceu ter dificuldades para reconhecê-lo.
“Ah, sim — claro. O marido de Minna Davis.”
“Isso.”
Seria uma brincadeira? Com a visão intacta da noite anterior voltando-lhe à mente — aquela pele, irradiando um brilho peculiar, como que fosforescente —, ele se perguntou se aquilo não poderia ser um truque para atingi-lo de alguma forma. Não sendo Minna, mas ainda assim sendo ela. As cortinas, sopradas pelo vento, subitamente invadiram o escritório, os papéis sobre sua mesa murmuraram e a intensa realidade do mundo lá fora o fez sentir, de leve, o coração apertado. Caso pudesse sair dali agora, assim como estava, o que aconteceria se voltasse a encontrá-la — a expressão de velado deslumbramento, a boca prestes a estourar num riso humano, pobre mas imenso.
“Gostaria de encontrá-la. Que tal você vir aqui ao estúdio?”
De novo a hesitação — e então uma recusa direta.
“Ah, acho melhor não. Sinto muito.”
A última frase indicava um tom formal e distante, um beco sem saída. A vaidade mais ordinária e superficial veio em socorro de Stahr, ajudando-o a ser persuasivo em sua urgência.
“Gostaria que viesse”, falou. “Tenho uma razão pra isso.”
“Bem... temo que...”
“Será que eu poderia ir até você?”
Nova pausa, não porque ela hesitasse agora, ele sentiu, mas porque tentava concatenar uma resposta.
“Tem uma coisa que você não sabe”, disse ela, finalmente.
“Ah, provavelmente que você é casada”, respondeu ele, impaciente. “Não tem nada a ver com isso. Estou pedindo pra termos um encontro às claras, traga seu marido, se você tem um.”
“É que isso... isso é meio que impossível.”
“Por quê?”
“Eu me sinto uma tola só de estar falando com você, mas sua secretária insistiu — pensei que tivesse deixado cair alguma coisa minha na inundação de ontem à noite e que você tivesse encontrado.”
“Quero muito encontrá-la, por cinco minutos que seja.”
“Quer me contratar pra algum filme?”
“Não era bem essa minha ideia.”
Houve um silêncio tão prolongado que ele pensou tê-la ofendido.
“Onde podemos nos encontrar?”, perguntou ela, inesperadamente.
“Aqui? Ou na sua casa?”
“Não — em algum lugar na rua.”
De repente Stahr não conseguia pensar em lugar nenhum. A casa dele — um restaurante? Onde é que as pessoas se encontram? Em esconderijos, em bares?
“Encontro você em algum lugar às nove”, ela disse.
“Acho que vai ser impossível a essa hora.”
“Então deixa pra lá.”
“Tudo bem, às nove, mas pode ser aqui perto? Tem uma lanchonete em Wilshire...”
*
Eram quinze para as seis. À espera, do lado de fora, havia dois homens que todos os dias, àquela mesma hora, acabavam preteridos, sua reunião era adiada. Aquela era uma hora fatigada — o assunto que os homens vinham tratar não era tão importante que precisasse ser despachado, nem tão insignificante que pudesse ser ignorado. De modo que ele adiou mais uma vez e, sentado imóvel à sua escrivaninha, ficou pensando na Rússia. Não exatamente na Rússia, mas no filme sobre a Rússia que estava prestes a lhe consumir outra infértil meia hora. Ele sabia das muitas histórias sobre a Rússia, isso sem mencionar “a” história, e vinha sustentando um exército de roteiristas e pesquisadores fazia mais de um ano, mas todas as histórias que se apresentavam tinham a pegada errada. Sentia que o enredo podia ser inspirado nos treze estados americanos, e no entanto o resultado insistia em ser outro, em novos termos que davam margem a possibilidades desagradáveis e problemas. Considerava que estava tendo uma atitude muito justa com os russos — não pensava em outra coisa que não fosse um filme simpático ao país, mas o projeto continuava a dar dor de cabeça.
“Sr. Stahr — o sr. Drummon está aí, com o sr. Kirstoff e a sra. Cornhill, a respeito do filme russo.”
“Certo — mande-os entrar.”
Depois disso, entre seis e meia e sete e meia, assistiu ao que havia sido rodado à tarde. Normalmente, não fosse por seu compromisso com a moça, ele passaria o início da noite na sala de projeção ou no estúdio de dublagem, mas, com os transtornos de horário causados pelo terremoto da noite anterior, decidiu ir jantar. Ao retornar ao escritório, encontrou Pete Zavras esperando, o braço numa tipoia.
“Você é o Ésquilo e o Eurípides do cinema”, disse Zavras, espontâneo. “E ainda o Aristófanes e o Menandro.”
Fez uma mesura.
“Quem são esses?”, perguntou Stahr, com um sorriso.
“Meus conterrâneos.”
“Não sabia que você fazia filmes na Grécia.”
“Está brincando comigo, Monroe”, falou Zavras. “O que estou querendo dizer é que você é um cara tão fino quanto eles. Me salvou, totalmente.”
“Você está bem agora?”
“Não foi nada no meu braço. É como se me dessem uns beijinhos aqui. Se esse é o resultado, valeu a pena fazer o que fiz.”
“E como é que você acabou fazendo logo aqui?”
“Diante do oráculo de Delfos”, respondeu Zavras. “Do Édipo que respondeu à charada. Só queria pegar o filho da puta que começou essa história.”
“Você me faz sentir pena de mim mesmo por não ter estudado”, falou Stahr.
“Isso não me serve de nada”, disse Pete. “Um diploma em Salônica e olha só qual foi o meu fim.”
“Ainda não foi.”
“Se quiser ver alguém degolado, a qualquer hora do dia ou da noite”, acrescentou Zavras, “você tem meu telefone.”
Stahr fechou os olhos e os abriu novamente. A silhueta de Zavras perdeu um pouco da nitidez contra a luz do sol. Apoiou-se na mesa atrás de si e, mantendo a normalidade na voz, disse: “Boa sorte, Pete.”
A sala tinha escurecido quase completamente, mas ele conseguiu dar alguns passos, de forma mecânica, até o escritório, entrou e esperou pelo clique da porta se fechando antes de tatear em busca das pílulas. A garrafa d’água se chocou contra a mesa; o copo tilintou. Ele se sentou numa cadeira grande, à espera de que a benzedrina fizesse efeito antes de ir jantar.
*
No caminho de volta do refeitório, Stahr enxergou a mão que acenava para ele de um conversível pequeno. Reconheceu, pelas cabeças vistas de trás, na cabine, um jovem ator e sua namorada, observando-os desaparecer portão afora no crepúsculo de verão. Aos poucos ia perdendo a sensibilidade para essas coisas, a ponto de parecer que Minna havia levado consigo a emoção que lhes era própria; sua capacidade de apreciar o esplendor desaparecia de tal modo que, em breve, o luxo de um eterno luto também iria embora. Associando infantilmente Minna a prazeres materiais, quando chegou ao escritório, mandou buscar seu conversível pela primeira vez naquele ano. A grande limusine parecia carregada de lembranças de reuniões e de sono de puro esgotamento.
Ao deixar o estúdio, ainda estava tenso, mas o carro sem capota trouxe o fim de tarde de verão para perto de Stahr, e ele olhou em volta. Havia a lua no final do bulevar, e uma ilusão boa de que era uma lua diferente a cada noite, a cada ano. Outras luzes cintilavam em Hollywood desde a morte de Minna: nas barracas de rua, limões e toranjas e maçãs verdes resplandeciam seu brilho fosco e oblíquo. Diante dele, piscou a luz violeta de freio do carro à frente e, na esquina seguinte, ele a viu piscar outra vez. Por todo lado, holofotes riscavam o céu. Numa esquina deserta, dois homens misteriosos carregavam um tambor reluzente em trajetória errática nos céus.
Na lanchonete, uma mulher estava parada junto ao balcão de doces. Era alta, quase tão alta quanto Stahr, e encabulada. Era obviamente uma situação nova para ela e, se Stahr não tivesse os modos que tinha — os mais atenciosos e educados —, ela não levaria aquilo adiante. Cumprimentaram-se e saíram dali sem mais palavras, sem quase se olharem — embora, chegando à calçada, Stahr já soubesse: ela não era nem mais nem menos do que uma bela moça americana — nada que se comparasse à beleza de Minna.
“Pra onde estamos indo?”, ela quis saber. “Pensei que você teria um motorista. Não faz mal — sou boa de briga.”
“Briga?”
“Sei que isso não foi nada gentil.” Ela forçou um sorriso. “Mas é que falam coisas horríveis de gente como você.”
Stahr achou graça da ideia de que fosse alguém assustador — e logo não achou mais.
“Por que você queria me ver?”, perguntou ela ao entrar no carro.
Ele ficou parado, imóvel, do lado de fora, desejando lhe dizer que descesse imediatamente. Mas ela já estava acomodada no carro, e ele sabia ser o principal responsável por aquela situação infeliz — cerrou os dentes e deu a volta para embarcar também. A luz do poste iluminava diretamente o rosto dela, e era difícil acreditar que aquela era a moça da noite anterior. Stahr não via mais semelhança alguma com Minna.
“Vou levar você pra casa”, disse ele. “Onde é?”
“Pra casa?”, espantou-se ela. “Não tem pressa — desculpe se o ofendi.”
“Não. Foi muita gentileza sua ter vindo. Fui um idiota. Ontem à noite, pensei ter enxergado em você uma réplica exata de uma pessoa que conheci. Estava escuro e uma luz ofuscava minha vista.”
Ela ficou ofendida — ele a recriminava por não se parecer com outra pessoa.
“Era só isso então!”, falou. “Que engraçado.”
Rodaram em silêncio durante um minuto.
“Você foi casado com Minna Davis, não foi?”, disse ela, numa centelha de intuição. “Me desculpe por mencionar isso.”
Ele dirigia em velocidade, mas controlando-se para não parecer que corria de propósito.
“Sou um tipo bem diferente de Minna Davis”, ela disse, “se foi isso que você quis dizer. Talvez você estivesse pensando na garota que estava comigo. Ela se parece mais com Minna Davis do que eu.”
Aquilo não o interessava mais. Era acabar logo com o negócio e esquecer.
“Será que não era ela?”, quis saber a moça. “Ela é minha vizinha.”
“Não pode ser”, falou ele. “Lembro do cinto prateado que você estava usando.”
“Era eu mesma com o cinto prateado.”
Estavam a noroeste do Sunset, subindo por um dos cânions, entre as montanhas. Bangalôs iluminados surgiam ao longo da estrada sinuosa, e a eletricidade que lhes dava vida transpirava no ar da noite feito um ruído radiofônico.
“Está vendo aquela última luz, lá no alto? A Kathleen mora lá. Minha casa fica logo do outro lado.”
Passado um momento, ela disse: “Pare aqui”.
“Pensei que você tinha dito que mora do outro lado do morro.”
“Quero dar uma passada na casa da Kathleen.”
“Acho melhor eu...”
“Quero descer aqui”, falou ela, impaciente.
Stahr desembarcou atrás dela. A moça seguiu em direção a uma casinha nova quase totalmente encoberta por um salgueiro e, quase sem pensar, Stahr a acompanhou até os degraus da entrada. Ela tocou a campainha e se voltou para se despedir dele.
“Desculpe por desapontá-lo”, disse.
Era ele quem sentia por ela agora — lamentava por ambos.
“Foi culpa minha. Boa noite.”
Um naco de luz surgiu na porta entreaberta, e uma voz de moça indagou: “Quem é?”. Stahr levantou a vista.
Ali estava ela — rosto e forma e sorriso contra a luz que vinha do interior da casa. Era o rosto de Minna — a pele, irradiando um brilho peculiar, como que fosforescente, a boca, com seu contorno atraente que jamais cobrava consequências — e, sobretudo, aquela graciosidade que assombrou e fascinou toda uma geração.
O coração dele, como na noite anterior, saltou-lhe para fora do peito, só que dessa vez para ali ficar, em disposição amplamente benéfica.
“Ah, Edna, não dá pra entrar aqui”, disse a moça. “Estava fazendo faxina, e a casa está com um cheiro forte de amoníaco.”
Edna começou a rir, uma risada alta e confiante. “Acho que ele queria conhecer você, Kathleen”, falou.
O olhar de Stahr e o de Kathleen se encontraram e se entrelaçaram. Por um instante, os dois fizeram amor como nunca mais ninguém ousou depois deles. Em cada um, o vislumbre do outro foi mais lento do que um abraço, mais urgente do que um chamado.
“Ele me ligou”, explicou Edna. “Parece que pensou que...”
Stahr a interrompeu, dando um passo adiante, para onde havia luz.
“Temi que vocês tivessem sido maltratadas no estúdio, ontem à noite.”
Mas o que ele realmente dissera não se traduzia em palavras. Ela ouviu atenta, sem embaraço. A vida brilhava com força em ambos — Edna parecia distante na escuridão.
“Não nos maltrataram”, disse Kathleen. Uma brisa fria fez balançar a mecha castanha sobre sua fronte. “Não devíamos ter entrado lá.”
“Espero que vocês, ambas”, falou Stahr, “apareçam pra fazer um tour no estúdio.”
“Quem é você? Alguém importante?”
“Ele foi casado com Minna Davis, é produtor”, disse Edna, como se aquilo fosse uma piada muito boa, “e isso que ele está dizendo não é o que me disse agora há pouco. Acho que ele está a fim de você.”
“Cala a boca, Edna”, respondeu Kathleen, brusca.
Como se de repente se desse conta de sua inconveniência, Edna falou: “Me liga, tá bom?”, e seguiu seu rumo em direção à rua. Mas levava consigo o segredo dos dois — tinha visto a centelha acesa entre eles na escuridão.
“Lembro de você”, Kathleen falou para Stahr. “Você nos resgatou da inundação.”
E agora? A ausência de Edna já era sentida. Estavam sozinhos, e andando sobre uma superfície por demais frágil, considerando o que já se passava entre os dois. Não tinham um ponto em comum. O mundo dele parecia distante — e ela não tinha um, exceto pela cabeça de Shiva, por aquela porta entreaberta.
“Você é irlandesa”, ele disse, tentando inventar um mundo para ela.
A moça aquiesceu.
“Morei em Londres um tempão — não achei que você descobriria.”
Os agressivos faróis verdes de um ônibus passaram voando na rua escura. Os dois permaneceram em silêncio até que tivesse ido embora.
“Sua amiga Edna não gostou de mim”, ele disse. “Acho que por causa da palavra Produtor.”
“Ela também é recém-chegada por aqui. É uma bobinha que não faz nada por mal. Eu é que devia ter medo de você.”
Ela investigou a expressão dele. Pensou, como todo mundo, que parecia cansado — e logo se esqueceu disso, pois ele suscitava a imagem de uma fogueira em noite fria.
“Imagino que as garotas fiquem o tempo todo atrás de você, querendo trabalhar no cinema.”
“Já desistiram”, ele falou.
Estava minimizando — continuavam todas lá, ele sabia, logo atrás da porta, mas fazia tanto tempo que ele estava no negócio que o clamor de suas vozes não era diferente do barulho do trânsito na rua. Mas sua posição majestática persistia: um rei só podia ter uma rainha; Stahr, pelo menos era o que supunham, era capaz de coroar muitas delas.
“Acho que isso pode significar que você se tornou um cínico”, disse ela. “Sua intenção não é me colocar no cinema?”
“Não.”
“Que bom. Não sou atriz. Uma vez, em Londres, um cara chegou pra mim no Carlton perguntando se eu não faria um teste, mas pensei um pouco e, no fim, não fui.”
Estavam de pé, quase imóveis, como se no momento seguinte ele fosse partir e ela, entrar em casa. Stahr riu de repente.
“Sinto como se estivesse te impedindo de fechar a porta com o pé, feito um cobrador.”
Ela riu junto.
“Desculpe não poder te convidar pra entrar. Será que posso ir lá dentro pegar minha jaqueta, então podemos sentar aí fora?”
“Não.” Ele não conseguia entender muito bem por quê, mas achava que era hora de ir embora. Talvez voltasse a vê-la — talvez não. Não achava ruim que fosse assim.
“Você vai aparecer lá no estúdio?”, falou. “Não posso prometer que faço eu mesmo o tour, mas, se aparecer, não deixe de avisar no meu escritório.”
Um cenho franzido, não mais do que a sombra de um fio de cabelo entre os olhos dela.
“Não tenho certeza”, disse. “Mas agradeço muito o convite.”
Stahr sabia que, por alguma razão, ela não apareceria — bastou um instante e havia escapado dele. Ambos sentiam que o momento passara. Ele precisava ir, ainda que não fosse a lugar nenhum, e que saísse de mãos vazias. De um ponto de vista mais prático, vulgar, ele não tinha o telefone dela — nem mesmo sabia seu sobrenome; mas parecia impossível perguntar-lhe essas coisas agora.
Ela o acompanhou até o carro, Stahr se sentindo oprimido por sua beleza radiante, sua novidade inexplorada; mas, ao saírem da sombra, o que havia entre eles era a luz do luar.
“É isso?”, ele perguntou, espontâneo.
Viu pesar no rosto dela — mas também um tremor nos lábios, um sorriso indeciso a encurvá-los, um abrir e fechar de cortinas revelando uma passagem proibida.
“Espero mesmo que a gente volte a se encontrar”, disse ela, quase formal.
“Eu sentiria muito se não acontecesse.”
Ficaram distantes por um momento. Mas, depois de fazer a conversão mais próxima, retornar e vê-la ainda ali, esperando, depois de acenar e partir, ele se sentiu exultante e feliz. Alegrava-o que fosse possível haver beleza neste mundo sem o aval do departamento de escalação de elenco.
Em casa, porém, enquanto o mordomo lhe preparava chá no samovar, sentiu uma curiosa solidão. Era a velha dor que retornava, difícil e deliciosa. Ao abrir o primeiro dos dois roteiros à sua espera naquela noite, e que em breve veria na tela, linha por linha, parou um momento, pensando em Minna. Explicou a ela que aquilo não significava nada, que ninguém jamais seria como ela, que ele sentia muito.
*
Aquele fora um dia de Stahr, tipicamente. Não sei quanto à doença, quando começou etc., pois ele manteve segredo a respeito, mas sei que desmaiou algumas vezes naquele mês porque o papai me contou. O príncipe Agge foi minha fonte sobre o que aconteceu durante o almoço no refeitório, na ocasião em que ele disse aos outros que faria um filme para perder dinheiro — o que não era pouca coisa, considerando os homens com quem conversava e o fato de possuir um grande naco das ações, e sob contrato de repartição de lucros.
Wylie White me contou muita coisa, e acreditei nele por causa de seu sentimento intenso por Stahr, mistura de ciúme e admiração. Quanto a mim, a quem interessar possa, estava completamente apaixonada por ele àquela altura.
5
Feliz da vida, fui visitá-lo na semana seguinte. Ou assim pensei; quando Wylie chegou, eu havia colocado um traje esportivo para dar a impressão de que estivera desde cedo ao ar livre, sob o orvalho matinal.
“Vou me jogar debaixo do carro do Stahr hoje”, falei.
“E por que não deste aqui?”, sugeriu ele. “Um dos melhores carros de segunda mão que Mort Fleishaker vendeu na vida.”
“Não entro nessa”, respondi, distante. “Você tem uma esposa na Costa Leste.”
“Ela já faz parte do passado”, devolveu ele. “Você tem um grande trunfo — a consciência do próprio valor. Acha que alguém ia olhar pra você se não fosse a filha de Pat Brady?”
Não nos deixamos afetar por comentários como nossas mães se deixariam. Nada — não há nada que um homem da nossa época diga que signifique muito. Que a gente fique esperta, que estão se casando por dinheiro, ou então nós é que dizemos isso a eles. Tudo ficou mais simples. Será?, era o que nos perguntávamos.
Mas naquele momento, enquanto ligava o rádio e o carro acelerava por Laurel Canyon ao som de “The Thundering Beat of My Heart”, não acreditei que Wylie tivesse razão. Eu tinha um rosto bonito, embora um pouco redondo demais, e uma pele que parecia agradável ao toque, pernas interessantes, além de não precisar usar sutiã. Não era das mais meigas por natureza, mas quem era Wylie para me recriminar por isso?
“Não acha que é inteligente da minha parte ir até lá de manhã?”, perguntei.
“É. Em se tratando do homem mais ocupado da Califórnia. Ele vai gostar. Por que você não o acordou às quatro da madrugada?”
“Bem por isso. À noite ele já está cansado. Passou o dia inteiro vendo pessoas pela frente, e algumas delas nem de longe desinteressantes. Se chego logo de manhã, os pensamentos dele tomam um rumo diferente.”
“Não gosto disso. É muito descarado.”
“O que você tem a oferecer? E não seja grosseiro.”
“Amo você”, disse ele, sem muita convicção. “E mais do que amo seu dinheiro, o que não é pouco. Quem sabe seu pai não me promova a supervisor?”
“Se quisesse, eu poderia me casar com o rapaz mais popular de Yale hoje mesmo, e ir morar em Southampton.”
Mudei de estação e encontrei duas opções, “Gone” e “Lost” — era um ano de boas canções. A música voltava a melhorar. Quando eu era mais jovem, durante a Depressão, não havia coisas tão animadas, e os melhores momentos tinham ficado nos anos 1920, com Benny Goodman tocando “Blue Heaven” ou Paul Whiteman, com “When Day Is Done”. Tudo o que havia para ouvir eram as orquestras. Mas agora eu gostava de tudo, menos do papai cantando “Little Girl, You’ve Had a Busy Day”, na tentativa de criar um clima sentimental entre pai e filha.
“Lost” e “Gone” não criavam o clima certo, então mudei de estação outra vez e sintonizei “Lovely to Look At”, que era o tipo de letra que me agradava. Olhei para trás enquanto cruzávamos o topo das montanhas mais baixas — o ar tão límpido que dava para ver as folhas das árvores em Sunset Mountain, a três quilômetros de distância. Às vezes a gente é arrebatado — pelo ar, simplesmente, desobstruído, descomplicado.
“Lovely to look at — de-lightful to know-w”, cantei.
“Você pretende cantar para o Stahr?”, quis saber Wylie. “Se for fazer isso, invente um verso dizendo quanto eu seria um bom supervisor.”
“Ah, mas a conversa vai se resumir a Stahr e a mim”, rebati. “Ele vai olhar pra mim e pensar: ‘Nunca tinha reparado nela pra valer’.”
“Essa fala não entrou em nenhum roteiro este ano.”
“... então ele vai dizer ‘Cecilinha’, do mesmo jeito como falou na noite do terremoto. Vai dizer que não tinha percebido que eu já era uma mulher.”
“E você não vai precisar mover uma palha.”
“Vou simplesmente ficar ali, resplandecente. Depois que ele tiver me beijado como quem beija uma criança...”
“Meu roteiro tem tudo isso”, queixou-se Wylie, “e preciso mostrá-lo a Stahr amanhã.”
“... ele então vai se sentar com as mãos no rosto e dizer que jamais havia pensado em mim daquela maneira.”
“Quer dizer que já no beijo vai rolar alguma coisa?”
“Vou estar ali, resplandecente, já te falei. Quantas vezes preciso dizer que estou na flor da idade?”
“Isso está começando a me soar bem picante”, falou Wylie. “Melhor a gente parar por aqui — preciso trabalhar ainda esta manhã.”
“Aí ele diz que parece que desde sempre esteve destinado a ser o que é.”
“Isso é puro cinema. É o sangue de produtor nas suas veias.” Ele fingiu um calafrio. “Odiaria receber uma transfusão desse negócio.”
“Aí ele diz...”
“Já sei as falas dele todas”, disse Wylie. “O que quero saber é quais são as suas.”
“Alguém entra”, continuei.
“E você dá um pulo, levantando-se do sofá enquanto alisa a saia.”
“Está querendo que eu desça aqui mesmo e volte pra casa?”
Estávamos em Beverly Hills, bairro que ia ficando muito bonito então, com seus pinheiros havaianos altos. Hollywood é uma cidade com nítidas divisões, de modo que se pode saber exatamente que classe de pessoas, economicamente falando, mora em cada região, de executivos e diretores aos técnicos, em seus bangalôs, e aos temporários. Aquele era o bairro dos executivos, e uma de suas fatias mais requintadas. Não chegava a ser tão romântico quanto os vilarejos melancólicos da Virginia ou de New Hampshire, mas parecia agradável naquela manhã.
“They asked me how I knew”, ressoava o rádio, “... my love was true.”
Meu coração pegava fogo, embaçando meus olhos e todo o resto, mas eu calculava minhas chances em meio a meio. Caminharia decidida para ele, sem deixar transparecer se iria passar direto ou beijá-lo na boca — e então pararia a uns poucos centímetros e diria “Olá” num tom desconcertantemente desprovido de ênfase.
E foi o que fiz — embora, claro, não tenha sido como esperava: os belos olhos escuros de Stahr olhando direto nos meus, sabedores, eu tinha essa certeza mortal, de tudo que se passava na minha cabeça — e sem se constranger por isso, nem um pouquinho. Acho que fiquei lá uma hora, imóvel, e ele não fez mais do que, com um esgar do canto da boca, colocar as mãos nos bolsos.
“Você vai comigo ao baile hoje à noite?”, perguntei.
“Que baile?”
“Dos roteiristas, no Ambassador.”
“Ah, sim.” Ele refletiu. “Não posso ir com você. Talvez apareça mais tarde. Temos uma pré-estreia em Glendale.”
Tudo muito diferente do que estava planejado. Quando ele se sentou, eu fiz o mesmo e recostei minha cabeça entre os telefones, como se fosse mais um item da escrivaninha, e olhei para ele; e os olhos escuros dele se mantiveram fixos nos meus, por gentileza e nada mais. Os homens geralmente não percebem esses momentos em que uma garota pode ser deles de graça. Consegui apenas que ele tivesse este pensamento: “Por que você não se casa, Celia?”
Talvez mencionasse Robby mais uma vez, tentando me arranjar um par.
“O que eu podia fazer pra que um homem interessante se interesse por mim?”
“Diga a ele que está apaixonada.”
“Fico no pé dele?”
“Sim”, ele disse, com um sorriso.
“Sei lá. Se a coisa não vai, é porque não é pra ser.”
“Eu me casaria com você”, ele respondeu, inesperadamente. “Estou me sentindo sozinho pra caramba. Mas sou um velho, e por demais cansado, pra assumir o que quer que seja.”
Dei a volta na escrivaninha e parei perto dele.
“Me assuma.”
Ele ergueu a vista, surpreso, pela primeira vez compreendendo que eu falava muito sério.
“Ah, não”, disse. Pareceu quase infeliz por um momento. “Sou casado com o cinema. Não tenho muito tempo” — e ele se corrigiu, rápido — “quero dizer, tempo nenhum.”
“Você não conseguiria me amar.”
“Não é isso”, ele falou e — exatamente como sonhei, mas com uma diferença: “Nunca pensei em você dessa maneira, Celia. Te conheço há tanto tempo. Alguém me falou que você ia se casar com Wylie White”.
“E você... nem reagiu.”
“Sim, reagi. Ia falar com você sobre isso. Espere até que ele complete dois anos sem beber.”
“Não estou nem considerando a hipótese, Monroe.”
A conversa havia fugido totalmente do rumo planejado, e, também como nos meus devaneios, alguém entrou — só que eu tinha quase certeza de que obedecendo a um comando oculto de Stahr.
Para sempre vou pensar naquele momento, quando senti a presença da srta. Doolan às minhas costas, bloco de anotações na mão, como o fim da infância, como se ali se encerrasse aquele tempo em que a gente recorta figuras. Estava olhando não para Stahr, à minha frente, mas para uma figura dele que eu recortara repetidas vezes: o olhar que, irradiando uma sofisticada compreensão acerca do interlocutor, logo apontava na direção das amplas sobrancelhas, dardejando seus dez mil planos e complôs; o rosto que envelhecia a partir de dentro, de modo que não havia nele rugas de preocupação ou aflição, apenas um ascetismo subtraído a uma silenciosa batalha autoimposta — ou a alguma doença duradoura. Era mais atraente para mim do que qualquer rapaz corado e bronzeado circulando entre Coronado e Del Monte. Ele era minha figura recortada, como se fotos suas tivessem decorado meu armário na escola. Foi o que eu disse a Wylie White, e, quando uma garota fala ao homem que é seu segundo preferido a respeito do primeiro... é porque está apaixonada.
Reparei na moça muito antes de Stahr aparecer no baile. Não era bonita, pois não há moças assim em Los Angeles — uma sozinha até chama atenção, mas pegue uma dúzia delas e já não se diferenciam. Tampouco era uma beldade profissional — do tipo que torna o ar rarefeito a ponto de até os homens saírem do recinto para respirar. Uma moça apenas, com a pele de um dos anjos coadjuvantes de Rafael e um estilo que obrigava a uma segunda inspeção para ver se o que chamou atenção é alguma coisa que ela está usando.
Reparei nela e a esqueci. Estava sentada nos fundos, atrás de umas colunas, numa mesa cujo atrativo era uma estrela de segunda e esquecida, a qual, na esperança de ser notada e conseguir uma ponta, se levantava para dançar com uns sujeitos desalinhados de quando em quando. Eu me lembrei, com vergonha, da minha primeira festa, em que a mamãe me fez dançar vezes sem conta com o mesmo rapaz para me manter sob os holofotes. A atriz de segunda falou com várias das pessoas da nossa mesa, mas, como tínhamos mais o que fazer com nossa encenação de membros da alta sociedade, não conseguiu nada.
Do nosso ponto de vista, parecia que todos ali queriam alguma coisa.
“Espera-se que a gente circule animadamente”, disse Wylie White, “como nos velhos tempos. Quando percebem o propósito, perdem o interesse. Daí toda essa melancolia — a única maneira de esse pessoal manter a autoestima é se portando como personagens de Hemingway. Mas, lá no fundo, sentem pela gente um ódio funesto, e a gente sabe disso.”
Ele tinha razão — eu sabia que desde 1933 os ricos só conseguiam ser felizes sozinhos quando reunidos.
Vi o momento em que, à meia-luz no alto da ampla escada, Stahr entrou e, parado com as mãos nos bolsos, olhou em volta. Era tarde, e as luzes pareciam brilhar menos, embora fossem as mesmas. O espetáculo no tablado tinha terminado, exceto por um sujeito que, com um letreiro, anunciava que à meia-noite, no Hollywood Bowl, Sonja Henie ia patinar em sopa quente. O homem seguia sua dança, e o letreiro às suas costas ia perdendo a graça. Alguns anos antes, haveria por ali uns bêbados. A estrela esquecida parecia estar procurando por eles, esperançosa, por cima do ombro de seu parceiro de pista. Eu a segui com os olhos enquanto retornava à mesa...
... e lá estava Stahr, para minha surpresa, conversando com a outra moça. Sorriam um para o outro como se o mundo estivesse começando ali.
Stahr não estava esperando nada daquilo quando parou no alto da escada, minutos antes. A pré-estreia o decepcionara e, depois dela, e ainda bem em frente ao cinema, ele havia se envolvido numa cena com Jacques La Borwitz que agora lamentava. Já se dirigia para onde estava reunido o pessoal de Brady, na festa, quando viu Kathleen sentada sozinha no centro de uma mesa comprida e branca.
A coisa mudou imediatamente. À sua passagem, a caminho de onde estava a moça, as pessoas se encolhiam junto às paredes até parecerem figuras pintadas num mural; a mesa branca se tornou ainda mais comprida, um altar onde a sacerdotisa permanecia só. A vitalidade nele cresceu, e Stahr poderia ter ficado um longo tempo parado, de frente para ela, do outro lado daquela mesa, a olhar e sorrir.
Os donos da mesa iam retornando, rastejantes — Stahr e Kathleen dançavam.
Quando a moça chegou mais perto, as várias visões que eu tivera dela se embaralharam; por um momento, tornou-se irreal. Em geral, o crânio de uma garota a fazia palpável, mas não daquela vez — Stahr seguiu embevecido enquanto cruzavam a pista de dança até a última fronteira, onde, atravessando um espelho, adentraram um outro baile, com outros dançarinos, cujos rostos eram familiares, porém...
F. Scott Fitzgerald
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















