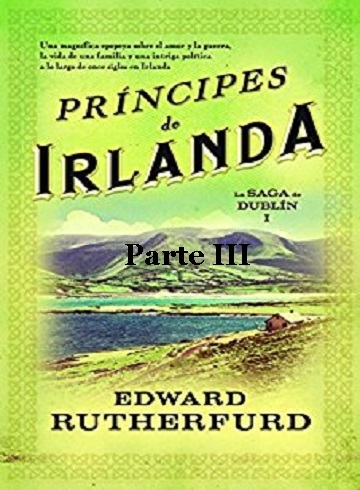Biblio "SEBO"




O dia transcorreu calmamente. Mantiveram um alerta contra grupos de assalto, mas não viram nenhum. Ao se aproximar o anoitecer, avistaram fumaça vindo de uma fazenda perto de um antigo assentamento e encontraram um pastor e sua família. Pernoitaram agradecidos pelo calor de uma fogueira e pelo abrigo. O pastor contou-lhes que Brian Boru, juntamente com uma enorme tropa, fora para Dyflin e agora estavam todos acampados lá.

— Dizem que ele pretende ficar até o Natal — alertou o pastor. — Mas por aqui está calmo — disse-lhes ele.
Na manhã seguinte, quando retomaram a viagem, o tempo estava nublado. Adiante, estendia-se um enorme terreno plano. À direita, para oeste, começava uma enorme área pantanosa. Para leste, a dois dias de viagem, ficava Dyflin. Adiante, ao sul, a planície compunha-se de matas entremeadas de amplos espaços abertos. No final da tarde, se viajassem numa velocidade razoável, chegariam ao maior desses espaços abertos, o platô descampado de Carmun, onde, desde tempos imemoriais, as pessoas da ilha se reuniam para o festival pagão do Lughnasa e a corrida de cavalos. E apenas a uma curta distância da antiga pista de corridas ficava o destino deles, o grande mosteiro de Kildare.
A tarde estava quase terminada e a escuridão praticamente caindo, quando chegaram à extremidade de Carmun. Uma estranha cor cinzenta impregnava o céu. Os enormes e planos espaços vazios pareciam sinistros e vagamente ameaçadores. Até mesmo Morann estava inquieto, e Osgar viu-o olhar em volta, aflito Estaria escuro antes de chegarem a Kildare. Olhou a irmã Martha de relance.
A bondosa freira fora certamente uma excelente companheira de viagem. Não falou, a não ser quando se dirigiram a ela, mas, quando falava, revelava a reserva de um animado bom senso. Ela devia ser muito boa, pensou ele, em cuidar de doentes. Estaria agora um pouco nervosa? Tinha de admitir, pelo menos a si mesmo, que ele estava. Ela, porém, não mostrava sinais disso. Poucos momentos depois, sorriu para ele.
— Gostaria de recitar algo comigo, irmão Osgar? — indagou ela subitamente. Ele entendeu perfeitamente. Poderia ser útil a todos não ficarem nervosos.
— O que gostaria? — perguntou ele. — Um Salmo, talvez?
— “O Peitoral de Patrício”, creio eu — retrucou.
— Excelente escolha. — Era um poema adorável. Dizia a tradição que fora composto pelo próprio São Patrício, e poderia ter sido mesmo. Tratava-se de um hino de louvor mas também de proteção, e não fora composto em latim, mas em irlandês — o que era apropriado, pois esse grande cântico cristão, tão repleto de admiração pela criação terrena de Deus, tinha uma característica druídica que lembrava poetas como Amairgen da antiga tradição celta.
Osgar iniciou o primeiro verso, entoando-o firmemente:
Ergo-me hoje, Meu espírito poderoso; Conclamo os Três, A Trindade; Confesso ao Único Criador da Criação.
Depois, a irmã Martha recitou o segundo:
Ergo-me hoje
Pelo nascimento de Cristo...
Sua voz tinha uma força animadora. Era quase musical. Ela era uma boa companhia, pensou Osgar, enquanto atravessavam juntos o espaço aberto. Ao se aproximarem do eixo central druídico do poema, descobriram-se revezando-se naturalmente, verso por verso.
Ergo-me hoje Pelo poder do céu: Luminoso como o sol, Radiante como a lua, Esplêndido como fogo, Ligeiro como o raio, Veloz como o vento, Profundo como o mar..
O ar da noite ficava cada vez mais frio; mas, ao entoarem juntos o inspirador poema, naquele local onde a vegetação ecoava todos os versos e sentindo o frio ar açoitando suas bochechas avermelhadas, Osgar sentiu-se reanimado. Havia ousadia e virilidade em sua voz, e a irmã Martha sorria. E só terminaram o hino, em meio à crescente escuridão, quando avistaram os muros de Kildare assomarem diante deles.
Na manhã seguinte, após se despedirem da freira, os dois se prepararam para seguir seus rumos diferentes. O tempo havia mudado. Fazia frio, mas o céu estava límpido e o dia, claro e brilhante. A viagem de Kildare a Glendalough não era difícil e, como não haviam encontrado nenhum problema no caminho, Osgar sentia-se bem por ter de prosseguir sozinho. Primeiro ele iria a uma pequena casa religiosa aninhada ao pé das encostas ocidentais das montanhas de Wicklow, a não mais do que vinte quilômetros de distância. Por sorte, os monges de lá haviam recentemente emprestado um cavalo a um dos criados do mosteiro, e ficara combinado que Osgar o levaria de volta. Após uma noite ali, ele tencionava pegar a trilha da montanha que seguia para Glendalough, um caminho familiar que o levaria facilmente até lá na tarde seguinte.
Morann, enquanto isso, pretendia passar a manhã cuidando de seus negócios em Kildare, e depois pegar a estrada que passava por Carmun. Ele, também, reduziria sua jornada e chegaria a Dyflin no dia seguinte.
Como não havia necessidade de pressa, Osgar passou algumas horas agradáveis olhando ao redor da cidade-mosteiro de Kildare.
A região sempre fora um lugar sagrado. Osgar sabia que, antes de o cristianismo chegar à ilha, havia ali um santuário, em um bosque de carvalhos, consagrado a Brígida, a deusa celta da cura, cujo festival era o Imbolc, no início de fevereiro. Protetora das artes e da poesia, Brígida também protegia a província de Leinster e, para assegurar esse benefício, a sacerdotisa do santuário mantinha um fogo sempre aceso, noite e dia. Os detalhes exatos nunca ficaram claros, mas, provavelmente, mais ou menos uma geração após as missões de São Patrício no norte, a então grã-sacerdotisa do santuário, que era conhecida como a sacerdotisa de Brígida, adotaria a nova religião romana. Nos séculos subseqüentes, o santuário não apenas adquiriria um novo nome — Kildare, Cill Dará, a igreja do carvalho — como a sacerdotisa sem nome seria transformada em uma santa cristã com as mesmas associações da antiga deusa pagã, e uma história de vida e conseqüentes milagres de acordo com o padrão habitual. Como um homem instruído, Osgar sabia que os cronistas sempre tiveram tais biografias preparadas para a necessária produção das vidas de santos. Mas isso não afastou a questão essencial, que era o fato de Santa Brígida, a santa padroeira dos poetas, dos ferreiros e da cura, ter entrado para o calendário cristão, juntamente com o seu dia santificado, 10 de fevereiro, o dia do antigo festival pagão do Imbolc.
Atualmente era um local enorme, maior até mesmo do que Kells. Uma grande cidade — com um centro sagrado, um anel interno de prédios monásticos e um externo de aposentos leigos — que continha um mosteiro duplo, um para monges e outro para freiras, sob o poder de uma autoridade única. Rico e poderoso, Kildare também possuía seu próprio grupo de homens armados para sua proteção.
Foi enquanto inspecionava uma das belas cruzes da cidade que Osgar decidiu mudar seus planos.
A idéia lhe ocorrera ainda enquanto trabalhava em Kells, mas ele a rejeitara como desnecessária. Durante a viagem, ela lhe ocorrera novamente uma ou duas vezes. Agora, porém, talvez por causa do sol que brilhava tão alegremente no chão congelado, e sem dúvida também porque Morann já estava indo para lá, ele sentiu um desejo repentino de visitar Dyflin.
Afinal, lembrou a si mesmo, ele não era esperado em um dia determinado em Glendalough. Se não tivesse ido a Kildare por causa da irmã Martha, de qualquer modo ele provavelmente teria retornado a Glendalough através de Dyflin. Era tamente um dever familiar, com a ocorrência de todos aqueles problemas, verificar o bem-estar de seu velho tio. Além do mais, já que o pequeno mosteiro da família estava nominalmente sob a proteção de Glendalough, ele podia imaginar que o abade de Glendalough ficaria agradecido por um relatório sobre o estado das coisas por lá. E se, por acaso, se encontrasse com Caoilinn, a qual, Morann lhe dissera, estava na cidade com o pai, não haveria nenhum mal nisso. Portanto, quando Morann retornou de seus compromissos, Osgar perguntou ao surpreso artesão se, em vez de ir a Glendalough, podia ir de carroça com ele até a cidade. O artesão lançou-lhe um olhar cauteloso.
— Ainda pode estar perigoso por lá — alertou.
— Mas, mesmo assim, você vai. — Osgar sorriu. — Estou certo de que estarei seguro com você.
Partiram uma hora antes do meio-dia. Durante as duas primeiras horas, a viagem foi rotineira. Havia um brilho de geada no chão e, quando atravessaram os imensos espaços a céu aberto de Carmun, o terreno faiscava de verde ao refletir o sol. Osgar sentia uma estranha felicidade de excitação que crescia a cada quilômetro que percorriam. Embora a princípio dissesse a si mesmo que isso era porque veria mais uma vez a sua família no mosteiro, ele finalmente desistiu e admitiu, com um sorriso interior, que era porque ia ver Caoilinn. No início da tarde, eles haviam iniciado uma subida por uma larga trilha que levava em direção ao norte, com as extensas encostas das montanhas de Wicklow erguendo-se a alguns quilômetros adiante a oeste.
Foi Osgar quem avistou o primeiro cavaleiro. Ele cavalgava por uma trilha cerca de quilômetro e meio à direita. E quando o apontou para Morann, ele viu que havia outros não muito atrás. Havia também homens a pé. Depois ele avistou uma carroça a distância, e mais cavaleiros. E, olhando na direção sul, descobriu que eles encontrariam um grande fluxo de pessoas seguindo desordenadamente na extremidade da planície abaixo das montanhas de Wicklow. Não demorou muito e chegaram perto o bastante para saudar um deles. Era um homem de meia-idade, com o corpo envolto em um cobertor. Um lado de seu rosto estava riscado com sangue coagulado. Perguntaram ao homem o que estava acontecendo.
— Uma grande batalha — gritou em resposta. — Bem ali. — Gesticulou na direção sul. — Em Glen Mama, perto das montanhas. Brian nos venceu. Fomos destruídos.
— Onde está Brian agora? — perguntou Morann.
— Vocês quase o encontraram. Ele e seus homens passaram por aqui. Ele cavalgava como o demônio — bradou sombriamente. — Já deve estar agora em Dyflin.
Morann franziu os lábios. Osgar sentiu uma pequena pontada de medo, mas nada disse. Os cavaleiros se afastaram. Após uma curta pausa, Morann virou-se para Osgar.
— Tenho de prosseguir. Mas você não precisa. Pode retornar a Kildare e chegará antes de escurecer.
Osgar refletiu por um momento. Pensou no tio e no mosteiro da família. Pensou em Caoilinn.
— Não — disse ele. — Vou com você.
A tarde se esvaía e eles se viram em meio a uma torrente de homens voltando para casa. Muitos estavam feridos. Aqui e ali havia carroças transportando os incapazes de andar ou cavalgar. Não havia muita conversa. Os que falavam contavam todos a mesma história. “Deixamos mais mortos do que vivos ali em Glen Mama”, diziam. A curta tarde chegava ao fim, quando avistaram uma pequena casa religiosa ao lado de um riacho.
— É ali que vamos parar — anunciou Morann. — Se partirmos daqui amanhã bem cedo, avistaremos Dyflin antes do fim da manhã. — Osgar pôde ver que já havia uma grande quantidade de pessoas descansando ali.
Morann estava preocupado. Não queria ter trazido o monge. Não que não gostasse dele; mas se tratava de um complicador, uma responsabilidade a mais, um possível risco.
O que haveria à frente? Um exército conquistador após uma batalha é um animal perigoso. Saques, pilhagem, estupros: era sempre a mesma coisa. Mesmo um rei tão forte quanto Brian não seria capaz de controlar seus homens. A maioria dos comandantes deixava suas tropas fazerem o que quisessem por um ou dois dias, e então as refreava depois disso. As casas religiosas com seus complexos cercados provavelmente estariam em segurança. Brian cuidaria disso. Contudo, nas cercanias de Dyflin seria perigoso. Como o pacífico monge lidaria com essas coisas? Que utilidade ele poderia ter? Meteria os pés pelas mãos e precisaria que se cuidasse dele? Havia, também, outro detalhe a ser considerado. O principal objetivo de Morann era encontrar Astrid e seus filhos e, se necessário, ajudá-los a fugir. Certamente não ia querer o monge ocupando um espaço valioso na carroça. Gostaria que Osgar não tivesse vindo.
E, no entanto, não podia deixar de admirá-lo. A casa religiosa onde fizeram uma escala em sua viagem era um local pequeno, com menos de uma dúzia de ocupantes. Os monges de lá estavam acostumados a dar abrigo a visitantes, mas, ao cair da noite, seus meios estavam completamente esgotados. Devia haver cinqüenta ou sessenta homens exaustos ou feridos, alguns deles à morte, acampados no pequeno quintal ou do lado de fora do portão; os monges lhes forneciam a comida e os curativos que eram possíveis. E Osgar ajudava-os.
Ele era impressionante. Movimentando-se entre os feridos e moribundos, dando comida e água a um, fazendo ataduras nas feridas de outro, sentado e conversando calmamente com algum pobre coitado a quem comida e curativos não podiam mais ajudar, ele parecia ter não apenas uma tranqüila competência, mas uma graça delicada, extraordinária. Durante a noite — pois ele parecia incansável
— sentou-se com dois moribundos, rezando com eles e, quando chegou o momento, deu-lhes a extrema-unção. E podia-se ver, no rosto dos homens, que Osgar lhes levou paz e consolo. Não era apenas o que ele fazia, concluiu Morann, mas algo em seus modos, uma quietude que irradiava de seu corpo magros elegante, da qual ele mesmo provavelmente não tinha consciência.
— Você é uma dádiva — comentou com ele o artesão durante um intervalo em sua vigília, mas Osgar apenas pareceu surpreso.
Quando veio a manhã, os monges ficariam obviamente contentes se ele ficasse na residência. Um grande número de homens que descansavam lá não estava em condições de prosseguir, e outros ainda vinham chegando.
— Haverá soldados por a toda parte, esta manhã—frisou Morann para Osgar.
— Tem certeza de que não seria melhor você ficar aqui?
— Tenho — afirmou Osgar. — Irei com você.
A manhã era cristalina. O céu estava azul. Havia uma poeirinha de neve, reluzin-do ao sol nos cumes das montanhas de Wicklow.
Apesar das tristes cenas da noite e do possível perigo à frente, Osgar experimentava uma sensação de excitamento misturada com um ardor de fervoroso júbilo, Ele ia ver Caoilinn. A primeira parte da viagem foi tranqüila, e ele permitiu que sua mente divagasse um pouco. Imaginou-a em perigo; imaginou-se chegando, o olhar dela de surpresa e alegria. Imaginou-se salvando-a, combatendo agressores, levando-a para um local seguro. Sacudiu a cabeça. Visões inverossímeis sonhos juvenis. Mas ele sonhou assim mesmo, várias vezes, enquanto a pequena carroça ia aos solavancos pelas montanhas reluzentes.
Então sentiu Morann cutucá-lo.
Havia uma pequena elevação adiante. Logo abaixo dela, havia uma fazenda. E, perto da fazenda, havia cavaleiros.
— Problemas. — Morann parecia acabrunhado.
— Como você sabe?
— Não sei, mas desconfio. — Apertou os olhos. — É um grupo de saqueadores. — Olhou para Osgar. — Você está pronto?
— Estou. Suponho que sim.
À medida que avançavam, podiam ver o que acontecia. O grupo de saqueadores consistia de três cavaleiros. Vieram recolher o gado e, ao descobrir apenas poucas cabeças na fazenda, evidentemente resolveram levar todas. Osgar podia ver uma mulher parada na entrada da fazenda. Havia uma criança atrás dela. Um homem, presumivelmente seu marido, tentava argumentar com os invasores, que não lhe davam a menor atenção.
— Osgar — O tom de voz de Morann era baixo —, estique a mão atrás de você. Há um cobertor com uma espada debaixo dele. Coloque o tapete sobre seus joelhos e mantenha a espada entre as pernas.
Osgar tateou atrás da espada e fez o que Morann pedira.
— Avise, quando precisar dela — disse ele baixinho, ao se aproximarem.
O fazendeiro agora estava gritando, enquanto o gado era retirado de seu cercado. Osgar viu o sujeito avançar correndo e agarrar um dos cavaleiros pela perna, protestando com ele. Puxava loucamente a perna.
O movimento foi tão rápido que Osgar nem mesmo percebeu a mão do cavaleiro se mexer. Ele viu, porém, a lâmina, um único e repentino clarão na manhã ensolarada. Então viu o fazendeiro cair, viu-o dobrar-se no chão.
O cavaleiro nem mesmo lançou um olhar em sua direção, mas cavalgou adiante, conduzindo o gado, enquanto a mulher, com um grito, correu à frente com a criança.
Ele estava morrendo quando o alcançaram. Os invasores já se afastavam. Osgar desceu. O pobre sujeito caído ao chão ainda estava consciente, ciente de que Osgar lhe dava a extrema-unção. Momentos depois, com a mulher e a criança chorando a seu lado, no chão, ele morreu.
Osgar levantou-se lentamente e olhou para baixo. Nada disse. Morann falou-lhe algo, mas ele não escutou. Tudo que via era o rosto do morto. Um homem que ele não conhecia. Um homem que morrera à toa, num momento insensato, de modo insensato.
Então aquilo lhe voltou novamente. O mesmo rosto cinzento. Os mesmos olhos fixos. O sangue. O horror. Era sempre a mesma coisa. A infindável crueldade humana, a violência sem motivo. A inutilidade de tudo aquilo.
As lembranças que o haviam perturbado outrora, em sua juventude, após a morte do assaltante, havia muito foram apaziguadas. Elas retornavam de vez em quando, mas como lembranças, como coisas que pertenciam ao passado. E na tranqüilidade e segurança de Glendalough, havia poucos motivos para que fosse o contrário. Mas agora, ao fitar subitamente a terrível carne ensangüentada e o refugo humano à sua frente, seu antigo terror voltou-lhe com toda a força, crua premência que ele vivenciara muito tempo atrás.
E eu também matei um homem, pensou ele. Eu também fiz isso. Se em legítima defesa ou não, mesmo assim parecia não fazer diferença. É exatamente como acontecera na ocasião, anos atrás, ele sentiu uma enorme necessidade de ir embora, de não mais tomar parte nessas coisas malignas e trágicas. Nunca mais, ele jurara a si mesmo. Nunca mais.
Deu-se conta de que Morann puxava seu braço.
— Devemos ir em frente — dizia o artesão. — Não há nada que possamos fazer aqui.
Osgar estava quase em estado de torpor quando se viu sentado novamente na carroça, com a espada entre os joelhos. Morann dirigia pela trilha. Os invasores estavam um pouco distantes, à esquerda, mas pareciam observá-los. Por alguns momentos, abandonando o gado, os três cavaleiros vieram na direção deles. Osgar ouviu Morann dizer-lhe que ficasse calmo. Sentiu a mão involuntariamente apertar a espada, ainda escondida sob o cobertor entre suas pernas. Os cavaleiros os alcançaram.
Dos três, dois vestiam pesados gibões de couro e portavam espadas. Eram obviamente soldados. O terceiro, um sujeito magro, dentes quebrados, com um manto em volta do corpo, não parecia pertencer ao grupo. O soldado que golpeara o fazendeiro falou:
— Vamos precisar dessa carroça. — Era uma ordem. Mas enquanto Osgar lutava em começar a se mexer, Morann pousou a mão sobre seu braço e o impediu.
— É impossível — disse ele.
— Por quê?
— A carroça não é minha. Pertence ao mosteiro. — Gesticulou para Osgar — O mosteiro de Dyflin para onde estou levando este bom monge. — Fitou calmamente o soldado. — Não creio que o rei Brian ia querer que vocês tomassem a carroça do mosteiro.
O soldado refletiu. Seus olhos avaliaram Osgar cuidadosamente e pareceram concluir que se tratava realmente de um monge. Aquiesceu lentamente.
— Vocês têm objetos de valor?
— Não. — O rosto de Morann era confiante. Com exceção de alguma prata escondida em suas roupas, ele não tinha.
— Eles mentem! — Foi o homem de dentes quebrados quem havia berrado. Seus olhos pareciam um pouco furiosos. — Deixe-me revistá-los.
— Você fará o que lhe mandaram e ajudará a tocar o gado — ordenou-lhe o soldado bruscamente. Gesticulou com a cabeça para Morann. — Pode ir.
Continuaram ao longo da trilha. Os cavaleiros e o gado ficaram para trás. Morann sorriu.
— Ainda bem que eu vim com você — resmungou.
Subiram uma pequena elevação e estavam justamente fazendo uma pausa no topo, quando, a distância, viram uma cena tenebrosa. Fumaça elevava-se no céu. Fumaça que devia vir de uma grande fogueira, talvez de muitas fogueiras. A julgar pela direção, só podia vir de Dyflin. Osgar viu Morann sacudir a cabeça e olhar com dúvida para ele. Mas continuou seguindo em frente.
O som do cavalo galopante atrás deles surgiu apenas momentos depois. Osgar virou-se. Para sua surpresa, viu que era o sujeito magro com os dentes partidos. Parecia vir direto para cima deles. Evidentemente, havia se separado dos soldados. Para seu horror, quando o sujeito chegou mais perto, Osgar se deu conta de que ele brandia uma espada. Os olhos do sujeito pareciam ainda mais furiosos do que nunca.
— Saque a espada — ele ouviu a voz de Morann dizer, tranqüila mas firmemente, a seu lado.
Mas, embora tivesse entendido Morann perfeitamente bem, Osgar permaneceu imóvel. Parecia estar congelado. Morann cutucou-o impacientemente.
— Ele vai atacar você. Saque a espada.
ele continuou sem nada fazer. O sujeito estava agora a apenas alguns passos de distância. Morann tinha razão. Ele se preparava para atacar.
— Pelo amor de Deus, defenda-se — gritou Morann. Osgar podia sentir a espada em sua mão. Contudo, sua mão não se mexia.
Ele não estava com medo. Era a estranheza da situação. Sua paralisia não era de medo. Ele mal se importava, naquele momento, se o sujeito o atacasse. Pois, se ele atacasse o homem, provavelmente o mataria. E tudo o que ele sabia, naquele instante, era que estava decidido a não matar outro homem. Não queria tomar parte naquilo. Não outra vez.
Nem sentiu quando Morann arrancou-lhe a espada das mãos. Ficou apenas ciente, por um momento, do forte braço esquerdo de Morann atingindo seu peito, ao mesmo tempo que, jogando seu corpo contra o de Osgar, o artesão golpeava o atacante. Ele ouviu o tinir de aço no aço, sentiu o corpo de Morann girar violentamente e, então, ouviu um grito terrível quando o sujeito magro tombou de seu cavalo. Segundos depois, Morann mergulhou sobre o homem e cravou sua espada no peito do homem ferido.
O homem magro jazia no chão. Sangue espumava de sua boca. Morann virou-se. E agora o artesão vociferava.
—No que estava pensando? Você podia ter causado a morte de nós dois. Valha-me Deus, você é inútil a homem ou animal. Você é o maior covarde que já vi.
— Lamento. — O que ele poderia dizer? Como poderia explicar que não tivera medo? Que diferença isso faria, afinal? Osgar mal conhecia a si mesmo.
— Eu não devia ter trazido você — berrava o artesão. — Não devia ter feito isso, contra meu próprio juízo. Você não tem utilidade para mim, monge, e é um perigo para si mesmo.
— Se isso acontecer novamente... — Osgar ouviu-se dizer fracamente.
— Novamente? Não haverá novamente. — Morann fez uma pausa, e então declarou decisivamente: — Você vai voltar.
— Mas não posso. Minha família...
— Se há um lugar seguro em Dyflin, é o mosteiro do seu tio — disse-lhe Morann.
— E Caoilinn... Ela estará na cidade, provavelmente.
— Meu Deus — explodiu Morann —, o que pode fazer um covarde inútil como você por Caoilinn? Não seria capaz de salvá-la de um camundongo.
Inspirou fundo e, então, um pouco mais complacente, prosseguiu com moderação. — Você é formidável com os doentes e os moribundos, Osgar. Eu observei você. Deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde você é necessário. Faça o que Deus pretendeu que você fizesse, e deixe o salvamento de pessoas para mim.
— Eu penso realmente que... — começou Osgar, mas o artesão o deteve com firmeza.
— Não levarei você mais adiante em minha carroça. — E antes que Osgar pudesse falar qualquer outra coisa, Morann pulou para a carroça, fez a curva e seguiu de volta pelo caminho por onde tinham vindo.
Não viram ninguém no caminho. Os ladrões de gado haviam desaparecido. As pessoas na fazenda já tinham arrastado para dentro o corpo do fazendeiro. Já conseguiam avistar a distância a pequena casa religiosa onde haviam passado a noite, quando Osgar pediu que o artesão parasse.
— Creio que você tem razão — disse ele pesarosamente. — Devo voltar para perto dos monges. Eles precisam de mim lá. Deixe-me saltar, posso seguir a pé daqui. Quanto mais cedo você chegar a Dyflin, melhor. — Fez uma pausa. — Você me promete uma coisa? Faça uma visita a Rathmines. Fica no seu caminho. Vá e certifique-se de que Caoilinn não está lá, precisando de ajuda. Faria isso para mim?
— Isso — concordou Morann — eu posso fazer.
Osgar acabara de descer quando lhe ocorreu um súbito pensamento.
— Dê-me o cobertor — pediu.
Morann entregou-o, com um dar de ombros.
— Ótimo. — E, despindo seu hábito de monge, Osgar envolveu o corpo com o cobertor. Então jogou o hábito para Morann. — Vista isso — gritou. —Talvez o ajude a chegar a Dyflin.
As chamas e a fumaça que se erguiam diante de Dyflin cresciam a cada hora; mas não eram o resultado da destruição: vinham das enormes fogueiras que os homens de Munster haviam feito em seu acampamento ao ar livre entre os bastiões da cidade e os espaços abertos próximos ao Thingmount.
Caoilinn olhava aflita na direção delas e pensava no que fazer quando viu surgirem os dois homens. Imaginou se eles poderiam ajudá-la.
Ela fora a Rathmines na noite anterior. Assim que soubera das notícias sobre Glen Mama, decidira cavalgar até a fazenda, deixando os filhos com seu irmão em Dyflin, para esperar pelo marido, no caso de ele vir daquela direção. Ela vira passar os homens de Brian, e alguns do exército derrotado, à procura de suas casas. Apesar de o enorme acampamento dos homens de Munster ficar fora dos muros, os portões de Dyflin estavam abertos. Havia um vaivém de pessoas. Mas por um longo tempo não viu sinal de Cormac.
Esperava encontrar alguém do seu pessoal na fazenda, mas, provavelmente por temor aos homens de Brian, todos haviam desaparecido, e ela se vira completamente só. A fazenda ficava a alguma distância da rua principal, no final de uma alameda própria, e, portanto, ninguém passava por ali. Ela, porém, reunira coragem e passara a noite ali sozinha, apesar de toda a aflição, pois, se o seu marido viesse naquela direção, encontraria alguém em casa.
E ainda bem que fizera isso.
Ele chegara meia hora atrás, sozinho. Se ela não tivesse reconhecido seu cavalo, não teria adivinhado, até ele cair a seus pés, que a figura andrajosa e ensangüentada que viu se aproximar era o homem que amava. Seus ferimentos eram terríveis. Parecia que não sobreviveria. Sabe Deus que força de vontade o mantivera sobre o cavalo, enquanto o animal caminhava lentamente de volta. Ela conseguira levá-lo para o lado de dentro do portão, limpara e enfaixara alguns de seus ferimentos. Ele gemera baixinho e lhe dera a entender que sabia quem era ela e que estava em casa. Contudo, mal conseguia falar. Após fazer o pouco que podia, Caoilinn imaginava como conseguiria levá-lo até o irmão dela em Dyflin, ou se devia deixá-lo ali sozinho enquanto fosse buscar ajuda, quando viu os dois homens se aproximarem da fazenda pela pequena alameda.
Eram soldados. Do exército de Brian. Pareciam amistosos e entraram na casa de fazenda com ela. Um deles deu uma olhada em Cormac e então sacudiu a cabeça.
— Não creio que ele sobreviva.
— Não — concordou o outro. — Não tem nenhuma chance.
— Por favor — pediu-lhes —, ele pode ouvi-los.
Os dois homens se entreolharam. Pareciam ponderar sobre a situação. Um deles, que parecia ser o superior, tinha um rosto largo, redondo, e era o mais sorridente e cortês dos dois. Foi ele quem, finalmente, falou.
-— Devemos então acabar com ele? — indagou cordialmente.
— Se assim desejar — disse o outro. Ela sentiu o coração saltar.
— Poderemos matá-lo depois de violentá-la. Talvez ele goste de observar.
O homem de rosto redondo virou-se para ela. — O que acha?
Um medo terrível a dominou. Ela poderia gritar, mas alguém a ouviria? Inútil. Se tivesse uma arma, tentaria usá-la. Eles tinham espadas e a matariam, mas ela preferia morrer lutando. Olhou em volta.
Claro. Seu marido, Cormac, tinha uma espada. Ele a olhava fixamente de seu lugar perto do portão, como se tentasse lhe dizer alguma coisa. Que tinha uma arma? Que seria melhor ambos morrerem lutando o quanto antes? Que ele não estava preparado para vê-la ser estuprada? Sim, pensou ela. Era a única saída. Arremeteu na direção dele.
Mas eles a seguraram. Eles a seguraram pela cintura. Ela não conseguia se mexer. Ouviu um brado vindo da alameda. Ela gritou.
E, um momento depois, para seu grande espanto, apareceu um monge. Ele tinha uma espada na mão.
Foi idéia de Morann levar Caoilinn e seu marido ao pequeno mosteiro familiar.
— É um lugar onde cuidarão dele e você estará mais segura sob a proteção dos monges do que em qualquer outro lugar que eu possa imaginar. — Ele desejou que tivesse perseguido o segundo agressor de Caoilinn. Ferira mortalmente o homem de rosto redondo, mas lamentou que o outro sujeito tivesse conseguido escapar.
O tio de Osgar ficara encantado em acolhê-los e era todo elogios para seu sobrinho, quando Morann, discretamente, lhes disse que só fora graças ao monge que fizera a tal visita. O abade também tinha muitas informações. Embora já estivesse muito velho e frágil, a emoção dos acontecimentos dos últimos dias parecia tê-lo deixado com bastante energia. Isso mesmo, confirmou, Brian estava no interior dos muros de Dyflin.
— Ele pretende passar lá o período natalino.
A batalha de Glen Mama fora uma catástrofe para Leinster. A morte cobrara um alto preço; feridos continuavam chegando o tempo todo. O rei de Dyflin fugira para o norte em direção a Ulster; mas foram enviados grupos de busca atrás dele. Brian não efetivara uma vingança de sangue contra o povo de Dyflin, mas cobrara um alto tributo.
— Ele espoliou a todos — disse o velho com a sombria satisfação de um espectador de uma boa briga. — Por Deus, ele espoliou a todos. Nada menos do que uma carroça carregada de prata de cada casa. — E, embora fosse claramente um exagero, Morann ficou duplamente contente por ter retirado seus objetos de valor. O rei de Munster também não perdera tempo para imprimir sua autoridade política à província. — Ele já tem o rei de Leinster sob seu poder e está tomando reféns de cada chefe na província, e também de todas as igrejas e mosteiros. Já levou até mesmo os meus dois filhos — acrescentou o velho, com um certo orgulho. Não era incomum reis tomarem reféns de grandes casas religiosas, pois ainda que esses mosteiros não estivessem em mãos de poderosas famílias locais que precisavam ser controladas, eles eram ricos o bastante para contratar guerreiros, e talvez até para possuir seus próprios funcionários armados. Tomar ambos os filhos do abade como reféns, porém, concedia à família e ao seu pequeno mosteiro uma importância que teria deixado o seu ancestral Fergus orgulhoso.
O velho perguntou a Morann se ele pretendia ir à cidade e o artesão respondeu que sim.
— São os ostmen que são vistos como o verdadeiro inimigo — observou o abade. — Mas, embora você não seja um ostman, é uma figura bem conhecida em Dyflin... mesmo vestido com um hábito de monge! — acrescentou com uma careta. — Não sei o que os homens de Munster acharão disso. Eu ficaria longe, se fosse você.
Morann agradeceu o conselho, mas não pôde aceitá-lo.
— Tomarei cuidado. — E, deixando sua carroça no mosteiro, foi caminhando até a cidade.
As ruas de Dyflin permaneciam quase do mesmo jeito de quando ele partira. Esperava ver cercas derrubadas, talvez alguns telhados de palha queimados; mas parecia como se os habitantes, sensatamente, tivessem aceitado seu destino sem resistência. Grupos de homens armados perambulavam por aqui e por ali. A Matadouro de Peixes estava apinhada de carroças de mantimentos, e a presença de porcos e gado em muitos dos pequenos quintais indicava que os ocupantes Pretendiam se banquetear durante o Natal. Muitas das casas tinham sido obviamente tomadas pelos homens de Munster, e ele ficou imaginando o que teria acontecido com a sua. Dissera à mulher de Harold que, durante sua ausência, levasse sua família para lá; portanto, esse era o seu primeiro destino.
Ao chegar ao portão, viu uma dupla de homens armados encostados na cerca, um deles aparentemente embriagado. Dirigindo-se ao outro, ele perguntou se a mulher estava em casa.
— A mulher dos ostmen, com as crianças? Morann fez que sim. O sujeito deu de ombros.
— Eles levaram todos embora. Lá para o cais, eu acho.
— O que vão fazer com eles? — perguntou Morann fortuitamente.
— Vendê-los. Como escravos. — O sujeito sorriu. — Mulheres e crianças Para variar, vamos ver alguns ostmen serem vendidos, em vez de venderem a gente. E todos que lutaram pelo rei Brian ganharão uma quota. Desta vez, voltaremos todos ricos para casa.
Morann forçou um sorriso. Mas, por dentro, xingava a si mesmo. Teria causado isso à família de seu amigo, convencendo-a a deixar a fazenda e ir para Dyflin?
Seu primeiro impulso foi ir ao cais de madeira para tentar encontrá-los, mas percebeu a tempo que isso poderia ser imprudente; e também ele ainda não sabia direito como poderia ajudá-los. Precisava descobrir mais. Foi então à casa do pai de Caoilinn e disse-lhe onde estava a sua filha.
— Os homens de Brian já estiveram aqui — contou-lhe o velho comerciante. O marido de Caoilinn, explicou, já fora penalizado em sua ausência. — Ele vai pagar duzentas cabeças de gado e entregar seu filho mais velho como refém — disse ele pesaroso. — Já perdi metade da minha prata e todas as jóias de minha esposa. Quanto a você — preveniu ao artesão —, se os homens de Munster descobrirem quem é, sofrerá como o resto de nós.
Quando Morann lhe contou do problema da família de Harold, o velho não foi animador. Já havia várias centenas, na maioria mulheres e crianças, mantidas em uma enorme área cercada perto do cais, onde eram vigiadas de perto. E a cada dia levavam mais para lá. Aconselhou a Morann não chegar perto do local por enquanto.
Pouco depois de deixar o comerciante, Morann movimentava-se cautelosamente na direção do cais. Embora se sentisse chocado com o que acontecera com a família de seu amigo, sabia que não devia ficar totalmente surpreso. Os mercados de escravos viviam sendo alimentados por pessoas que haviam perdido batalhas ou eram capturadas em incursões vikings. Por mais duro que pudesse parecer, o rei Brian se impunha de modo a que todo o mundo do norte entendesse.
O primeiro objetivo do artesão era descobrir onde a família de Harold era tida. Se possível, tentaria fazer contato com eles, ou pelo menos lhes dar um pouco de conforto e esperança. O problema seria como tirá-los de lá. Era improvável que ele conseguisse tirá-los sorrateiramente de seus captores. Para tornar as coisas mais difíceis, era possível que Astrid tivesse sido separada dos filhos, se tivessem de ser vendidos em mercados diferentes. Poderia, é claro, subornar os guardas; mas achava isso improvável. Teria uma chance melhor de comprá-los diretamente dos homens de Munster ao preço normal de mercado. Mas, por outro lado, teria de explicar quem ele era, e isso poderia se mostrar inconveniente. Poderia ele mesmo, pensou sombriamente, acabar no mercado de escravos.
O cais agora estava diante dele. Estava lotado de embarcações. Ninguém prestou muita atenção nele quando começou a circular por ali. Um grupo de homens armados veio gingando por um beco à sua direita. Ele parou para observá-los passar. Mas eles não passaram. Mãos subitamente seguraram seus braços. Ele debateu-se, tentou protestar, mas logo descobriu que era inútil. Tentou demonstrar calma.
— O que desejam, rapazes? — indagou. — Para onde estão me levando?
O oficial encarregado era um indivíduo moreno, com um ar de tranqüila autoridade. Parou diante do artesão e sorriu.
— O que desejamos, Morann Mac Goibnenn, é o prazer de sua companhia. Para onde o estamos levando? Para o próprio rei Brian Boru. — Deu meia-volta. — E não vai querer deixar o homem esperando agora, vai?
Foi Morann quem ficou esperando. Esperou a tarde toda. Fosse qual fosse o seu destino, estava curioso para ver o rei de Munster, cujos talentos e ambição o haviam carreado quase ao pináculo do poder; e, enquanto esperava, repassou o que sabia sobre ele.
Nascera como o filho mais jovem de seu pai, Kennedy, perto de um vau do rio Shannon. Morann ouvira dizer em algum lugar que, bem cedo, Brian fora avisado por umfili de que era um homem predestinado e que, por ter nascido Próximo a um vau, também morreria perto de um vau. Bem, ele agora se encontrava perto de Ath Cliath, mas estava muito vivo. “Ele gosta de mulheres.” Todos diziam isso. Mas quem não gostava? Até então, ele tivera três esposas. A segunda era uma mulher tempestuosa, a irmã do rei de Leinster. Ela já tinha sido casada com o rei viking de Dyílin e também com o rei supremo o'Neill. Antes, porém de ele descartá-la, ela dera a Brian um belo filho.
Havia muita gente, Morann sabia, que achava que esse divórcio provocara ressentimentos nos reis de Leinster e de Dyflin contra Brian; mas um chefe que conhecia o rei de Leinster garantira a Morann que o rumor não era realmente correto. “Ele pode não ter ficado satisfeito, mas conhece os problemas de sua irmã”, dissera ao artesão. E Deus sabe que o divórcio era bastante comum entre as famílias reais da ilha. Muito provavelmente, na opinião de Morann, os ressentimentos em relação a Brian eram provocados pela inevitável inveja de quem progride muito e tão depressa. O que ninguém negava era a intrepidez do rei de Munster. “Ele é tão paciente quanto audacioso”, reconheciam. Estava atualmente no final da casa dos cinqüenta anos de idade, mas cheio de vigor, era o que diziam.
E assim ficou provado. Estava quase anoitecendo quando Morann foi finalmente conduzido ao grande salão do rei de Dyflin, que Brian tomara. Havia uma lareira no centro, perto da qual vários homens estavam parados. Um deles, ele notou, era o rico comerciante que importava âmbar. A seu lado, virando-se para olhá-lo, estava a pessoa que, ele presumiu, só podia ser Brian Boru.
O rei não era um homem alto, mal superava a altura mediana. Tinha o rosto comprido, nariz fino, olhos inteligentes. Seu cabelo, onde não estava ficando grisalho, era de um forte castanho. O rosto era belo, uma expressão quase sábia; podia ter sido um padre, pensou Morann. Até Brian dar uns passos em sua direção, pois o rei sulista movimentava-se com a perigosa graça de um felino.
— Eu sei quem você é. Você foi visto. — Ele não perdia tempo. — Onde esteve?
— Em Kells, Brian, filho de Kennedy.
— Ah, sei. E espera que, lá, os seus bens estejam a salvo de mim. Disseram-me que não deixou muita coisa em sua casa. Quem se rebela tem de pagar o preço, você sabe disso.
— Não me rebelei. — Era verdade.
— Não?
— Esse homem pode lhe contar. — Morann indicou o comerciante de âmbar. — Eu disse aos homens de Dyflin que era um erro se opor a você. Isso não lhes agradou. Então, eu parti.
O rei Brian virou-se para o comerciante de âmbar, que confirmou com um gesto da cabeça.
Então por que voltou? — quis saber o rei.
Morann relatou os detalhes exatos de parte de sua viagem, como partira com Osgar e a freira, e sua descoberta de que a mulher e os filhos de Harold haviam sido levados. Discretamente, omitiu o incidente em Rathmines e sua fuga com Caoilinn -» o marido para o mosteiro, e torceu para que Brian desconhecesse o fato.
Você voltou por causa de seus amigos? — Brian virou-se na direção dos outros e comentou: — Já que esse homem não é burro, só pode ser corajoso. — Então, virando-se novamente para Morann, observou friamente: — Você, ao que parece, é amigo dos ostmen.
— Não especialmente.
—A família de sua esposa é de ostmen. — Isso foi dito calmamente, mas continha uma advertência. O rei não devia ser enganado. — Deve ter sido por isso, em primeiro lugar, que você veio viver aqui: seu amor pelos ostmen. — Estaria o rei Brian brincando com ele, como um gato com um rato?
— Para dizer a verdade — retrucou Morann sem se alterar —, foi meu pai quem me trouxe para cá, quando eu não era mais do que um menino. — Por um momento, ele sorriu ao recordar aquela viagem, passando pelos antigos túmulos acima do rio Boyne. — Minha família é de artesãos, estimada por reis desde antes da vinda de São Patrício. E meu pai odiava os ostmen. Mas ele me fez vir para Dyflin porque dizia que aqui era o lugar do futuro.
— Ele diz isso agora? E ele ainda está vivo, esse sábio homem? — Era difícil dizer se era ou não sarcasmo.
— Ele morreu há muito tempo.
O rei Brian ficou calado. Parecia estar pensando consigo mesmo. Então aproximou-se do artesão.
— Quando eu era jovem, Morann Mac Goibnenn — falou tão baixinho que Morann foi provavelmente a única pessoa que o ouviu —, odiava os ostmen. Eles tinham invadido a nossa terra. Nós os combatemos. Certa vez, até mesmo incendiei o porto deles de Limerick. Você acha que isso foi sensato de minha parte?
— Eu acho que precisava lhes dar uma lição.
—Talvez. Mas fui eu, Morann Mac Goibnenn, quem precisou aprender uma lição. — Fez uma pausa, então pegou um pequeno objeto que estava em sua mão e colocou-o na de Morann. — O que acha disso? — Era uma moeda de prata. O rei de Dyflin começara a cunhá-las apenas dois anos antes. Na opinião de Morann, a manufatura não era especialmente boa, apenas passável. Sem esperar por sua resposta, Brian continuou. — Os romanos cunhavam moedas mil anos atrás Moedas são cunhadas em Paris e na Normandia. Os dinamarqueses as cunham em York; os saxões têm casas de moedas em Londres e em várias outras cidades Mas onde cunhamos moedas nesta ilha? Em lugar nenhum, a não ser no porto de Dyflin, dos ostmen. O que isso lhe diz, Morann?
— Que Dyflin é o maior porto da ilha, e que negociamos além-mar.
— Mas, ainda agora, os nossos chefes nativos continuam contando sua riqueza em gado. — O rei suspirou. — Há três reinos nesta ilha, Morann. Há o interior, com suas florestas e pastos, seus raths e fazendas, o reino que recua às névoas do tempo, a Niall dos Nove Reféns, e a Cuchulainn e à deusa Eriu... o reino do qual vieram os nossos reis. Em seguida, há o reino da Igreja, dos mosteiros, de Roma, com seu saber e suas riquezas em locais protegidos. Esse é o reino que nossos reis têm aprendido a respeitar e amar. Mas agora há um terceiro reino, Morann, o reino dos ostmen, com seus portos e seu comércio pelo alto-mar. E esse reino nós ainda não aprendemos a tornar nosso. — Sacudiu a cabeça. — O rei supremo O'Neill pensa que é um grande homem porque mantém a posse de Tara e recebeu a bênção da igreja de São Patrício. Mas eu lhe digo uma coisa, se ele não comandar as frotas dos ostmen e se tornar também senhor do mar, então ele não é nada. Absolutamente nada.
— Você pensa como um ostman — comentou o artesão.
— Porque eu os tenho observado. O rei supremo tem um reino, mas os ostmen têm um império, por todos os mares. O rei supremo tem uma ilha-fortaleza, mas, sem frotas próprias, será sempre vulnerável. O rei supremo tem muito gado, mas também é pobre, pois o comércio está todo nas mãos dos ostmen. O seu pai tinha razão, Morann, ao trazê-lo para Dyflin.
Enquanto Morann refletia sobre o significado dessas palavras, via Brian com uma nova curiosidade. Descobriu que, ao tomar a metade sul da ilha, o rei de Munster já havia assumido o controle de todos os importantes portos vikings. Sabia também que, em algumas de suas campanhas, Brian fizera uso extensivo do transporte fluvial pelo rio Shannon. Mas o que Brian acabara de dizer ia muito além do tipo de controle político que os reis vinham exercendo até então. Se o rei supremo sem as frotas vikings podia ser rejeitado como um “nada”, então essa era a confirmação de que Brian, como muita gente suspeitava, pretendesse mesmo, mais cedo ou mais tarde, assumir como rei supremo. Mais do que isso, porém, aquilo soava como se, assim que se fizesse o senhor da ilha, ele pretendia ser uma espécie diferente de rei. Dyflin parecia interessá-lo mais do que Tara. Morann suspeitava que os ostmen de Dyflin veriam muito mais desse novo tipo de governante do que estavam acostumados, e que aquela tola revolta provavelmente dera a Brian simplesmente a desculpa que procurava para assegurar sua autoridade no lugar. Ele olhou o rei respeitosamente.
— Os ostmen de Dyflin não são fáceis de governar — observou Morann. — Estão acostumados à liberdade dos mares.
— Eu sei disso, Morann Mac Goibnenn — retrucou o rei. — Precisarei de amigos em Dyflin. — Observou astutamente o artesão.
Era uma proposta, Morann entendeu imediatamente. Mal podia acreditar em sua sorte. Após sua prisão no cais, ele não soubera o que esperar. E agora ali estava Brian Boru oferecendo-lhe amizade em troca da sua lealdade e apoio. Sem dúvida, haveria um preço a pagar, mas certamente valeria a pena. Também não pôde deixar de admirar a visão do rei de Munster. Do mesmo modo que Brian via longe à frente, para a época em que seria o senhor de toda a ilha, já ali, quando apenas havia esmagado a oposição em Dyflin, desde logo assentava o alicerce para um governo pacífico e amistoso do porto, no futuro. Talvez, pensou Morann, ele até mesmo pretendesse um dia montar sua base ali.
E ele estava para dar ao rei a garantia de sua leal amizade, quando houve um tumulto na entrada, o som de vozes alteradas, e então o chefe da guarda armada que levara Morann até lá irrompeu no salão. Seu rosto estava coberto de sangue.
— Fui atacado por um ostman, Brian, filho de Kennedy—bradou. — Reclamo sua morte.
Morann viu a expressão do rei se fechar e seus olhos escurecerem.
— Onde está ele? — indagou.
E agora, na entrada, Morann observou os homens arrastarem para dentro uma figura que lhe pareceu familiar; quando puxaram para trás o cabelo ruivo para levantarem sua cabeça, ele viu, iluminado pela luz da lareira, que era Harold.
Morann não gravara o nome do sujeito moreno, mas, evidentemente, este era bem conhecido do rei Brian; e, com um breve assentir do rei, ele relatou seu caso. Apesar do fato de sua cabeça estar sangrando muito, ele foi direto ao assunto.
O barco de Harold entrara no estuário do Liffey logo após escurecer. Aparentemente, os tripulantes viram as fogueiras perto de Thingmount, mas acharam que deviam estar relacionadas com os festejos do Natal. Atracaram no cais de madeira e imediatamente foram parados pelo vigia, que anotou o nome de Harold e mandou chamar o seu oficial que tinha ido ao salão real.
— Quando desci ao cais — explicou o sujeito moreno —, meus homens mandaram o ostman — apontou para Harold — se adiantar. Mas, assim que me aproximei, ele se virou e agarrou uma verga que estava caída ali; levei a mão à minha espada, mas antes que conseguisse desembainhá-la, ele me atingiu no rosto com a verga. Ele é muito rápido — comentou, não sem deferência — e forte Foram necessários três dos meus homens para dominá-lo.
Era óbvio que haviam feito mais do que dominar Harold. Tinham-lhe dado cacetadas na cabeça e uma violenta surra. Estava inconsciente quando o trouxeram, mas agora gemia. O rei foi até ele, segurou-o pelo cabelo e ergueu novamente seu rosto. Harold abriu os olhos, mas estes estavam vidrados; fitou o rei inexpressivamente. Era evidente que não enxergava Morann ou qualquer um dos presentes.
— É o rei que fala com você — disse Brian. — Entende? Um murmúrio indicou que Harold entendia.
— Foi meu próprio oficial quem você atacou. Ele quer a sua morte. O que tem a dizer?
— Eu o mataria primeiro. — A voz de Harold saiu engrolada, mas as palavras eram inconfundíveis.
— Está me desafiando? — berrou o rei.
Como uma espécie de resposta, Harold subitamente girou o corpo e livrou-se dos dois homens que o seguravam. Sabe Deus, pensou Morann, onde ele encontrou forças. Avistou então o oficial e arremeteu na direção dele. Foi o próprio Brian quem o agarrou, antes que os dois surpresos guardas o segurassem novamente e o empurrassem para o chão, enquanto um deles sacava um pequeno porrete e o descia com toda a força na cabeça de Harold. Num reflexo, Morann adiantou-se para intervir; mas, nesse momento, Brian ergueu a mão e todos paralisaram. Era óbvio que o rei estava furioso.
— Basta. Não quero saber de mais nada. Parece que alguns desses ostmen ainda não aprenderam sua lição. — Dirigiu-se ao oficial. — Leve-o embora.
— E? — inquiriu o sujeito moreno.
— Mate-o. — O rosto do rei Brian era decidido, duro e implacável. Morann percebeu que agora olhava para o homem que destruíra o porto viking de Limerick vencera um grande número de batalhas. Quando um homem assim perdia a aciência, seria tolice alguém tentar argumentar com ele. Entretanto, não parecia haver outra opção.
Brian, filho de Kennedy — começou. O rei virou-se para ele.
— O que é?
Esse homem é meu amigo. O tal de quem falei.
Pior então para você. E para ele. E sua maldita família na casa dos escravos. — Os olhos do rei o fitavam furiosamente, para que não se atrevesse a falar mais nada. Morann inspirou fundo.
— Só estou considerando que não é da natureza dele agir assim. Deve ter havido um motivo.
— O motivo é que é um tolo, e um rebelde. Ele não deu nenhum outro. E vai morrer. Se é a minha amizade que deseja, Morann Mac Goibnenn, não falará mais sobre isso.
Os guardas começaram a levar Harold para fora. Após a pancada com o porrete, ele voltara a ficar inconsciente. Morann inspirou fundo novamente.
— Não me permitiria falar com ele? Talvez...
— Basta! — bradou Brian. — Quer se juntar a ele na morte?
— Você não me matará, Brian, filho de Kennedy. — As palavras saíram frias e duras, praticamente antes de ele ter tempo de pensar no que dizia.
— Não? — Os olhos do rei chamejaram perigosamente.
— Não — afirmou Morann tranqüilamente —, porque sou o melhor ourives de Dyflin.
Por um momento, Morann pensou se estava para descobrir que se enganara. O aposento ficou num silêncio absoluto. O rei olhava para o chão, aparentemente refletindo sobre a questão. Após uma longa pausa, ele murmurou:
— Você tem nervos de aço, Morann Mac Goibnenn. — Então ergueu a vista e olhou-o friamente. — Não abuse de minha amizade. Minha regra é ser respeitado.
— Isso não é para ser posto em dúvida. — Morann curvou a cabeça.
— Então vou lhe dar a chance de escolher, Morann Mac Goibnenn. O seu amigo pode continuar vivo e se juntar à família dele na casa dos escravos: ou pode perder a vida e eu libertarei a família. Avise-me qual das duas prefere, antes de eu me sentar esta noite para comer. — Em seguida, foi embora. Morann sabia muito bem que não devia falar mais nada. Arrastaram Harold para fora do salão e Morann foi atrás, pesarosamente.
Era uma terrível escolha, pensou Morann; um frio dilema celta, tão sutil e cruel como os das histórias de antigamente. Foi por isso que Brian fizera aquilo para que Morann percebesse claramente que lidava com um mestre da arte do poder. Não acreditava que houvesse qualquer esperança de o rei de Munster mudar de idéia. Uma escolha difícil: mas quem deveria fazê-la? Se Harold voltasse a si, Morann não tinha dúvida do que o seu amigo escolheria. Liberdade para sua família, morte para si mesmo. E se Harold não voltasse a si, era essa a escolha que teria de fazer por ele? Ou salvar a vida dele e jogar todos na escravidão? Esta última talvez fosse a preferível. Mas e se o rei se recusasse a deixá-lo fazer isso, ou eles fossem embarcados para além-mar, para mercados estrangeiros? Algum dia Harold o perdoaria por isso?
Ao deixarem o salão, o oficial foi cuidar de seu ferimento, enquanto eles eram conduzidos em silêncio através do pátio até uma pequena construção de madeira. Morann torceu para que talvez o frio ar noturno pudesse reanimar seu amigo, mas não o fez. Os dois foram empurrados para o interior do aposento e um guarda ficou postado na porta.
Havia uma única vela no aposento e uma pequena lareira. Morann sentou-se perto do fogo. Harold permanecia no chão com os olhos fechados. O tempo passava. Morann pediu água e, quando esta veio, jogou um pouco no rosto de Harold. Não causou qualquer efeito. Após algum tempo, Harold gemeu. Morann ergueu a cabeça dele e tentou derramar um pouco de água em seus lábios. Achou que conseguira colocar algumas gotas e Harold voltou a gemer; mas, embora seus olhos pestanejassem, ele não voltou a si.
Após talvez uma hora, chegou um dos guardas e anunciou que o rei Brian esperava a resposta dele. Morann disse-lhe que seu amigo ainda não voltara a si.
— Tem de dar uma resposta, mesmo assim — disse o sujeito.
— Meu Deus, o que devo dizer? — clamou Morann. Baixou os olhos para Harold. Ele parecia ter caído num sono tranqüilo. Graças a Deus que o nórdico pelo menos era muito forte. Morann sentia que ele poderia voltar a si se ao menos pudesse esperar um pouco mais. Ainda não tinha certeza da resposta que daria ao rei de Munster. — Não consigo ver um sentido nisso tudo — disse ele, exasperado. — Por que, afinal, ele atacou o seu chefe?
— Não sei — respondeu o sujeito. — Mas posso lhe garantir isto: nada fez com ele. Venha.
—Já que devo — murmurou Morann distraído, e passou a segui-lo. Já estava a meio caminho do pátio em direção ao grande salão, quando parou e se virou para o homem. — Um momento — pediu. — Qual foi o nome que você disse...
O do oficial que o meu amigo atacou?
Sigurd. Oficial da sentinela.
Sigurd. Um nome viking. Pelo que Morann sabia, o sujeito moreno não era viking; mas, por outro lado, não era incomum naqueles dias, especialmente em volta dos portos, encontrar vikings que haviam adotado nomes celtas e vice-versa. Sigurd. Até aquele momento não lhe ocorrera que o nome do oficial pudesse ser significativo. Tentou imaginar — a confusão no cais, a figura avançando repentinamente...
— Você estava no cais, quando tudo aconteceu? — perguntou ao guarda.
— Estava.
— Alguém gritou um nome? O sujeito pensou.
— Sigurd chegou. Dissemos ao ostman: “Aproxime-se. Nosso homem quer vê-lo.” Então eu gritei: “Eis o seu homem, Sigurd.” Então Sigurd chegou perto e o ostman olhou para ele e...
Morann, porém, não estava mais ouvindo. Já caminhava a passos largos para o salão.
— Eu sei, Brian, filho de Kennedy — gritou. — Eu sei o que aconteceu.
Ele ignorou o olhar de irritação do rei quando iniciou sua história. Não obedeceu quando o rei mandou que se calasse. Continuou até mesmo quando pareceu que os guardas iam carregá-lo dali. E, àquela altura, em todo o caso, o rei ouvia.
— Quer dizer que ele achou que meu camarada Sigurd era o dinamarquês que jurou matá-lo?
— Não tenho a menor dúvida — bradou Morann. — Imagine só: no escuro, um sujeito parecido, ele ouve o nome ser chamado... e no mesmo lugar, lembre-se, onde haviam se encontrado antes...
— Jura que essa história é verdadeira?
— Pela Bíblia sagrada. Pela minha vida, Brian, filho de Kennedy. E é a única explicação que faz sentido.
O rei Brian lançou-lhe um olhar demorado, duro.
— Você quer que eu poupe a vida dele, suponho.
— Quero.
— E, sem dúvida, também liberte sua mulher e filhos.
— Eu pediria isso, naturalmente.
— Eles têm um preço, você sabe. E, depois de tudo isso, você seria meu amigo, não seria, Morann Mac Goibnenn?
— Certamente.
— Mesmo até a morte? — Olhou Morann nos olhos.
— Até a morte, Brian, filho de Kennedy — respondeu ele.
E apenas por um momento, porque era honesto, Morann hesitou. Então Brian Boru sorriu.
— Vejam só isso — gritou para a comitiva reunida no salão. — Eis um homem que, quando jura ser seu amigo, fala realmente sério. — Virou-se novamente para Morann. — Eu lhe darei a vida de seu amigo, Morann, se também afiançar a sua lealdade futura, e se ele pagar a Sigurd, que nunca lhe fez nenhum mal, cinco daquelas moedas de prata que cunham aqui. Sua mulher e filhos, você mesmo pode comprá-los de mim. vou precisar de um cálice de prata para dar ao mosteiro de Kells. Consegue fazer um deles para mim até a Páscoa?
Morann fez que sim.
— Sem dúvida, será um belo cálice — disse o rei com um sorriso. E foi.
Não havia a menor dúvida, aos quarenta e um anos, com seus cabelos negros e olhos verdes brilhantes, Caoilinn ainda era uma mulher admirável; também todos sabiam, já perto do final do verão, que ela procurava um novo marido.
Ela merecia alguma felicidade. Ninguém discordava disso. Cuidara dedicadamente do marido doente por mais de dez anos. Cormac nunca recuperara a saúde após a batalha de Glen Mama. com a falta de um braço e um terrível ferimento na barriga, foi apenas graças aos cuidados de Caoilinn que ele sobrevivera. Contudo, pior ainda do que sua incapacidade física fora sua melancolia. Às vezes, ficava deprimido, outras, raivoso; progressivamente, com o passar dos anos, bebia cada vez mais. Os últimos anos tinham sido realmente difíceis.
Para superá-los, Caoilinn se agarrara às suas lembranças. Não via diante de si homem alquebrado que ele agora era. Em vez disso, conseguia enxergar a figura alta e bonita que ele fora outrora. Lembrava-se de sua coragem, sua força, seu sangue real. Acima de tudo, ela queria proteger os seus filhos. O pai deles sempre lhes era mostrado como um herói caído. Se ele passava ocioso semanas a fio, ou subitamente explodia de raiva por nada, essas eram as atribulações de sua natureza heróica. Se seu humor nos últimos dias decaíra para uma mórbida escuridão, não era uma escuridão de seu próprio feitio, mas uma criada pelos espíritos malignos que o tinham cercado e agora o arrastavam. E de que quadrante vinham esses espíritos? Quem era a influência maligna por trás deles, e a causa derradeira de toda aquela dor? com certeza, só podia ser apenas uma pessoa: quem mais, além do instigador da desgraça, o presunçoso que viera deliberadamente humilhar a antiga casa real de Leinster à qual seu marido e seus filhos tinham orgulho de pertencer. A culpa era de Brian Boru. Não era a fraqueza de seu marido, mas a maldade de Brian a causa de sua desgraça. Então ensinou aos filhos a acreditar. E enquanto as humilhações se acumulavam com o passar dos anos, até ela mesma passou a acreditar. Era Brian quem causava a doença do marido, sua melancolia, sua raiva e sua destruição. Era Brian a presença maligna em sua vida familiar. Mesmo quando o pai deles iniciava uma bebedeira, era Brian Boru que o impelia a isso, ela lhes dizia. Parecia que o rei de Munster tinha um violento ódio pessoal contra a família de Rathmines. Tão perfeita era sua crença que, no decorrer do tempo, esta se transformara em algo quase tangível, como se a animosidade do rei Brian tivesse se solidificado em uma pedra. Mesmo agora, ao se tornar novamente uma mulher livre e estar com os filhos crescidos, ela ainda levava consigo o ódio de Brian como uma pederneira em seu coração.
Cormac morrera no solstício de inverno. Fora um alívio. Quaisquer que fossem as suas lembranças, sua consciência estava tranqüila. Ela fizera o melhor que podia. Os filhos eram saudáveis. E, graças à sua boa administração — pois, de fato, se bem que não de nome, ela cuidara durante anos dos bens dele —, ela e as crianças eram agora quase tão ricos quanto o eram antes da batalha de Glen Mama. Por volta da primavera, a ferida de sua tristeza começara a sarar. No início do verão, ela se sentia bem-disposta. Em junho, as pessoas lhe diziam que ela parecia mais jovem do que parecera durante anos. E, após uma cuidadosa inspeção particular de seu próprio corpo, ela concluiu que era justificada uma certa confiança. Enquanto os longos e quentes dias de agosto viam a colheita amadurecer, ela começou a sentir que talvez um dia pudesse pensar novamente em se casar. E, quando a colheita foi feita, ela começou, de um jeito calmo e agradável, a procurar.
Osgar mal desconfiava do que sentia, naquele outubro, ao se aproximar do mosteiro da família em Dyflin. O Samhain se aproximava, uma época apropriada, supunha, para seu tio ter partido para o outro mundo. O velho abade havia encarado sua partida com muita tranqüilidade; não houve necessidade de sentir dor por causa disso. Ao descer a trilha das montanhas naquele luminoso dia de outono, Osgar sentia apenas uma leve melancolia ao pensar afetuosamente no velho. Ao chegar, porém, ao portão do mosteiro, havia outro pensamento em sua mente, pois ele sabia muito bem o que lhe perguntariam. E a pergunta, que ainda não respondera em sua própria mente, era: o que ele faria?
Estavam todos lá. Os filhos de seu tio, amigos e familiares que ele não via havia anos. Morann Mac Goibnenn estava lá. E Caoilinn também. O velório já estava terminando quando ele chegou, mas lhe pediram que conduzisse a cerimônia final, ao colocarem o velho em sua sepultura. Foi gentileza de Caoilinn depois convidá-lo para uma visita a Rathmines no dia seguinte.
Ele chegou por volta do meio-dia. Pedira que fosse providenciada somente a refeição mais simples. “Lembre-se de que sou apenas um monge pobre”, dissera-lhe. Ficou muito contente por ela ter providenciado para que os dois comessem a sós. Ao olhar a bela mulher de cabelos negros à sua frente, ele se deu conta, com um ligeiro choque, que fazia vinte e cinco anos que não ficava sozinho com uma mulher. Não demorou muito para ela introduzir o assunto que estava na mente de todos.
— E então, Osgar, você vai voltar?
Era isso o que todos queriam. Agora que seu tio se fora, era natural que Osgar viesse e assumisse seu lugar. Os filhos de seu tio queriam, já que nenhum deles tinha qualquer interesse verdadeiro de assumir o papel. Os monges queriam. Ele seria provavelmente o abade mais ilustre que o pequeno mosteiro tivera em gerações. E esse não era o seu dever? Provavelmente. Ele se sentia tentado? Não tinha certeza.
Não respondeu de imediato à pergunta dela.
— É estranho estar de volta — comentou. — Creio — prosseguiu, após uma refletida pausa — que, se eu tivesse ficado aqui, talvez agora estivesse sentado no mosteiro com uma ninhada de filhos e uma esposa diante de mim. E suponho — acrescentou com um sorriso — que a esposa em questão poderia ter sido você. Olhou-a de relance. — Mas, por outro lado, talvez você não tivesse se casado comigo.
Agora foi a sua vez de sorrir.
— Ah — fez ela, meditativamente —, eu teria me casado com você. Olhou o homem diante dela. Seu cabelo era grisalho. O rosto estava mais fino
e bastante austero. Examinou as linhas de seu rosto: ascéticas, inteligentes mas nada desagradáveis.
Lembrou-se do quanto eles eram próximos quando ela era menina. Ele fora seu colega de brincadeiras de infância. Lembrou-se de como a salvara de um afogamento. De como admirara seus modos refinados, aristocráticos e sua inteligência. Sim, sempre acreditara que ele se casaria com ela. E como ficara chocada, lembrou-se, magoada e furiosa quando ele a rejeitara. E por quê? Por um mosteiro nas montanhas, embora já tivesse um em casa. Não podia entender. Naquele dia, quando o encontrara no caminho, ela quisera chocá-lo, atacar sua opção de vida, mostrar que seu poder sobre ele era maior até mesmo do que a vocação religiosa que de modo tão humilhante o levava embora para longe. Teria ficado contente naquela ocasião, ela se deu conta com deleite, se o tivesse seduzido, levando-o a negar o próprio Deus. Sacudiu a cabeça diante da lembrança. Que demônio eu era, pensou.
Ela quase lhe perguntou se, agora, ele se arrependia de sua decisão, mas decidiu que seria melhor não fazê-lo.
Após a refeição, saíram para uma breve caminhada. Conversaram sobre outros assuntos. Ela lhe falou sobre as melhorias que fizera na propriedade rural e sobre os seus filhos. Foi somente quando estavam voltando para casa que ela apontou para um lugar e comentou casualmente:
— Foi ali onde eu quase fui morta. Ou pior. Osgar olhou para o local.
— Você sabe disso, não? — perguntou ela. — Foi Morann quem salvou a minha vida. Ele foi formidável. Bravo como um leão. E, também, vestido com o seu hábito, devo confessar! — E ela riu.
Mas Osgar não riu.
Como ele poderia sequer sorrir? Já se passara algum tempo desde que soubera todos os detalhes dos acontecimentos daquele dia fatídico. Foi seu tio quem lhe enviou uma longa e inflamada carta relatando o corajoso salvamento de sua sobrinha por Morann Mac Goibnenn e de que modo ela e seu marido ferido haviam sido levados ao pequeno mosteiro. E foi graças à preocupação e ao pressentimento de Osgar, seu tio teve o cuidado de acrescentar, que Morann fora afinal de contas a Rathmines. Se não fosse isso, frisou, Caoilinn teria sido violentada e provavelmente massacrada. Todos ficaram muito agradecidos, assegurou ele ao sobrinho.
Tantos elogios tinham sido como uma faca atravessada em seu coração. Caoilinn fora salva. Mas por Morann, e não por ele. Seu próprio hábito de monge, até isso, desempenhara um papel em seu salvamento, mas era Morann quem o vestia. Morann, que era um homem melhor do que ele.
Poderia ter estado lá para ele mesmo salvá-la, é claro, se não tivesse demonstrado o que o artesão tomou por pânico. Talvez Morann estivesse com a razão e toda aquela sua hesitação não passara de mera covardia. Ele poderia ter estado lá, se tivesse se recusado, quando Morann o mandou voltar, se insistisse em acompanhá-lo, gostasse ou não o artesão. Se ele fosse um homem mais forte. Se, afinal de contas, ele fosse um homem. Por semanas, após receber a carta, ele tivera uma sensação de vergonha e auto-aversão. Humilhado, executara suas tarefas diária em Glendalough como uma pessoa com uma culpa secreta que não podia compartilhar. E, no final, ele decidira que nada mais havia a fazer exceto admitir a si mesmo que seu amor por Caoilinn, o pequeno anel que guardava e todos os seus pensamentos sobre ela não passavam de uma farsa.
Quando chegou a única ocasião em que ele deveria ir até ela, ele deixara, vergonhosamente, de fazê-lo. Involuntariamente, sacudiu a cabeça.
Ele nem mesmo ouvia o que ela falava. E ela falava agora sobre outra coisa. Ele tentou prestar atenção. Ela falava de seu casamento.
— Fiquei muito zangada na ocasião — confessava —, mas, com o passar dos anos, concluí que você estava com a razão. Eu arriscaria dizer que, agora, todos felizes. Você fez o que tinha de fazer. Fez a sua opção.
Sim, pensou ele, foi isso mesmo. Ele tivera suas chances ao longo dos anos e em cada ocasião, fizera sua opção. Sua opção de ir embora. Sua opção de abandoná-la em sua hora de necessidade. Sua opção. E uma vez que tais opções eram feitas, não se podia voltar atrás. Nunca se podia voltar atrás.
— Eu não deverei voltar para Dyflin — declarou ele. — Não posso voltar.
— Lamento — disse ela. — Sentirei saudades suas.
Não muito tempo depois, ele se despediu. Ao fazê-lo, perguntou:
— Você acha que se casará novamente?
— Não sei — respondeu ela com um sorriso. — Espero que sim.
— Tem alguém em vista?
— Ainda não. — Voltou a sorrir, confiante. — Farei o que tiver vontade.
Fazia anos que Harold não pensava em Sigurd, o dinamarquês. Não era como se, mesmo recuando à época de Glen Mama, o homem pudesse realmente aparecer; e o constrangimento que sua ilusão causara naquela ocasião deixou Harold ainda menos disposto a se preocupar em pensar novamente no sujeito. Ele concluiu que, com o passar dos anos, o dinamarquês de qualquer modo provavelmente o esquecera.
E os anos tinham sido bons para Harold. Dyflin e Fingal mantinham-se em paz. Brian Boru fora bem-sucedido em todas as suas ambições. Dois anos após a submissão de Dyflin, o chefe dos orgulhosos O'Neill o reconhecera como rei supremo de toda a ilha, embora, como chefe dos poderosos O'Neill, ainda se referissem a ele como o rei de Tara. Os chefes nortistas em Connacht e Ulster relutaram a respeito disso, mas Brian foi até lá e fez com que se submetessem. Espertamente, ele até mesmo fez uma peregrinação à grande igreja de São Patrício em Armagh e garantiu a bênção dos padres de lá com um enorme presente de ouro. Enquanto isso, na paz de Fingal e o movimentado porto de Dyflin, Harold desfrutara uma crescente prosperidade.
Somente após uma década, a felicidade de Harold seria arruinada por uma perda: em 1011, morria Astrid, sua mulher por mais de vinte anos. O golpe foi violento. Embora, por causa dos filhos, ele se forçasse a levar adiante os negócios como sempre, seu coração não estava mais naquilo. Continuou por todo aquele ano como um sonâmbulo, e só foi graças ao afeto de seus filhos que ele não decaiu para um estado pior do que se encontrava. Apenas na primavera seguinte o seu ânimo começou novamente a crescer. No final de abril, ele foi a Dyflin para ficar com seu amigo Morann.
Caoilinn o viu pela primeira em uma tarde de abril. Ela visitava sua família em Dyflin. Como seu pai morrera alguns anos antes, o irmão dela e a família ocupavam agora a antiga casa dele. Ela e a mulher do irmão foram passear em Thingmount, e tinham começado a atravessar Hoggen Green quando avistaram dois vultos cavalgando em sua direção, vindos dos alagadiços. Um deles era Morann Mac Goibnenn. O outro era uma figura alta, que cavalgava esplendidamente. Perguntou à cunhada quem era.
— É Harold, o nórdico. Tem uma grande fazenda em Fingal.
— Ele é bonito — comentou Caoilinn. Lembrou-se de, no passado, ter ouvido falar no nórdico. Embora ele fosse um homem de meia-idade, ela percebeu que seu cabelo continuava ruivo, com apenas alguns fios prateados, e que mantinha uma agradável aparência vigorosa e saudável.
— Ele coxeia. Um acidente quando criança, dizem — comentou sua parente.
— Isso não é nada — disse Caoilinn. E quando ele se aproximou, ela sorriu para ele.
Os quatro tiveram uma conversa agradável. Quando Morann olhou para o seu amigo, o belo nórdico parecia não estar com pressa de ir embora. Antes de terminarem, havia sugerido que Caoilinn talvez gostasse de cavalgar com ele até a fazenda, na semana seguinte, e ela aceitara. Na terça-feira seguinte, foi o que fizeram.
Durante o mês de junho, o namoro deles havia se tornado um assunto divertido para suas famílias. Os filhos de ambos também faziam gosto. O filho mais velho de Caoilinn, Art, estava mais do que pronto para assumir o lugar do pai e não lamentaria nem um pouco se ela fosse afastada da administração dos negócios da família. E para todas as crianças, a perspectiva de ter o amável nórdico como padrasto era, verdade seja dita, uma melhoria diante da melancólica recordação de Cormac. Quanto aos filhos de Harold, eles amavam seu pai, achavam Caoilinn bastante agradável e ficariam felizes se ela lhe trouxesse felicidade. Portanto, ficou claro para ambos os pais que deviam levar seu namoro da maneira como quisessem.
Tudo começara de um modo muito tranqüilo no dia em que cavalgaram até Fingal, quando Caoilinn lhe perguntou sobre sua perna aleijada. A pergunta saiu por acaso, de forma cordial, mas ambos entenderam: ela passara anos cuidando de um homem doente e não queria outro. Ele lhe contou a história e explicou como, após sua vida ser ameaçada, trabalhara arduamente a fim de se preparar para uma luta.
— Talvez a minha perna manca seja mais forte do que a outra.
— Não dói? — perguntou ela, solícita.
— Não — respondeu com um sorriso.
— E esse tal dinamarquês que quer matar você? — quis saber ela.
— Não o vejo há vinte anos — disse ele com uma gargalhada.
A fazenda era impressionante. Ela não precisaria contar o gado — embora o tenha feito e descoberto que tinha apenas mais uma dúzia de cabeças do que ele. Era orgulhosa demais para se casar com alguém abaixo de sua atual posição; e, além do mais, seus filhos talvez desconfiassem de um homem pobre. Ela notou, contudo, que algumas pequenas melhorias podiam ser feitas na administração da fazenda. Ainda não diria nada, é claro, mas lhe agradava pensar que seria capaz de deixar sua marca na propriedade rural de Fingal e acumular alguma admiração. Não que fosse tentar ofuscar Harold. Ele era homem demais para isso, graças a Deus. Entretanto, pensou ela, seria bom para ele poder dizer aos seus amigos: “Vejam o que a minha esperta mulher tem feito.”
Durante algumas semanas ela fez mais observações e indagações. E depois de aprovar o nórdico, ela também tratou de se tornar desejável.
Quando Harold olhava a bela mulher de olhos verdes que demonstrava tanto interesse nele, tinha de admitir que aquilo era uma lisonja para ele. Embora tivesse se sentido atraído por ela no momento em que se encontraram emThingmount, foi um pequeno incidente na semana seguinte que realmente chamara sua atenção. Haviam acabado de chegar à fazenda, e ele se aproximara para ajudá-la a descer do cavalo. Ao segurá-la com seus fortes braços, ele não sabia o que esperar. Inconscientemente, apoiara-se em sua perna aleijada para suportar o peso dela.
E ela flutuara para baixo, leve como uma pluma. Antes de seus pés tocarem no chão, ela se virara um pouco em seus braços, sorrindo, para agradecer-lhe, e, além de sua leveza, ele percebeu instantaneamente como ela era forte. Tão forte, porém tão leve nas mãos: uma mulher assim prometia muito deleite sensual.
Com o passar das semanas, a atração dela aumentou. Harold logo descobriu a força de sua inteligência: ele respeitava isso. Ela era orgulhosa: seu orgulho o honrava. Ela também era cautelosa. Não demorou muito para ele perceber que, Se ela queria passar um tempo em sua companhia, isso era em parte para que Pudesse observá-lo. Às vezes ela iniciava uma conversa aparentemente inocente.
Dizia: “Fiquei tão triste ontem à noite, e a tristeza não queria me deixar. Você já se sentiu assim?” E só depois ele percebia que ela o estivera testando para descobrir se tinha tendência à melancolia. Quando ele a visitava em Rathmines em fazia as criadas lhe servirem vinho repetidamente, para ver se ele bebia muito. Ele não se importava com essas pequenas armadilhas. Se ela era cuidadosa, tanto melhor. E era gratificante saber que, além das cautelosas inquirições, ela o deixasse perceber que começava a se importar com ele.
Ele, é claro, soube tudo a respeito dela. Não precisou fazer suas próprias inquirições; seu amigo Morann cuidara disso, e as investigações do ourives levaram a uma única conclusão.
— Você não poderia parecer melhor — disse-lhe Morann. Certamente ficaria bem ter uma esposa assim do seu lado; e embora fosse sensível demais para ser muito influenciado por essas coisas, Harold não viu nenhum motivo para não parecer bonito diante do mundo.
Aliás, houve apenas um único obstáculo para o casamento deles. Este só apareceu lá pela metade de junho, quando ele fez o pedido, pois, após a declaração habitual, em vez de responder de imediato, ela lhe disse que, antes, precisava lhe fazer uma só pergunta.
— E qual é? — indagou ele.
— Você se importaria de eu perguntar que religião você segue agora?
A pergunta não era estranha. Ela soubera que, à época de seu casamento, Harold era pagão, mas atualmente era difícil saber a religião das pessoas em Dyflin. Ainda que alguns vikings em Dyflin tivessem permanecido fiéis a Tor, Woden e outros deuses do norte, desde a infância dela os antigos deuses nórdicos sofriam um constante declínio. Houve muitos casamentos com cristãos. O rei de Dyflin era filho de uma princesa cristã de Leinster. Além do mais, as pessoas poderiam perguntar, se os deuses pagãos protegiam os seus, então por que todas as vezes que os homens de Dyflin desafiaram o rei supremo, eles perderam? E Brian Boru, o patrono dos mosteiros, era agora o senhor deles. A velha igreja de madeira fora reconstruída em pedra, e o rei viking de Dyflin era abertamente venerado lá. Portanto, não era de surpreender que agora os ostmen tivessem dúvidas de suas crenças religiosas. Harold, por exemplo, usava um talismã pendurado no pescoço que poderia ser uma cruz ou um símbolo de Tor; e certamente poucos dos variados tipos de gente que passavam pelo movimentado porto o forçariam a revelar que símbolo era aquele.
Na verdade, como a maioria dos homens de meia-idade, Harold já não tinha mais qualquer forte sentimento em relação aos deuses, e ligaria muito pouco para o fato de ser ou não cristão. Mas, diante de sua repentina pergunta, ele hesitou.
— Por que pergunta?
— Seria difícil, para mim, me casar com um homem que não é cristão. – Ela sorriu. — É fácil ser batizado.
— Vou pensar no que você diz — retrucou ele.
Ela esperou que ele dissesse mais alguma coisa. Em vez disso, ele a olhou. Ela enrubesceu um pouco.
— Espero que você faça isso — disse ela.
Ele esperou para ver se ela cederia mais, porém não o fez.
Logo depois, ele voltou para casa. Uma semana se passou até que voltassem a se encontrar.
Durante esses dias, Harold refletiu cuidadosamente sobre o assunto. A questão do batismo, em si, não significava nada. Não se importava com isso. Contudo, foi o modo como Caoilinn tocara no assunto que o preocupava. Ora, se isso era tão importante para ela, por que esperou tanto? Só podia ser porque ela pensava que, como Harold já havia se envolvido tanto, ele podia ser manipulado. E o fato de ela ter esperado também demonstrava que ficara ansiosa por não frustrá-lo. Queria segurá-lo. Mas, vendo por outro ângulo, ela aumentava seu próprio preço. Se ele a amava, claro que poderia pagar o preço e rir disso tudo. Mas se uma vez ela lhe pregou uma peça como essa, não poderia voltar a fazê-lo? Ele era velho o bastante para saber que, embora se tratasse de um jogo sutil, o casamento era um equilíbrio de poder; e ele não tinha certeza se gostava do modo como ela jogava. Ao esperar uma semana, ele indicou seu desagrado e lhe deu uma chance de recuar.
Mas e se ela não recuasse? O que ele faria? Desistiria realmente dela por causa de seu deus? Se fizesse isso e ela se casasse com outro, ele não se arrependeria? Cada vez que repassava o assunto na mente descobria que chegava à mesma conclusão. Não é o que ela pede que me importa, pensava, mas como ela pede. O que importa é a sua atitude.
Corria o fim de junho quando ele cavalgou novamente até Rathmines. Até então, ele não tinha nenhum plano definido. Não sabia se ia concordar em ser batizado, nem se se casaria ou não. Ao se aproximar do grande muro de terra e paliçada do rath dela, ele não tinha nenhum outro plano a não ser olhar, escutar e seguir seu instinto, e ver o que acontecia. Afinal, disse a si mesmo ao subir para a entrada, sempre poderei ir embora e voltar outro dia. Apenas uma coisa o preocupava um pouco: como iria começar uma conversa sobre um assunto tão delicado? Ele ainda não sabia, quando a viu se aproximar do portão. Dependerei apenas presumiu, da sorte.
Ela aproximou-se com um sorriso. Conduziu-o para dentro. Um escravo trouxe-lhe hidromel. Ela disse-lhe o quanto estava contente por ele ter vindo. Havia algo novo, algo quase respeitoso em seus modos? Pareceu a ele que sim.
— Oh, Harold, filho de Olaf— disse ela —, estou tão aliviada que você tenha vindo. Tenho me sentido tão constrangida por causa de minha desfaçatez... uma verdadeira insolência... com você, na última vez que nos vimos.
— Não foi insolência — afirmou ele.
— Ah, mas foi — interrompeu-o determinada. — Quando você me deu a honra... a honra... de me fazer a proposta que fez. Espero não repeti-la agora. Não devia me atrever a impor condições a um homem que respeito tanto...
— Seu deus é importante para você.
— É verdade. Claro. E porque acredito que Ele é o verdadeiro Deus, estava ansiosa para compartilhar... Claro que não nego — deixou sua mão tocar levemente o braço dele — que exultarei se algum dia você abraçar a fé verdadeira. Mas isso não é desculpa para o que fiz. Não sou um sacerdote. — Fez uma pausa. — Eu estava muito ansiosa para lhe dizer isso e pedir o seu perdão.
Foi um desempenho admirável. Ele talvez não tenha se iludido completamente, mas foi agradável, muito agradável, ser tão lisonjeado.
— Você é bondosa e generosa — retrucou ele com um sorriso.
— É o respeito que lhe é devido, nada mais — disse ela, pousando novamente a mão no braço dele. Esperou alguns instantes. — Há mais uma coisa — falou. Conduziu-o na direção de uma mesa na qual havia uma espécie de objeto coberto com um pano. Supondo que poderia ser um prato de comida, ele observou-a remover cuidadosamente a cobertura. Mas, em vez de comida, ele viu um conjunto de pequenos objetos duros, que reluziam na fraca luz interna. E, aproximando-se, ele fitou surpreso.
Era um jogo de xadrez. Um magnífico jogo de xadrez, as peças entalhadas em osso com incrustações em prata dispostas sobre um tabuleiro de madeira polida. Ele o vira antes, na oficina de Morann.
— É para você — anunciou Caoilinn. — Uma prova do meu respeito. Eu sei que os ostmen gostam de jogar xadrez.
Era inteiramente verdade que os saqueadores comerciantes vikings haviam desenvolvido um gosto pelo jogo inteligente, embora isso talvez tivesse sido em parte porque as peças esculpidas do xadrez costumavam ser objetos de grande valor. Apesar de Harold raramente jogar xadrez, ficou comovido por Caoilinn ter-se dado a tamanho trabalho por sua causa.
— Quero que fique com ele — disse ela, e ele mal soube o que responder. Percebeu que ela o sobrepujara. Imaginou que ela apostava no fato de que mais cedo ou mais tarde ele se converteria à fé dos cristãos para agradá-la. E supôs que provavelmente o faria. Além disso, ao levantar o assunto e depois recuar com tanta benevolência, Caoilinn o deixara em débito com ela. Ele não se deixou iludir, entendeu tudo, mas não se importou. Ela não disse claramente que reconhecera ter ido longe demais? Isso, supôs ele, era mais do que suficiente.
—Tenho apenas um pedido — continuou ela —, embora você possa recusálo, se desejar. Se algum dia, no futuro, você quiser se casar comigo, gostaria de saber se poderia ser em uma cerimônia realizada por um padre. Apenas por minha causa. Ele não perguntaria no que você acredita, pode estar certo.
Ele esperou mais alguns dias e então voltou para o pedido de casamento, que foi aceito. Visto que ela desejava terminar a colheita de Rathmines antes de deixar a propriedade, ficou combinado que se casariam e ela iria para a casa dele no outono.
Para Harold, os dias que se seguiram iniciaram um período tanto de antecipação como de satisfação. Certamente, para sua própria surpresa, ele já começara a se sentir mais jovem; e aguardava ansiosamente o outono.
Para Caoilinn, a perspectiva de casamento significava que ela estava preparada para se apaixonar. Embora tivesse achado que Harold cederia, quando lhe pediu pela primeira vez que se batizasse, ela percebeu que ficara contente por ele ter reagido. Respeitava-o por isso, e ela certamente gostava do desafio de fazê-lo mudar de idéia. O ruivo e vigoroso ostman era como um cavalo selvagem que alguém conseguia simplesmente controlar, pensou ela. Ao mesmo tempo, porém, era um homem sensível. O que poderia haver de melhor? Ele era seguro e era perigoso e estava onde ela o queria. Por volta de julho, enquanto as plantações amadureciam sob o sol de verão, ela divertia-se fantasiando sobre os momentos que passariam juntos. Quando ele a visitou novamente, o coração dela já palpitava um bocado.
E foi então que ela teve outra idéia feliz.
— Pedirei ao meu primo Osgar que nos case — falou para Harold. — Ele é monge em Glendalough. — E contou a Harold sobre Osgar e seus casamentos na infância, embora deixasse de fora o incidente na trilha.
— Isso significa que tenho um rival? — perguntou ele alegremente.
— Sim e não — respondeu ela, sorrindo. — Ele provavelmente ainda me ama, mas não pode ter a mim.
— Certamente que não — disse Harold com firmeza. Ela enviou um recado para Osgar logo no dia seguinte.
O golpe sobreveio dois dias depois disso. E veio sem avisar, como se caísse do céu de verão.
O promontório setentrional da baía do Liffey, com sua adorável vista da costa até as montanhas vulcânicas, era um lugar agradável para se realizar uma sossegada conferência. Além de seu nome celta de Ben Edair, a Colina de Edair, esta também recebera naqueles dias um nome nórdico, pois os ostmen chamavam-na de Howth. Não poucas vezes, entretanto, as pessoas da localidade misturavam as duas línguas e se referiam a ela como Ben de Howth. E foi num dia quente de verão, no início de julho, que Harold e Morann Mac Goibnenn se encontraram na Ben de Howth para discutir a situação.
Foi Harold, de seu modo cordial, que resumiu tudo, ao comentar:
— Bem, Morann, creio que podemos dizer que os homens de Leinster finalmente provaram que são insanos.
— Disso não há dúvida — rebateu Morann com um sorriso distorcido.
— Treze anos de paz, treze anos de prosperidade colocados em risco em troca de quê? De nada.
— Ainda assim — acrescentou Morann tristemente —, era inevitável.
— Por quê? — Os homens de Leinster nunca haviam perdoado Brian por ousar ser seu senhor. Mas por que, após anos de paz, eles haviam decidido desafiálo agora? Para Harold, não fazia sentido.
— Por causa de um insulto — disse Morann. O boato era de que o rei de Leinster e o filho de Brian haviam se desentendido por causa de uma partida de xadrez e que este último insultara o rei por causa da humilhação sofrida na batalha de Glen Mama, há mais de uma década. “Isso pode iniciar uma guerra concordaram alegremente os chefes de Leinster. “É o bastante.” Pior, o rei de Leinster deixara o acampamento de Brian sem permissão e agrediu o mensageiro que este enviara atrás dele. — E também — acrescentou Morann — há a mulher. A ex-esposa de Brian, a irmã do rei de Leinster, ansiava ver o ex-marido humilhado: como uma vingativa deusa celta, como a própria Morrigain, ela tinha a fama de provocar encrenca entre os dois lados.
— Por que — explodiu o nórdico — os homens de Erin permitem que suas mulheres causem tantos problemas?
— Sempre foi esse o costume — disse Morann. — Mas você sabe muito bem que são os próprios ostmen como você que estão por trás disso.
Harold suspirou. Estaria ficando velho? Conhecia o chamado do alto-mar; navegara por ele metade de sua vida. Mas essas aventuras estavam no passado. Tudo o que ele queria era viver em paz nas suas terras. Entretanto, em torno dos assentamentos dos nórdicos vindos pelo mar, crescera naquele ano uma inquietação, e esta agora chegava também a Dyflin.
O problema começara na Inglaterra. Há mais de dez anos, na mesma ocasião em que Brian Boru derrotou os homens de Dyflin em Glen Mama, o insensato rei saxão do sul da Inglaterra, conhecido pelo seu povo por Ethelred, o Irresoluto, havia imprudentemente atacado os vikings do norte da Inglaterra e seu vigoroso porto de York. Não demorou muito para ele pagar pela sua insensatez. Uma frota de barcos vikings cruzou o mar vinda da Dinamarca e retribuiu o cumprimento. Durante a década seguinte, o sul da Inglaterra era forçado a pagar Danegeld — dinheiro de proteção — se quisesse viver em paz. E agora, este ano, o rei da Dinamarca e seu filho Canuto haviam reunido uma grande frota viking para esmagar o pobre Ethelred e tomar dele o seu reino inglês. Os mares do norte ecoavam as notícias. A cada semana, chegavam navios ao porto de Dyflin com mais relatos dessa aventura; não admirava, portanto, que alguns homens de Dyflin ficassem cada vez mais intranqüilos. Dez dias atrás, em meio a uma sessão de bebedeira no cais de Dyflin, Harold ouvira um capitão do mar dinamarquês gritar para uma multidão de homens do local: “Na Dinamarca, fizemos o rei da Inglaterra nos pagar. Agora vamos colocá-lo para fora. Mas vocês, homens de Dyflin, ficam sentados pagando impostos a Brian Boru.” Houve alguns murmúrios irritados, mas ninguém o desafiou. O escárnio atingiu em cheio.
Por causa da perturbação causada pela questão inglesa, cada desordeiro e pirata viking dos mares do norte estava de olho à procura de aventura.
E agora os homens de Dyflin teriam a sua chance. Se o rei celta queria se rebelar do seu parente viking, o governante de Dyflin, estava pronto para se juntar a ele. Essa, pelo menos, era a notícia que corria no porto. Eles não tinham aprendido nada de sua derrota em Glen Mama? Talvez não; ou talvez tivessem.
— Eles não tentarão combater Brian novamente em terreno aberto — disse Morann para Harold. — Ele terá de tomar a cidade, o que não será fácil. — Fez uma pausa pensativa. — Pode-se levar em conta uma outra coisa.
— E qual é?
— O norte. O Ulster odeia Brian. O rei O'Neill de Tara foi forçado a renunciar como rei supremo e a prestar um juramento a Brian, mas os O'Neill continuam poderosos, e mais orgulhosos do que nunca. Se conseguissem se vingar de Brian...
— Mas e o juramento do velho rei? Ele o romperia?
— Não. É um homem honrado. Mas talvez ele se permita ser usado.
— Como?
— Suponha — explicou Morann — que os homens de Leinster ataquem algumas das terras dos O'Neill. O velho rei de Tara pede ajuda a Brian. Brian vem. Então Leinster e Dyflin, e talvez também outros, se juntam para destruir Brian, ou pelo menos enfraquecê-lo. Onde isso deixa o velho rei de Tara? De volta onde
estava antes.
— Você acha que todo esse negócio é uma armadilha?
— Talvez seja. Não sei.
— Esses truques ardilosos nem sempre funcionam — comentou o nórdico.
— Em todo caso — frisou Morann —, haverá combates e saques em toda Dyflin, e a sua fazenda é uma das mais ricas.
Harold pareceu triste. A idéia de perder seu gado àquela altura da vida era angustiante.
— O que devo fazer então?
— Eis minha sugestão — retrucou o artesão. — Você sabe que fiz um juramento pessoal a Brian. Não posso lutar contra ele, e o rei de Dyflin sabe disso. Também não posso lutar contra o meu próprio povo de Dyflin. Mas se me junto ao rei O'Neill, que também está comprometido por juramento a Brian, então cumpro minhas obrigações. Evito — sorriu manhosamente — constrangimento.
Sim, pensou Harold, e se tivesse sido montada uma armadilha para Brian Boru, como suspeitavam seus amigos, ele ainda acabaria ficando do lado vencedor.
Você é um homem cauteloso e astuto — disse ele, encantado.
— Acho, portanto, que você devia permanecer na sua fazenda — aconselhou Morann. — Não deixe seus filhos participarem de qualquer grupo de assalto contra Brian ou o rei o'Neill de Tara; visto que jurei sua lealdade a Brian, você não pode fazer isso. Mantenha seus filhos com você. O perigo para você será quando Brian ou seus aliados vierem castigar Leinster ou Dyflin. E eu lhes direi que você se sente comprometido com o juramento que fiz em seu nome e que se mantém a meu lado. Não posso garantir que isso vá funcionar, mas creio que é a sua única chance.
Pareceu a Harold que seu amigo estava provavelmente certo, e concordou em fazer como ele sugerira. Só havia uma outra coisa a se levar em conta.
— E Caoilinn? — perguntou ele.
— Isso é um problema — suspirou Morann. — A propriedade dela em Rathmines estará em risco e não sei o que podemos fazer por ela.
— Mas eu poderia ajudá-la — afirmou Harold. — Poderia me casar com ela imediatamente.
E ele partiu para Rathmines naquela tarde.
Foi pena que o conhecimento de Morann sobre Caoilinn fosse imperfeito. Mas, por outro lado, não foi totalmente culpa sua; no momento em que falou ao seu amigo Harold a respeito de Caoilinn, não conseguiu ver todos os lugares secretos do coração dela. Quanto a Harold, durante o namoro evitara qualquer comentário sobre seu ex-marido; ele não fazia idéia da extrema obsessão da bela viúva com a figura de Brian Boru. Foi pena, também, que, em vez de falar abertamente à luz do dia, quando ele poderia aferir a expressão do rosto dela, os dois tenham ido Para a privacidade da casa de sapé em cuja penumbra ele mal conseguia saber o que ela estava pensando.
Ele começou comentando de modo alegre que havia um bom motivo para se casarem imediatamente. Ela pareceu ficar interessada. Lembrando-se de como ela era prática e cuidadosa, ele expôs seu argumento de forma metódica.
— Como vê — concluiu ele —, se nos casarmos agora e você for para Pingai, Poderá levar pelo menos parte do gado e deixá-lo comigo até a poeira baixar. Creio que há uma boa chance de podermos salvá-lo. com sorte, graças a Morann, talvez possamos também até proteger a propriedade de Rathmines.
— Entendo — disse ela baixinho. — E ao me casar com você, também jurarei lealdade a Brian Boru. — Se houve uma estranha frieza em seu tom de voz, ele não notou.
— Graças a Morann — retrucou ele —, creio que posso garantir isso.
Sabendo dos infortúnios que ela sofrera antes, quando seu marido se opusera a Brian, Harold imaginou que Caoilinn ficaria agora agradecida por se manter longe de problemas. Na sombra, ele viu-a aquiescer lentamente. Então ela virou a cabeça e olhou para o espaço escuro perto da parede onde, sobre uma mesa, a velha taça de caveira amarelada de seu ancestral Fergus vislumbrava como um selvagem fantasma celta de uma era antiga.
— Os homens de Leinster estão se insurgindo. — Sua voz era débil, quase distante. — Meu marido tinha sangue real. E eu também tenho. — Fez uma pausa. — Os ostmen como você também estão se insurgindo. Isso não significa nada para você?
— Eu acho que eles são muito burros — disse com franqueza. Ele achou ter ouvido um leve arquejar vindo dela, mas não teve certeza. — Brian Boru é um grande líder guerreiro. — Afirmou com admiração. — Os homens de Leinster serão esmagados, e merecem ser.
— Ele é um impostor. — Cuspiu a palavra com uma súbita ira que o pegou de surpresa.
— Ele fez por merecer o respeito que tem — disse ele mansamente. — Até mesmo a Igreja...
— Ele comprou Armagh com ouro — disparou ela. — E foi uma coisa vil ser comprado por tal homem. — E antes que ele tivesse certeza do que dizer a seguir:
— O que era o povo dele? Nada. Piratas ladrões não são melhores do que os selvagens pagãos de Limerick que eles combatiam. — Ela parecia esquecer que essas expressões insultuosas contra os nórdicos pagãos de Limerick talvez pudessem ser aplicadas também aos antepassados de Harold. Talvez, pensou ele, ela não ligasse. — Ele é um pirata de Munster. Nada mais. Deveria ser morto como uma cobra — bradou com desdém.
Ele percebeu que tocara em um nervo exposto e que devia avançar com cuidado, embora não pudesse evitar de se sentir um pouco incomodado.
— Seja lá o que possam dizer de Brian — falou calmamente —, temos de considerar o que fazer. Ambos temos nossas propriedades a proteger. Quando penso — acrescentou, esperando agradá-la — em tudo o que você fez, tão brilhantemente, aqui em Rathmines...
Ela o teria ouvido? Estaria escutando? Era difícil dizer. Seu rosto tornara-se duro e pálido. Seus olhos verdes cintilavam perigosamente. Ele percebeu, tarde demais, que ela estava dominada pela ira.
— Eu odeio Brian — gritou. — Eu o verei morto. Eu verei seu corpo cortado em pedaços, verei sua cabeça sobre uma estaca para meus filhos e filhas sentarem em cima; farei seus filhos beberem o sangue dele!
Ela era magnífica a seu modo, pensou ele. E ele devia ter esperado sua raiva passar. Mas havia naquela reação uma desconsideração por ele, que ofendeu o poderoso nórdico.
— Eu, de qualquer modo, protegerei a minha fazenda em Fingal — disse ele rigidamente.
— Faça o que quiser — disse ela com desdém, dando as costas para ele. — Isso nada tem a ver comigo.
Ele nada disse, mas esperou por alguma palavra de concessão. Não houve nenhuma. Levantou-se para ir embora. Ela permaneceu onde estava. Ele tentou ver em seu rosto se ela estava zangada e magoada, à espera talvez de alguma palavra reconfortante da parte dele, ou se estava mesmo ressentida.
— Vou embora — disse ele finalmente.
— Vá para Munster e para seu amigo Brian — retrucou ela. Seu amargo tom de voz baixou na sombra como a morte. Ela então olhou para ele, os olhos verdes inflamados. — Não preciso que traidores e pagãos venham novamente coxear nesta casa.
com isso, ele foi embora.
Os acontecimentos das semanas que se seguiram foram quase exatamente como Morann presumiu que seriam. Os homens de Leinster fizeram uma incursão no território do rei O'Neill. Pouco depois, o rei de Tara desceu para castigá-los e foi de roldão através de Fingal até o Ben de Howth. Graças a Morann, entretanto, que acompanhou o velho rei, Harold e sua enorme propriedade não foram tocados. Em questão de dias, grupos de homens de Dyflin retaliaram. O rei de Tara enviou mensageiros ao sul para pedir ajuda a Brian. E, na metade de agosto, o apavorante boato espalhou-se pelos campos. “Brian Boru está voltando.”
Osgar olhou rapidamente em volta. Havia fumaça subindo vale acima. Ele podi ouvir o crepitar de chamas.
— Irmão Osgar. — O abade parecia impaciente.
Atrás dele, os monges subiam a escada para o interior da torre redonda uma precaução bastante desnecessária, o abade lhes dissera. Seus rostos, porém pareciam brancos e amedrontados. Talvez ele também tivesse essa aparência. Não sabia. Subitamente imaginou se os irmãos içariam a escada assim que ele e o abade estivessem fora de vista. Que absurdo. Quase riu de sua própria insensatez. A imagem, porém, permaneceu — ele e o abade, correndo de volta para o portão, com os homens de Munster em seu encalço, os dois olhando para cima, vendo que a porta foi fechada e a escada sumiu, e correndo impotentes em volta do muro até as espadas dos saqueadores se erguerem, reluzirem e...
— Estou indo, reverendo padre. — Apressou-se na direção do portão e, ao fazer isso, notou que todos os criados do mosteiro haviam miraculosamente desaparecido. Ele e o abade estavam sozinhos no recinto vazio.
Ele ouvira dizer que os grupos de assalto de Brian Boru atacavam a zona rural, enquanto o rei de Munster seguia pelo norte para punir os homens de Leinster, mas jamais imaginara que pudessem ir até ali, para perturbar a paz de Glendalough.
Alcançou o abade no portão. O caminho estava deserto, mas abaixo do pequeno vale ele viu o clarão de uma chama.
— Não devemos trancar o portão? — sugeriu ele.
— Não — exclamou o abade. — Isso só serviria para irritá-los.
— Não posso acreditar que os homens do rei Brian estejam fazendo isso — disse ele. — Não são pagãos ou ostmen. — Mas um olhar desanimador do homem mais velho o silenciou. Ambos sabiam, pelas crônicas de vários mosteiros, que mais danos tinham sido causados aos mosteiros da ilha em disputas reais' do que as que já haviam sido impostas pelos vikings. Ele podia apenas torcer para que a fama de Brian como protetor da Igreja se fizesse valer naquela ocasião.
— Olhe — chamou a atenção o abade calmamente. Um grupo com cerca de vinte homens subia o caminho em direção ao portão. Estavam bem armados. No centro do grupo caminhava um belo homem de barba cor castanha. — É Murchad — observou o abade —, um dos filhos de Brian. — Deu alguns passos à frente e Osgar manteve-se a seu lado.
— Bem-vindo, Murchad, filho de Brian — bradou o abade com firmeza. — Você sabia que é propriedade do mosteiro o que está incendiando ali adiante?
— Sabia — retrucou o príncipe.
— Certamente não deseja fazer qualquer mal ao santuário de São Kevin, não é mesmo? — perguntou o abade.
— Só se estiver em Leinster — veio a inflexível resposta, ao mesmo tempo que o grupo chegava até eles.
— Você sabe muito bem que nada temos a ver com isso — disse o abade sensatamente. — Sempre tive o seu pai na mais alta consideração.
— Quantos homens armados você tem?
— Absolutamente nenhum.
— Quem é este? — Os olhos do príncipe pousaram em Osgar com um fitar impassível.
— Este é o irmão Osgar. Nosso melhor erudito. Um excelente iluminador. Os olhos agora o olharam aguçadamente, mas depois baixaram com o que pareceu a Osgar um sinal de respeito.
— Precisamos de suprimentos — disse ele.
— O portão está aberto — rebateu o abade. — Mas lembre-se de que esta é uma casa de Deus.
Todos começaram a atravessar juntos o portão. Osgar olhou de relance a torre redonda. A escada sumira. A porta estava fechada. A um gesto de cabeça do príncipe, seus homens passaram a se movimentar na direção dos depósitos.
— Quero que transmita os meus respeitos a seu pai — comentou o abade agradavelmente —, a não ser que ele venha nos favorecer com uma visita. — Fez uma pausa momentânea, à espera de uma resposta que não veio. — É formidável como ele se mantém saudável — acrescentou.
— Forte como um touro — retrucou o príncipe. — Vejo que seus monges fugiram — observou. — Ou, mais provavelmente, estão todos na torre com o seu ouro.
— Eles não conhecem o seu caráter piedoso tão bem quanto eu — respondeu o abade, imperturbável.
Enquanto seus homens juntavam uma pequena quantidade de queijos e de grãos, o príncipe percorria o mosteiro com o abade e Osgar. Logo ficou óbvio que ele procurava por objetos de valor. Olhou a cruz de ouro no altar da igreja principal, mas não a apanhou, nem qualquer um dos castiçais de prata que viu; e começava a resmungar com irritação, quando, finalmente, ao fazer uma decepcionante inspeção no scriptorium, seu olhar parou sobre algo.
— Seu trabalho? — perguntou subitamente a Osgar, e este fez que sim. Era um Evangelho ilustrado, como o grande livro de Kells, embora muito menor e menos complexo. Osgar o iniciara apenas recentemente e esperava completá-lo, inclusive todas as letras decoradas e várias páginas de iluminuras antes da Páscoa seguinte. Seria um belo acréscimo aos pequenos tesouros do mosteiro de Glendalough.
— Creio que meu pai gostaria de recebê-lo — disse o príncipe, fitando a obra atentamente.
— Na verdade, é para os monásticos... — começou Osgar.
— Como sinal de sua lealdade — prosseguiu o príncipe, enfático. — Ele gostaria de tê-lo pelo Natal.
— Claro — afirmou o abade comedidamente. — Seria realmente um presente adequado a um rei tão devoto. Não concorda, irmão Osgar? — prosseguiu, encarando Osgar.
— De fato — concordou Osgar tristemente.
— Então estamos acertados — disse o abade com um sorriso como se fosse uma bênção. — Por aqui. — E conduziu para fora o seu visitante real.
Foi depois que o príncipe e seus homens partiram e os monges começaram a descer da torre que ocorreu uma lembrança a Osgar.
— Eu devia estar seguindo para Dyflin para o casamento de minha prima — comentou com o abade —, mas, com tudo isso acontecendo, suponho que o casamento deve ter sido adiado.
— De qualquer modo, está fora de questão — rebateu o abade alegremente. — Não até você ter terminado o livro.
— Então terei de enviar uma mensagem a Caoilinn — disse Osgar.
Ela a recebeu no momento em que os portões de Dyflin se fechavam. E se, nas semanas subseqüentes, ela não conseguiu enviar a resposta, foi porque estava presa lá dentro.
Era 7 de setembro, a festa de São Ciaran, quando o rei Brian, à frente de um exército reunido em Munster e Connacht, chegou diante dos muros de Dyflin. Nenhuma tentativa de travar uma batalha foi feita pelos defensores da cidade; em vez disso, com um enorme contingente de homens de Leinster para ajudá-los, fortificaram as defesas da cidade e desafiaram o rei supremo de Munster a abrir caminho lutando. Brian, tão cauteloso quanto audacioso, inspecionou cuidadosamente as defesas e acampou seu exército nos agradáveis pomares por toda a volta. “Vamos matá-los de fome”, declarou. “Enquanto isso”, comentou o idoso rei, “recolhemos suas colheitas e'comemos suas maçãs enquanto eles olham.” E assim procedeu o exército sitiante, enquanto as quentes semanas do outono chegavam ao fim.
Em Dyflin, enquanto isso, Caoilinn tinha de confessar que a vida era um bocado tediosa. Nos primeiros dias, esperou um ataque. Depois, achou que pelo menos o rei de Dyflin ou os chefes de Leinster fariam alguma tentativa de fustigar o inimigo. Mas nada aconteceu. Absolutamente nada. O rei e os homens importantes se limitavam a se refugiarem no salão real e nos recintos em volta dele. As sentinelas mantinham sua solitária vigília nas ameias. Todos os dias, no espaço a céu aberto da feira do lado oeste, os homens se exercitavam com suas espadas e lanças, fingindo combater; o resto do tempo eles jogavam dados ou bebiam. E seguia assim, dia após dia, semana após semana.
Os estoques de comida resistiam bem. O rei mostrara antevisão e levara uma grande quantidade de gado e de suínos para o interior dos muros antes do início do sítio. Os silos estavam repletos. Os poços dentro da cidade forneciam água com abundância. O lugar poderia talvez resistir por meses. Só faltava uma parte importante da dieta de Dyflin: não havia peixe. Os homens de Brian estavam atentos. Se alguém colocasse o pé fora das defesas para jogar redes no rio, fosse de dia ou de noite, era improvável que voltasse. Nem podia qualquer barco entrar ou sair do porto.
Todos os dias, Caoilinn subia até as ameias. Era estranho ver o cais e o rio vazios. Na comprida ponte de madeira um pouco adiante rio acima, havia um posto de sentinela. Olhando em direção ao estuário, ela podia ver uma dezena de mastros no lado norte da água, onde um riacho chamado Tolka descia para o Liffey. Brian colocara seus barcos ali, com um posto de comando perto de uma aldeia de pescadores chamada Clontarf. Os longos barcos bloqueavam efetivamente o porto e já haviam desviado dezenas de barcos mercantes que tentavam entrar. Ela nunca se dera conta antes do quanto a vida daquele lugar dependia inteiramente do transporte fluvial. O interminável silêncio era sinistro. Ela também ia até a ameia do lado sul e fitava na direção de seu lar em Rathmines.
Fora seu filho mais velho, Art, quem insistira que Caoilinn e os filhos mais novos ficassem com o irmão dela na segurança de Dyflin, enquanto ele permanecia em Rathmines. Provavelmente um erro. Ela tinha certeza de que poderia ter salvo sua criação de animais do maldito Brian tão bem quanto, ou até melhor do que ele. Ela olhava todos os dias na direção de Rathmines e nunca vira qualquer sinal de que estavam incendiando o lugar, mas como o acampamento dos homens de Munster ficava do outro lado dos pomares e dos campos que havia entre eles, ela não sabia o que acontecia. O que a incomodava particularmente era a desconfiança de que seu filho não lamentara muito o fato de ela estar em segurança mas fora do caminho. De qualquer modo, ali estava ela, presa em Dyílin.
A mensagem de Osgar, que chegara no dia em que ela fora para Dyflin, viera como uma surpresa. A verdade era que, com tantas outras coisas em sua mente desde o verão, ela esquecera completamente dele.
Ela não via Harold desde o dia em que expulsara o nórdico de sua casa. Não tinha certeza de que seu filho ficara contente por ela ter rompido com Harold. Pior para ele. Agora, todos os dias que olhava para o acampamento do detestável rei de Munster, sua fúria reacendia. Desejava ter ficado em Rathmines, no mínimo para rogar praga contra Brian quando ele passasse. O que ele poderia fazer contra ela, o traidor? Que ele a matasse, se tivesse coragem. E quanto a Harold, por ele ter imaginado que ela daria apoio a esse demônio — ficava pálida de raiva só de pensar nisso. Até seu próprio filho tentara, certa vez, argumentar com ela a esse respeito. — Harold está fazendo apenas o que é melhor para você — ele ousara sugerir.
— Está esquecendo de quem foi seu pai? — disparou ela de volta. Isso o silenciara.
O único erro que ela admitia a si mesma foi sua escolha de palavras ao romper com o nórdico. Chamá-lo de pagão e traidor não era mais do que a verdade. Mas dizer-lhe que não coxeasse novamente em sua casa — chamando-o de aleijado — foi errado, pois isso não era de seu feitio. Se as circunstâncias fossem diferentes, teria até mesmo desejado se desculpar. Mas, é claro, isso era impossível. Desde aquele dia, não viera nenhuma palavra da parte de Harold; talvez, pensou ela, nunca mais fosse vê-lo.
Morann Mac Goibnenn continuava intranqüilo. com o passar dos meses, ele pôde observar as forças se reunindo contra Dyflin e continuava convencido de que sua própria avaliação da situação fora correta.
Quando, no verão anterior, ele levara sua família ao norte, para o rei O'Ne”' de Tara, ele foi bem recebido. Alto, bonito, com sua longa barba branca, o velho rei tinha uma aparência nobre, apesar de seus olhos, pareceu a Morann, continuarem vigilantes. Não foi difícil assegurar proteção para a família de seu amigo Harold; mas seu plano de permanecer em segurança, longe de problemas, com o rei O'Neill não foi bem-sucedido, visto que o velho monarca exigira que ele acompanhasse o grupo que tinha ido, em agosto, chamar Brian para ir em sua ajuda. Ele ficou tão ansioso para que o artesão fosse, e tão fervorosa foi sua expressão de lealdade a Brian que Morann desconfiou que O'Neill o usava para convencer o rei de Munster de que o pedido de ajuda era autêntico.
Brian Boru recebera-o calorosamente. “Eis um homem que mantém seu juramento”, declarou aos chefes à sua volta. Haviam se passado dez anos desde que Morann vira pessoalmente o rei de Munster. Ainda o achou impressionante. Estava grisalho; seus dentes eram compridos e amarelos, embora, espantosamente, conservasse a maioria deles. Um cálculo rápido lembrou a Morann que Brian devia ter mais de setenta anos de idade, mas, mesmo assim, uma atmosfera de poder emanava dele.
— Estou mais lento, Morann — confessou —, e sinto dores e aflições que nunca senti antes, mas esta aqui — indicou a jovem mulher que agora era sua esposa — me mantém mais jovem do que os anos que tenho. — Pelas contas de Morann, era a quarta esposa. Não se podia deixar de admirar o velho.
— Você me acompanhará — disse-lhe Brian — em minha viagem a Dyflin. Era início de setembro, num dia claro, quando o exército avançado de Brian, a caminho de Dyflin, acabara de surgir na planície do Liffey. Morann vinha cavalgando não muito longe do rei de Munster, na vanguarda do exército, quando, para sua surpresa, ele viu, vindo em sua direção, a esplêndida figura montada de Harold, completamente só. Ficou ainda mais surpreso quando soube por que o nórdico estava ali.
— Quer que eu peça ao rei Brian que poupe a propriedade de Caoilinn? Depois de tudo o que ela fez? — Ele ficara chocado, no verão anterior, com o tratamento que seu amigo recebera de Caoilinn. A princípio, Harold lhe dera apenas uma idéia geral da conversa; mas foi a mulher de Morann quem, após um demorado passeio com o nórdico, informou-lhe: “Ela chamou-o de aleijado e expulsou-o de sua casa”, Freya ficara furiosa. “Fosse qual fosse seu motivo”, declarou, “ela errou ao se comportar tão cruelmente.” E logo tornou-se óbvio para Morann que seu amigo ficara seriamente magoado. Até mesmo pensara em ir falar pessoalmente com Caoilinn. Mas Harold fora tão categórico em dizer que o namoro estava encerrado que Morann concluíra que não havia nada a ser feito.
O nórdico apenas deu de ombros.
— Seria uma pena destruir o que ela construiu.
Morann ficou imaginando que talvez os dois tivessem reatado e que Harold tinha interesse no negócio; mas o nórdico explicou que não era esse o caso, que Caoilinn e ele nunca mais haviam se falado e que, no momento, ela estava atrás das defesas de Dyflin.
— Você é um homem generoso — admirou-se Morann.
Para seu alívio, quando explicou o assunto ao rei Brian, este não ficou zangado, mas sorriu.
— Esse é o ostman que bateu na cabeça do meu companheiro em Dyflin? E agora quer que eu poupe a fazenda de uma dama? — O rei sacudiu a cabeça. — É mais do que eu deveria fazer. Homens com um grande coração são raros, Morann. E eles devem ser alentados. Em momentos de perigo, mantenha por perto os homens bons. Coragem leva ao sucesso. — Acenou positivamente com a cabeça. — Que tipo de lugar é Rathmines e onde fica exatamente?
Morann descreveu-lhe a propriedade de Caoilinn e seu belo salão. O local,! explicou, ficava perto de Dyflin, e seu rebanho de gado era grande.
— A esta altura, o gado já deve estar escondido nas montanhas — comentou Brian.
— Onde os seus homens mais cedo ou mais tarde o encontrarão — frisouvou Morann.
— Sem dúvida. — Brian assentiu pensativamente. — Muito bem — prosseguiu animado, após uma curta pausa. — Eu ficarei em Rathmines. A propriedade servirá de residência para mim e minha criadagem. Quanto mais cedo Dyflinl me for entregue, mais cedo irei embora e mais gado dessa dama vai sobrar. Esses! são os meus termos, Morann. Concorda com eles?
— Concordo — disse o artesão. E cavalgou à frente com Harold para prepararem a casa em Rathmines. O filho de Caoilinn talvez não apreciasse ter Brian Boru na casa, mas foi capaz de entender o mérito do acordo. “Agradeça a Harold,! se você tiver alguma cabeça de gado depois disso”, disse-lhe Morann.
Brian manteve Morann com ele em Rathmines até perto do fim de outubro. Durante esse tempo, Morann teve a chance de ver como o grande chefe guerreiro se comportava — seu acampamento ordenado, seus homens bem treinados, sua paciência e sua determinação. Então Brian mandou-o de volta ao rei de Tara com algumas mensagens.
— No final, este jogo será jogado pacificamente — comentou com o artesão, por ocasião de sua partida. Mas Morann não tinha tanta certeza.
A mensagem só veio em dezembro — na forma de um único cavaleiro, que chegou num dia frio, cinzento, aos portões de Glendalough. Sobre seu ombro, vinha pendurada uma mochila de couro vazia, que ele depositou sobre a mesa do abade, ao mesmo tempo que anunciava:
— Vim buscar o livro.
O livro do príncipe: o presente para Brian Boru. O Natal se aproximava. Era a ocasião.
— Infelizmente — disse o abade com um certo constrangimento não está totalmente pronto. Mas quando estiver, ficará uma beleza.
— Mostre-o para mim — exigiu o mensageiro.
Osgar trabalhara arduamente. Perto do final de outubro, ele havia preparado o velino, projetado o livro e copiado todos os Evangelhos com uma letra perfeita. As letras capitulares vieram a seguir. Deixara espaço para cada uma delas e, nos primeiros dez dias de novembro, planejara um esquema: ao mesmo tempo que cada letra seria tratada de modo diferente, certos detalhes — alguns com formas puramente geométricas, outros em forma de serpentes, pássaros, ou figuras humanas ampliadas — se repetiriam sutilmente ou equilibrariam uns aos outros num exótico contraponto, produzindo, assim, uma oculta unidade ecoando com o todo. Também pretendia acrescentar pequenos adornos ao texto, de acordo com o que a imaginação o induzisse. Finalmente, havia quatro páginas inteiras de iluminuras. Ele já tinha esboços para três dessas páginas, e sabia de que modo se combinariam; a quarta, porém, era mais ambiciosa e, sobre esta, ele estava mais indeciso.
Em meados de novembro, Osgar fez um bom progresso no desenho e na pintura das capitulares, tendo mais de uma dúzia concluídas por volta do fim do mês e, ao inspecionar o trabalho, o abade se declarara satisfeito; não obstante, ele fizera uma queixa.
— A cada ano, irmão Osgar, você parece levar mais tempo para completar ilustração. Certamente, adquirindo cada vez mais prática, deveria se tornar proficiente, e não menos.
— Quanto mais eu faço — retrucara Osgar tristemente — mais difícil se torna.
— Ah — fez o abade, irritado. Era em ocasiões como essa que ele achava enfadonho o calígrafo perfeccionista, e até mesmo desprezível. E Osgar suspirara porque sabia que não era capaz de explicar tais coisas a qualquer homem, por mais inteligente que fosse, que não tivesse praticado ele mesmo a arte druídica do desenho.
Como poderia explicar que os padrões que o abade via não eram o resultado de uma simples escolha ao acaso, mas que quase sempre, quando trabalhava neles, os fios de cor, misteriosamente, se recusavam a obedecer ao padrão que ele imaginara inicialmente. E que somente após dias de obstinada peleja descobria neles um novo padrão, mais carregado, dinâmico, muito mais sutil e vigoroso do que qualquer coisa que seu pobre cérebro seria capaz de projetar. Durante esses dias frustrantes, ele era como um homem perdido em um labirinto, ou incapaz de se mover, como se tivesse sido colhido em uma teia de aranha mágica, preso nas próprias linhas que desenhara. E, à medida que avançava, cada descoberta lhe revelava novas regras, camada após camada, de modo que, como a bola de barbante que cresce lentamente, o artefato que ele produzia, por mais simples que parecesse, tinha um peso oculto. Através desse processo exaustivo, dessas intermináveis tensões, eram construídos os elegantes padrões de sua arte.
E nada disso era mais verdadeiro do que em relação à quarta iluminura de página inteira. Ele sabia o que queria. Queria, de algum modo, reproduzir a estranha espiral que o velho monge havia copiado da pedra e lhe mostrara em Kells. Ele só a vira uma vez, mas a estranha imagem o assombrava desde então. Claro que vira trifólios e espirais em muitos livros; mas aquela imagem em particular era impressionante exatamente por ser sutilmente diferente. Por outro lado, como seria possível capturar aquelas linhas rodopiantes visto que o seu misterioso poder vinha do fato de serem erráticas, indeterminadas, pertencentes a algum desconhecido mas profundo e necessário caos? Cada esboço que fazia era um fracasso, e o bom senso, principalmente por trabalhar com tamanha pressa, deveria ter-lhe dito para desistir. Algo convencional serviria. Mas ele não conseguia. Todos os dias aquilo o deixava intrigado, enquanto ele prosseguia com o resto.
Felizmente, quando foi mostrado o livro parcialmente pronto ao mensageiro do príncipe, ficou logo claro que seria belo.
— Direi ao príncipe que está andando — disse o mensageiro —, mas ele não ficará contente se não ficar pronto.
Você terá de trabalhar mais depressa, irmão Osgar — recomendou o abade.
O cerco a Dyflin foi suspenso no Natal. Brian e seu exército se retiraram em direção ao sul, para Munster. Nenhum ataque às defesas fora feito pelos sitiadores e ninguém saiu para combatê-los. Quando os homens de Dyflin viram o rei de Munster partir, congratularam-se consigo mesmos.
No início de janeiro, após a partida de Brian, Morann resolveu deixar por uns tempos o rei O'Neill de Tara e fazer uma visita a Dyflin. Não ficou surpreso ao receber uma convocação para comparecer diante do rei de Dyflin e seu conselho no salão real. Eles o saudaram alegremente. —Todos nós sabemos que estava sob juramento a Brian — tranqüilizou-o o rei. Eles tinham inúmeras perguntas sobre o rei de Munster e a disposição de suas tropas, às quais Morann respondeu. Contudo, o artesão ficou surpreso com o ar de truculência que detectou em alguns dos membros mais jovens do conselho.
— Teria sido melhor que permanecesse conosco, Morann — disse um deles.
— Brian veio nos castigar, mas teve de desistir.
— Ele nunca desiste — rebateu Morann. — Ele voltará. E é melhor vocês se prepararem.
— Que sujeito mais pessimista — comentou o rei com um sorriso, e os demais riram. Mas quando, no dia seguinte, Morann o encontrou por acaso, na rua, o rei segurou seu braço e disse-lhe baixinho: — Você tem razão sobre Brian, é claro. Mas, quando ele voltar, teremos pronta uma recepção diferente para ele.
— Fez para Morann um gesto amigável com a cabeça. — Fique avisado.
Dois dias após essa conversa, Morann foi a Fingal para visitar seu amigo Harold. Fazia quatro meses desde que o vira pela última vez.
Ficou contente, ao chegar à fazenda de Harold, ao ver que o nórdico parecia estar em boas condições físicas e mentais e satisfeito. Passaram uma hora agradável percorrendo a fazenda, que se encontrava em excelente ordem, na companhia de seus filhos. Somente quando ficaram a sós, Morann tocou no assunto Caoilinn.
— Ouvi dizer que Rathmines foi deixada com mais da metade de sua criação.
— Também ouvi. E que outras fazendas foram despojadas. Sou grato a você, Morann.
— Não esteve por lá?
— Não, não estive. — Ele afirmou isso com firmeza e tristeza.
— Recebeu alguma palavra de agradecimento? Contei ao filho dela, na ocasião, que era a você que o agradecimento era devido.
— Não recebi nada. Mas não espero receber. A coisa foi feita. Isso é tudo. -
Ficou claro para Morann que seu amigo não queria mais falar sobre o assunto, e não tocou mais nele durante sua estada naquele dia. Na manhã seguinte, porém, ao partir, tomou uma decisão particular. Estava na hora de ir falar com a própria Caoilinn.
Ela não estava sozinha quando ele chegou a Rathmines no dia seguinte. Seu filho estava com ela. Teria sido por esse motivo, perguntou-se, que ela se resguardara? Estava bem claro que ela não queria vê-lo. Quando, sentado no grande salão, ele mencionou educadamente que ficou contente por saber que sua criação sobrevivera aos problemas em Dyflin, o filho assentiu e murmurou:
— Graças a você. — Mas Caoilinn continuou olhando firme adiante, como se não o tivesse escutado.
— Estive recentemente em Fingal — informou ele. Suas palavras caíram como uma pedra no chão. Fez-se silêncio. Ele pensou que ela estava prestes a ir embora e, se o fizesse, estava disposto a segui-la; mas então aconteceu uma coisa interessante. Abruptamente, seu filho levantou-se e foi lá para fora, de modo que ele ficou sozinho no salão com Caoilinn. Sem romper todas as regras da hospitalidade, ela não poderia fazer o mesmo e abandoná-lo ali. Ele a viu franzir a testa de amolação. Não ligou.
— Estive na fazenda de Harold — disse calmamente. Então esperou, praticamente forçando-a a responder.
Mas, fosse qual fosse a resposta que ele poderia esperar, não foi a que recebeu. Pois, após um prolongado silêncio, com uma voz contida pela ira, ela comentou:
— Estou surpresa que, diante das circunstâncias, você tenha mencionado o nome dele nesta casa.
— Diante das circunstâncias? — Ele fitou-a incrédulo. — Ele não a salvou da ruína? Não tem sequer uma palavra de agradecimento pela sua bondade?
— Bondade? — Olhou-o com desdém e também, pareceu-lhe, com incompreensão. — Sua vingança, quer dizer. — Embora o rosto de Morann ainda registrasse espanto, ela não pareceu perceber. Aliás, ao prosseguir, ela parecia falar consigo mesma e não com ele. — Ter Brian Boru, o demônio imundo, habitando a mesma casa de meu marido. Comendo seu gado. Servido pelos seus próprios filhos. Não foi uma vingança perfeita por eu tê-lo chamado de aleijado? — Ela sacudiu lentamente a cabeça.
E, pela primeira vez, Morann descobriu a extensão de sua dor e da sua tristeza.
— Não foi culpa de Harold — disse simplesmente. — Ele nunca teve qualquer relação com Brian. Está sob a proteção do rei O'Neill, como sabe. Mas ele me pediu que convencesse Brian a não destruir a propriedade de seu marido. Portanto, foi minha a culpa de Brian ter vindo para cá. — Deu de ombros. — Foi a única maneira. — Viu Caoilinn fazer um gesto de impaciência. — Você precisa entender — prosseguiu com mais premência, e até mesmo segurando-a pelo braço — que ele apenas tentou salvar você e sua família da ruína. Harold tem admiração pelo seu trabalho. Ele me disse isso. Está fazendo uma injustiça.
Ela estava muito pálida. Não disse uma só palavra. Ele não sabia dizer se a convencera ou não.
— Você lhe deve — sugeriu baixinho — pelo menos um agradecimento e um pedido de desculpas.
— Desculpar-me? — Sua voz elevou-se agudamente. Ele decidiu continuar na ofensiva.
— Por Deus, mulher, está tão cega pelo seu ódio a Brian que não consegue enxergar a generosidade de espírito do homem de Fingal? Ele ignora seus insultos e tenta salvar seus filhos da ruína e, ainda assim, você não consegue ver nada além de uma maldade imaginada inteiramente por você? Como você é tola — disparou. — Poderia ter tido esse homem como marido. — Fez uma pausa. Então baixou a voz e, com satisfação, acrescentou: — Bem, de qualquer modo, é tarde demais para você, agora que há outras.
— Outras?
— Claro. — Deu de ombros. — O que estava esperando? — Em seguida, subitamente e sem cerimônia, partiu.
Era fevereiro quando a notícia começou a chegar ao porto. Por se lembrar do aviso do rei de Dyflin, Morann já a esperava.
Os vikings estavam vindo. Da ilha de Man, logo além do horizonte, seu governante viking trazia uma frota de barcos de guerra. Das distantes ilhas Orkney no norte, vinha outra grande quantidade de barcos. Chefes guerreiros, comerciantes aventureiros, piratas nórdicos — estavam todos se preparando. Seria outra grande aventura viking. Quem sabe, se derrotassem Brian Boru, talvez pudesse haver uma chance de conquistar a ilha toda, exatamente como Canuto e seus dinamarqueses dominavam a Inglaterra. Pelo menos haveria uma pilhagem valiosa.
Em Dyflin, lá pela metade do mês, havia todos os tipos de boatos. Dizia-se que a irmã do rei de Leinster, a turbulenta ex-esposa de Brian, até mesmo se oferecera para se casar novamente, se isso ajudasse a causa.
— Dizem que ela foi prometida ao rei de Man e também ao rei das Orkneyvou — contou a Morann um chefe íntimo da família.
— Ela não pode se casar com os dois — observou Morann.
— Não conte com isso — respondeu o outro.
Mas ainda não havia notícias do rei Brian em Munster. Estaria o velho guerreiro ciente dos preparativos nos mares do norte? Sem dúvida. Estaria hesitando em retornar por causa disso, como ainda supunham alguns em Dyflin? Morann achava que não. Não tinha dúvida de que o cauteloso conquistador iria, como sempre, esperar o momento certo. No fim de fevereiro, chegou das Orkney um barco com a notícia definitiva.
“A frota estará aqui antes da Páscoa.”
Fora no início de janeiro, quando se sentira desesperado por achar que jamais terminaria seu trabalho a tempo, que Osgar recebera uma notícia, de um tipo diferente, de Caoilinn. Ela se desculpava por não ter enviado antes uma mensagem e explicava que ficara presa em Dyflin durante todo o cerco. com um pouco de culpa talvez, ela lhe enviava carinhosas expressões de afeto. E lhe revelava que, por motivos que não explicava, não se casaria novamente, afinal. “Mas venha me visitar, Osgar”, acrescentava. “Venha me visitar em breve.”
O que ele poderia depreender daquela mensagem? Não sabia dizer. A princípio, recebeu-a com bastante tranqüilidade. Descobriu que já se passara algum tempo desde que lhe dedicara um pensamento. Durante aquele dia, realizara tranqüilamente seu serviço, como de hábito; somente ao final da tarde, ao guardar as penas e seus dedos encontrarem o pequeno anel de noivado que continuava habitando a sacola, foi que subitamente sentiu com a recordação uma pontada de emoção, ao pensar nela.
Ela veio até ele naquela noite, em seus sonhos, e novamente quando acordou no escuro amanhecer de janeiro, trazendo consigo uma estranha sensação de calidez, um formigamento de excitação — ele mal se lembrava da última vez em que se sentira assim. A sensação também não se foi, mas permaneceu com ele durante todo o dia.
Que significava aquilo? Naquela noite, Osgar refletiu cuidadosamente. Quando retornara a Glendalough após a morte do tio, passara algum tempo por estados de melancolia. Sua incapacidade de voltar para Dyflin e a permanente sensação de ter fracassado com Caoilinn tinham sido difíceis de agüentar. com a notícia de seu próximo casamento, contudo, uma porta em sua mente pareceu ter-se fechado. Novamente, ela partia para os braços de outro. Ele continuava casado com Glendalough. Disse a si mesmo para não pensar mais nela e ficou em paz. Mas agora, ao saber que ela não ia mais se casar, foi como se, de algum modo estranho e inesperado, ela novamente pertencesse a ele. Poderiam renovar sua amizade. Ela poderia ir a Glendalough vê-lo. Ele poderia visitar Dyflin. Ele estaria livre para se deliciar com um relacionamento tão apaixonado quanto seguro. Assim, fosse por intermédio da ação de poderes do bem ou do mal, o pesar do irmão Osgar foi transformado em um novo tipo de alegria.
Ele notou a diferença logo na manhã seguinte. Havia mais sol no scriftorium, naquele dia, ou o mundo ficara mais luminoso? Ao se sentar à sua mesa, o velino diante dele pareceu adquirir um novo e mágico significado. Em vez da habitual e penosa peleja com um complicado padrão, as formas e cores sob sua pena explodiam em vida como as frescas e reluzentes plantas da primavera. E, ainda mais extraordinariamente, com o avançar do dia, essas sensações tornaram-se mais fortes, mais urgentes, mais intensas; tão totalmente absorto ele se achava que, no final da tarde, nem mesmo notou que a luz do lado de fora desvanecia, enquanto trabalhava, com uma crescente excitação febril, imerso no rico e radiante mundo em que penetrara. Só quando sentiu um persistente tapinha no ombro, finalmente deteve-se com um sobressalto, como alguém despertado de um sonho, para descobrir que já haviam acendido três velas em torno de sua mesa e que ele terminara não uma mas cinco novas ilustrações. Praticamente tiveram de arrastá-lo da mesa.
E isso continuara dia após dia, enquanto, perdido em sua arte, num tal estado febril que em geral se esquecia de comer, pálido, distraído, melancolicamente alheio, mas por dentro em êxtase, o monge de meia-idade — inspirado por Caoilinn se não por Deus — agora nos padrões abstratos, nas plantas verdejantes, em toda a riqueza das cores berrantes da criação sensual, pela primeira vez descobria e expressava em sua obra o verdadeiro significado da paixão.
No final de fevereiro, começou a traçar a grande espiral tripla da última página inteira, e esticando-a e dobrando-a à sua vontade, descobriu, para seu espanto, que a formara dentro de um magnífico e dinâmico Chi-Ro, diferente de qualquer coisa que vira antes, que ecoava na página como um sólido fragmento da própria eternidade.
Duas semanas antes da Páscoa, sua pequena obra-prima ficou pronta.
Ela não o esperava; e foi isso que ele pretendeu. Harold contava com o elemento surpresa. Embora a verdadeira questão fosse: ele deveria ter ido lá, afinal?
“Fique longe. Ela não vale a pena a encrenca.” Esse fora o conselho de Morann. Nas duas vezes em que fora visitar Caoilinn, o artesão deixara que o filho dela soubesse que Harold o visitaria em Dyílin num determinado dia. Teria sido fácil o bastante para Caoilinn ir de Rathmines e encontrar o nórdico, como se por acaso, no cais ou na feira. Aliás, o filho, que desejava que sua mãe se mudasse da casa, estava ansioso para ajudar. Mas ela não foi nem mandou nenhum recado para Harold. E embora, no início, Morann torcesse para ver uma reconciliação dos namorados, ele agora mudara de idéia. “Procure outra esposa, Harold”, aconselhou. “Você pode se sair melhor.”
Por que ele foi então? Nos meses após ter sido rejeitado, o nórdico refletira inúmeras vezes sobre o assunto Caoilinn. Ela o havia magoado, é claro. Aliás, houve ocasiões em que, lembrando de seu tratamento desdenhoso, ele fechara os punhos, com raiva, e jurara a si mesmo que nunca mais voltaria a pôr os olhos nela. Contudo, de feitio generoso, ele ainda tentara entender o que poderia tê-la levado a se comportar daquela maneira; e, após descobrir mais detalhes a respeito de seu marido, por intermédio de pessoas que conheciam a família, ele formou uma boa idéia do que poderia se passar na mente de Caoilinn. Fez concessões; estava disposto a perdoar. Mas ele também estava atento ao desprezo pelos seus próprios sentimentos que o comportamento dela demonstrara. Morann falou-lhe de sua visita a Rathmines. Ao meditar sobre o assunto nos primeiros meses daquele ano, Harold concordara com o amigo que deveria esperar que Caoilinn fizesse o primeiro movimento, mas ela não o fez.
Quando Morann alertara Caoilinn de que ela tinha rivais, não estava blefando totalmente. Havia duas mulheres que tinham deixado claro para Harold que, se ele mostrasse interesse nelas, esse interesse seria correspondido. Uma delas, Harold tinha certeza, tinha por ele uma genuína afeição; a outra, embora a achasse um pouco leviana, estava apaixonada por ele. Caoilinn o amava? Não mesmo. Ele não tinha ilusões. De qualquer modo, ainda não. Mas ele faria feliz qualquer uma das outras duas mulheres e sua vida com elas seria agradável e tranqüila.
E talvez, no final das contas, fosse esse o problema. Apesar de seus atrativos, as duas mulheres ofereciam uma vida que era exatamente um pouco tranqüila demais. Caoilinn, apesar de todos os defeitos, era mais interessante. Mesmo na meia-idade, Harold, o Norueguês, continuava à procura da emoção de um desafio.
Portanto, tendo considerado toda a questão muito cuidadosamente, no último dia de março, ele cavalgou novamente em direção a Rathmines. Decidira o que dizer exatamente? Dependendo de como a encontrasse, sim. Mas, como já acontecera antes em seus encontros com ela, ele sabia que podia confiar nos seus instintos. E ainda estava meio curioso sobre o que faria, quando os portões do rath surgiram à vista.
Se sua pretensão era surpreendê-la, ele conseguiu, pois, ao cavalgar pela entrada, flagrou-a ordenhando uma vaca. Quando ela se virou e se levantou do banquinho, seu cabelo negro caiu-lhe sobre o rosto e com um simples gesto, ela empurrou o banco para trás; suas duas mãos alisaram o vestido e seus grandes olhos o encararam como a um intruso. Por um momento ele pensou que ela fosse insultá-lo, mas, em vez disso, comentou:
— Harold, filho de Olaf. Não sabíamos que viria. — Em seguida, permaneceu em um silêncio perigoso.
— Está um belo dia. Pensei em cavalgar por estas bandas — retrucou ele, fitando os arredores de cima de seu cavalo.
Então, sem desmontar, mas fazendo eventuais comentários como se pudesse ir embora a qualquer momento, ele começou a falar. Falou baixinho sobre sua fazenda, acontecimentos em Dyflin, uma carga de vinho que acabara de chegar ao porto. Sorria de vez em quando, de seu modo tranqüilo, amigável. E nem uma só vez aludiu ao fato, por palavra ou olhar, de que ela o insultara ou que lhe devesse desculpas. Nem uma só palavra. Nada. Ele foi magnífico. Ela não podia negar, mas o que realmente a abalou foi uma coisa completamente diferente. Foi algo, nos turbulentos meses desde sua separação, que ela esquecera. Ela esquecera o quanto ele era atraente. No momento em que ele havia passado pelo portão e ela se virara para vê-lo, aquilo a atingira quase como um soco. O esplêndido cavalo com seus arreios brilhantes; a figura de Harold, poderosa, atlética, quase pueril; sua barba ruiva e seus olhos, aqueles radiantes olhos azuis: por um momento, enquanto alisava o vestido para desviar sua atenção, ela descobriu que mal conseguia respirar; combateu um enrubescer e manteve nos olhos uma frieza para que ele não notasse que seu coração batia mais depressa, muito mais depressa do que ela desejava. Tampouco se sentiu capaz de dominar aquelas sensações que, como ondas, continuavam a se formar e quebrar o tempo todo enquanto ele falava.
E foi então que Harold, fitando-a calmamente, agiu.
— Houve uma conversa, ano passado, de que você e eu íamos nos casar. Caoilinn olhou para baixo e nada disse.
— O tempo passa — comentou ele. — Um homem segue em frente. — Fez uma pausa longa apenas o suficiente para deixar sua mensagem penetrar. — Eu pensei que mudaria. — Sorriu de um modo encantador. — Não gostaria de perder você por descuido. Afinal — acrescentou com benevolência —, talvez eu consiga fazer igual, mas nunca conseguiria fazer melhor.
Ela teve de reconhecer o elogio. O que mais poderia fazer? Inclinou a cabeça.
— Havia dificuldades — conseguiu dizer. Não se desculpou.
— Talvez elas possam ser superadas — sugeriu ele.
— Várias dificuldades. — Por apenas um instante ela quase tocou na questão da religião, mas achou melhor afastar a idéia.
— Cabe a você decidir, Caoilinn. — Olhou-a um tanto severo. — A minha proposta continua de pé. Eu a faço com prazer. Mas, seja qual for a sua decisão, peço que a tome até a Páscoa.
— Se eu entendi direito — perguntou ela, com um vestígio de irritação —, a proposta não estará mais de pé após a Páscoa?
— Não estará — disse ele, e girou seu cavalo para o outro lado antes que ela conseguisse pronunciar mais uma palavra.
— Meu Deus — murmurou ela, quando ele sumiu de vista —, que audácia desse homem.
Morann não ficou surpreso quando, no décimo dia de abril, Caoilinn ainda não dera notícias.
— Se ela vier — disse-lhe Harold —, vai esperar até o último momento.
— Sorriu. — E, mesmo assim, pode estar certo de que haverá condições.
— Ela não virá mesmo — afirmou Morann, não porque soubesse mas porque não queria que seu amigo ficasse decepcionado.
Poucos dias depois, porém, surgiram acontecimentos que deixaram até mesmo o casamento de Harold em segundo plano. Um barco chegou ao porto com a notícia de que as frotas do norte haviam partido e que logo surgiriam. E, dois dias depois, chegou um cavaleiro do sul que anunciou: “Brian Boru está a caminho.”
Quando Morann e sua família chegaram à fazenda de Harold, no dia seguinte, o artesão foi bastante firme. O nórdico queria ficar e proteger a sua fazenda como fizera antes.
— Desta vez será diferente — alertou-o Morann. Haveria todos os tipos de homens — saqueadores, piratas, gente que matava por prazer — nos barcos longos dos vikings. — Nada conseguirá proteger sua fazenda, se eles vierem nesta direção. — Ele ia voltar para se juntar ao rei O'Neill, como fizera anteriormente.
— E você e os seus filhos devem vir comigo — disse-lhe.
Mesmo assim, Harold arranjou desculpas e tergiversou. Finalmente, alegou:
— E se Caoilinn vier? — Mas Morann antecipara a pergunta.
— Ela se mudou ontem para Dyflin — contou abruptamente ao amigo. — Sem dúvida, permanecerá lá, como o fez antes. Mas, se ela vier, você pode deixar um recado para que vá em frente. — Finalmente, ele convenceu o nórdico da sensatez de ir embora. O enorme rebanho de gado da fazenda foi dividido em quatro partes; e três delas, cada qual guiada por um boiadeiro, foram levadas embora, para lugares diferentes onde não poderiam ser achadas. A Harold nada restou a fazer, exceto esconder seus objetos de valor e se preparar para partir, acompanhado pelos filhos, na jornada a noroeste. Quatro dias depois, alcançaram o rei O'NeilldeTara.
O acampamento do rei de Tara era impressionante. Para sua nova campanha,
le reunira um enorme exército vindo de algumas das melhores tribos guerreiras do norte. Quando Morann levou Harold e seus filhos até o rei, este deu-lhes as boas-vindas e disse: “Quando começar a luta, vocês ficarão do meu lado” – Um acordo, notou Morann, que reverenciava os seus amigos e também praticamente garantia sua segurança.
Morann logo se familiarizou com a situação militar. Calculou que havia perto de mil combatentes no acampamento. Era raro na ilha celta ver-se uma força combatente muito maior; Brian Boru não levara mais do que isso para o cerco a Dyílin. Muitos foram trazidos da base mais leal ao poder do rei, o reino central de Meath; mas ainda chegavam outros de lugares ainda mais distantes. A qualidade dos homens era boa. Morann observava, impressionado, enquanto eles realizavam seus exercícios em combate corpo-a-corpo. O velho rei planejava permanecer em seu acampamento até receber a notícia de que Brian estava na planície do LifFey; então se deslocaria até o sul para se juntar a ele, descendo pelo caminho de Tara.
Mas o que ele faria quando chegasse lá? Tudo que Morann podia ver — o exercício diário com armas, os conselhos de guerra do rei —, tudo confirmava que ele pretendia manter sua palavra a Brian, e à luta. Poderia haver um plano mais insidioso? Quando Morann olhava o velho rosto astuto do rei de Tara, achava impossível decifrar suas intenções; talvez, concluiu o artesão, a verdade estivesse na conversa que teve quando o rei o convocou no dia seguinte. O velho monarca parecia pensativo, embora Morann tivesse pouca dúvida de que ele calculara tudo o que desejava dizer. Conversaram bastante, sobre os homens que ele trouxera, o esperado exército de Munster e as forças alinhadas contra eles.
— Você sabe, Morann, que Brian tem muitos inimigos. Ele deseja governar como rei supremo com mais autoridade do que já tiveram os O'Neill, visto que jamais nós subjugamos realmente toda a ilha. Esses reis de Leinster se ressentem dele. São quase tão orgulhosos quanto nós. E não são os únicos. — Deu um rápido e aguçado olhar de relance para Morann. — Mas, se pensar a respeito, Morann. — prosseguiu baixinho —, verá que a verdade de todo esse negócio é que não podemos nos dar ao luxo de deixar que ele perca.
— Vocês temem os ostmen.
— Claro. Eles viram Canuto e seus dinamarqueses tomarem conta da Inglaterra. Se Brian Boru perder essa batalha agora, teremos ostmen nos atacando de todas as partes dos mares do norte. Talvez não consigamos resistir a eles.
— Entretanto, foi Leinster que começou essa confusão.
— É porque eles são muito insensatos. Primeiro, agem por questão de orgulho! Segundo, eles acham que, por terem estreitos laços familiares com um ostman, o rei de Dyflin, serão honrados por quaisquer ostmen que invadirem. Mas se todas as frotas do norte descerem, Leinster será tratada exatamente como o resto de nós. Aliás, por estarem perto de Dyflin, serão os primeiros a serem tomados. Então eles ficarão sob o domínio de um rei ostman em vez de Brian. — Sorriu tristemente. — Se isso acontecer, Morann, então será a nossa vez de nos afastarmos do reinado da terra. Como Tuatha De Danaan, iremos para debaixo da colina. — Assentiu pensativamente. — Como vê, Morann, aconteça o que acontecer, Brian Boru precisa vencer.
O mensageiro do rei Brian chegou ao acampamento na manhã seguinte, com um pedido para que o rei de Tara avançasse imediatamente a fim de se juntar ao exército de Munster na margem esquerda do Liffey. Também trouxe uma mensagem para Morann. O ourives devia se juntar a Brian em seu acampamento o mais rápido possível; e, se seu amigo, o nórdico, estivesse com ele, o rei Brian queria que Morann o levasse também. A primeira parte da intimação não foi surpresa para ele, mas não esperava o mesmo para Harold. Ao lembrar-se, porém, da divertida admiração do rei Brian pelo nórdico, quando este pedira que salvasse a propriedade de Rathmines, ele entendeu. O que Brian lhe dissera? “Em momentos de perigo, mantenha por perto os homens de grande coração. Coragem leva ao sucesso.” Diante da maior de todas as suas batalhas, o velho comandante buscava homens leais e corajosos.
Deixando sua família e os filhos de Harold com o rei O'Neill, ele e o nórdico partiram imediatamente.
Cavalgaram tranqüilamente por um bom. Não falaram muito, cada qual ocupado com seus próprios pensamentos. Morann estava contente por saber que poderia fornecer a Brian um relato detalhado sobre as tropas do rei de Tara e a conversa que tiveram, o que, sem dúvida, o rei de Munster lhe pediria. Harold, pelo que Morann podia perceber, estava bastante animado com a perspectiva que se oferecia adiante. Seu rosto normalmente rubro parecia um pouco pálido e seus olhos azuis reluziam.
A estrada levava ao sul em direção a Tara; mas, em determinado ponto, uma pista afastava-se para a esquerda, na direção sudeste.
—— Se formos por ali, a estrada não é tão boa, porém chegaremos mais rápido em Dyflin — sugeriu Morann. — Que caminho prefere tomar?
— O mais rápido — afirmou Harold, tranqüilamente. E foi o que fizeram. E por várias horas mais, cavalgaram em direção ao rio Boyne.
Por que ele escolhera aquele caminho? Por causa de algum instinto que desconhecia, ele deixara a decisão com Harold. Mas, quando informou ao nórdico que aquele era o caminho mais rápido, ele já sabia que seria esse que o nórdico escolheria. E por que ele quis ir por aquele caminho? Morann não sabia. Talvez porque fora o caminho pelo qual seu pai o levara, anos atrás, quando foram a Dyílin pela primeira vez. Fosse qual fosse o motivo, porém, ele sentiu um estranho impulso para retornar àquele caminho.
Corria o final da tarde quando os dois se aproximaram dos grandes montes verdes acima do Boyne. O local estava silencioso, sem vivalma à vista; o céu estava nublado e cinzento, e na água os gansos haviam adquirido uma pálida luminosidade.
—Ali — disse Morann com um sorriso — é onde habita Tuatha De Danaan. — Apontou para o cume do monte maior. — Seu povo, certa vez, tentou entrar num deles. Sabia disso?
O nórdico sacudiu a cabeça.
— Este lugar é tenebroso — disse ele.
Caminharam em volta dos túmulos, observando as pedras entalhadas e o quartzo caído. Então Harold falou que queria caminhar mais um pouco ao longo do cume, mas Morann optou por ficar, diante da entrada do maior dos túmulos, onde ficava a pedra com as três espirais. De algum lugar veio o grito de um pássaro, mas ele não ouviu outro som. A luz esmorecia imperceptivelmente.
Tenebroso. Seria o lugar tenebroso? Talvez. Não tinha certeza. Olhou além do rio. Lembrou-se de seu pai. E já estava esperando daquele jeito há algum tempo, supôs, quando sentiu algo se mexer ribanceira acima vindo do rio em sua direção.
O mais estranho foi que não sentiu nem medo nem surpresa. Ele sabia, como todos os homens da ilha, que os espíritos podiam adotar muitas formas. Havia os antigos deuses que podiam aparecer como pássaros ou peixes, cervos ou mulheres adoráveis; havia fadas e duendes; antes da morte de um grande homem podia-se ouvir um terrível lamento — era o cântico fúnebre do espírito que chamavam de banshee. Entretanto, o que ele sentia, embora suspeitasse de imediato que podia ser um espírito, não era nada dessas coisas. Não tinha qualquer forma; não era nem mesmo uma névoa flutuante. Mas, apesar disso, sabia que se movia ribanceira acima em sua direção, como se viesse com uma intenção definida.
A sombra invisível passou perto dele e Morann sentiu uma curiosa sensação de frio, antes de ela seguir adiante em direção ao monte e, ao chegar à pedra entalhada com espirais, penetrar nela.
Depois que o espírito se foi, Morann continuou completamente imóvel, fitando além do Boyne; e, embora não soubesse dizer como, ele sabia com certeza o que iria acontecer. Não sentia medo, mas sabia. E quando Harold voltou, algum tempo depois, ele lhe disse:
— Você não deve vir comigo. Vá para a sua fazenda em Fingal.
— Mas e Brian Boru?
— É a mim que ele quer. Pedirei desculpas em seu nome.
— Você me disse que era perigoso ficar na fazenda.
— Eu sei. Mas tive um pressentimento.
Na manhã seguinte, os dois cavalgaram juntos em direção ao sul, mas, ao chegarem à extremidade norte da Planície das Revoadas de Pássaros, Morann freou seu cavalo.
— É aqui que nos separamos, mas, antes disso, Harold, quero que me prometa uma coisa. Fique na sua fazenda. Não pode voltar para a companhia do rei O'Neill após Brian tê-lo convocado; em todo caso, creio que seus filhos estarão seguros o bastante com ele. Mas deve prometer não me seguir nesta batalha. Fará isso?
— Não quero deixar você — disse Harold. — Mas você tem feito tanto por mim que também não lhe posso recusar nada. Tem certeza de que é isso que deseja?
— É a única coisa que peço — disse Morann.
E, assim, Harold partiu para a sua fazenda enquanto Morann virava na direção oeste para procurar o rei Brian a quem ele acabara de negar a companhia de um homem de grande coração.
— O próprio monge deve levar o livro. O rei Brian foi taxativo — explicou o mensageiro. — Está pronto?
— Está — disse o abade. — Há dez dias. É uma honra para você, irmão Osgar. Espero que o rei deseje agradecer a você pessoalmente.
— Iremos a Dyflin, onde haverá a batalha? — perguntou o irmão Osgar.
— Iremos — respondeu o mensageiro.
Osgar entendia a necessidade do abade em obsequiar o rei Brian. Embora o rei de Leinster estivesse se preparando para um conflito que achava que podia vencer, nem todo mundo tinha tanta certeza assim do resultado. Abaixo das montanhas de Wicklow, através da planície costeira, os chefes ao sul de Leinster haviam fracassado em se juntar ao seu rei e aos homens de Leinster. Ainda que fosse uma das mais nobres do reino de Leinster, não se podia esperar que a desprotegida abadia de Glendalough insultasse o rei Brian recusando a dar aquilo que, em todo caso, lhe era devido.
Era a última sexta-feira antes da Páscoa, em meados de abril, quando o mensageiro chegou. Na alvorada da manhã de sábado, o mensageiro e Osgar passaram cavalgando pelo grande portão de Glendalough e seguiram para o norte pelo longo desfiladeiro que os levaria através das montanhas em direção a Dyílin. Ao chegarem aos altos espaços abertos, o céu estava azul. Aparentemente, seria um belo dia.
Com a brisa úmida batendo no rosto, Osgar lembrou-se subitamente do dia em que atravessara aquelas montanhas, tantos anos atrás, quando foi dizer a Caoilinn que entraria para o mosteiro. Por alguns momentos sentiu-se como se fosse novamente aquele mesmo jovem; a impetuosidade da sensação o surpreendeu. Pensou então em Caoilinn e seu coração disparou. Será que a veria?
Havia, porém, perigos lá embaixo, na planície do Liffey: ele se aproximava de um campo de batalha. Conseguiria entregar o livro a Brian e retirar-se em segurança, ou seria colhido por ela?
No dia seguinte era Domingo de Ramos: o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Um dia de triunfo. Ele entrara na Cidade Santa montado em um jumento; espalharam folhas de palmeira em Seu caminho, em sinal de respeito, entoaram Seus louvores, chamaram-no de o Messias. E, cinco dias depois, O crucificaram. Seria esse, perguntou-se Osgar ao atravessar as montanhas, o seu próprio destino? Estaria para descer daquele lugar deserto, ter suas orações entoadas por causa daquela pequena obra-prima e, então, ser abatido por um machado viking? Seria uma grande ironia. Ou, até mesmo lhe ocorreu, talvez calhasse de encontrar Caoilinn e, afinal, encontrar a morte heroicamente, salvando-a de uma Dyflin em chamas ou de um grupo de saqueadores vikings? Uma onda de calor acompanhou essa visão. Ele fracassara no passado, mas isso foi há muito tempo. Ele era outro homem.
E, realmente, de certo modo, Osgar era um homem mudado. O pequeno livro de Evangelhos era uma fulgurante obra-prima. Não havia dúvida de que o rei Brian ficaria encantado com aquilo. A paixão por Caoilinn que o havia produzido, que conduzira seu trabalho durante três meses, deixara Osgar em estado de elação. Sentia um desejo compulsivo de fazer mais, uma sensação de urgência que nunca vivenciara antes. Precisava viver para criar. Ao mesmo tempo, porém, também sabia, com um minúscula calidez de certeza, que, se fosse subitamente arrancado de sua vida mortal, teria deixado para trás uma pequena jóia rara, a qual, também aos olhos de Deus, esperava ele, parecia fazer valer a pena sua vida.
Percorreram o alto desfiladeiro, tomando o caminho que levava a noroeste. Ao cair daquela noite, eles já teriam descido a encosta, margeado a larga baía do Liffèy e atravessado o rio por uma pequena ponte a uns vinte quilômetros de Dyflin. O dia estava agradável, o céu de abril permanecia incomumente claro. Já passava da metade da tarde quando emergiram nas encostas do norte e viram abaixo, para o leste, a ampla magnificência do estuário do Liffèy e a imensa extensão da baía que se espalhava diante deles.
Então Osgar avistou as velas vikings.
Era a frota viking inteira, movendo-se em fila na curva norte da baía, passando o Ben de Howth e estendendo-se além para o alto-mar onde, finalmente, tornava-se indistinta em meio à névoa marinha. Velas redondas: ele podia ver que as mais próximas tinham cores vivas. Quantas velas? Contou três dúzias; sem dúvida havia mais. Quantos guerreiros? Mil? Mais? Nunca estivera diante de uma cena daquelas. Fitou horrorizado e sentiu um terrível arrepio de medo.
Não havia palmeiras em Dyflin, portanto, no Domingo de Ramos, os cristãos iam à igreja com todos os tipos de folhagens nas mãos. Caoilinn carregava um feixe de compridas e delicadas glicérias.
Foi uma estranha cena ver naquela manhã o fluxo de fiéis, gente de Leinster e Dyflin, os celtas irlandeses e os invasores nórdicos, carregando suas folhagens pelas ruas de madeira, observados pelos homens dos barcos vikings. Alguns dos guerreiros dos mares do norte eram bons cristãos, notou ela com um ar de aprovação, pois se juntaram à procissão. A maioria, porém, parecia ser ou pagã ou indiferente, e ficaram parados pelas cercas ou pelas passagens, apoiados em seus machados, observando, conversando ou bebendo cerveja.
Fora uma cena notável quando os seus barcos longos começaram a subir o rio, na tardinha anterior. As duas frotas haviam chegado juntas. O conde de Orkney trouxera consigo vikings de todo o norte, das Orkneys e da ilha de Skye, da costa de Argyll e do promontório de Kintyre. Da ilha de Man, entretanto, Brodar, o chefe guerreiro com uma cicatriz no rosto, trouxera uma medonha tropa, vinda, ao que parecia, dos portos de muitas terras. Louros nórdicos, dinamarqueses corpulentos; alguns eram brancos, outros escuros e morenos. Muitos, concluiu ela, nada mais eram do que piratas. Contudo, eram esses os aliados que seu rei de Leinster convocara para atacar Brian Boru. Caoilinn preferia que ele tivesse conseguido outros tipos de homens.
Ao seguir para a igreja, ela imaginou o que fazer. Estaria cometendo um terrível engano? Para começar, agora estava claro que sua mudança de volta à casa de seu irmão em Dyílin fora prematura e sem sentido. Dessa vez, o rei Brian não ligaria para Rathmines, pois estava vindo pelo outro lado do Liffey, bem longe. Seu filho mais velho já voltara naquela manhã à fazenda para cuidar da criação. Mas a verdadeira pergunta era: por que ela não tinha ido para junto de Harold? Seu filho fora categórico.
“Pelo amor de Deus”, dissera-lhe. “Você não tem queixas contra Harold. O homem não tem nada a ver com Brian Boru. Você já honrou a memória do meu pai mais do que o necessário. Já não fez o bastante por Leinster?”
Ela nem sabia ao certo onde Harold estava agora. Estaria em sua fazenda ou talvez com o rei O'Neill? Sua proposta fora clara. Ela deveria procurá-lo até a Páscoa, mas não depois. Se o homem fosse de algum modo um pouco razoável, pensou ela, alguns dias ou semanas não fariam diferença, mas havia algo na natureza do nórdico que indicava que ele não cederia. Por mais irritante que fosse, ela o admirava bastante por isso. Se ela o procurasse depois da Páscoa, a mente dele se fecharia por completo, como um pesado portão de madeira. A proposta não valeria mais. Ela tinha certeza.
Mesmo se ela pudesse aceitar o que ele fizera antes, mesmo se pudesse aceitar que a errada fora ela, Caoilinn não gostava que lhe dissessem o que fazer. Ao fazer a proposta da maneira como o fez, Harold afirmava sua autoridade e ela não conseguia enxergar uma saída. Seu orgulho ainda a impedia, e pretendia adiar a decisão o máximo possível até conseguir imaginar um meio de revidar.
Também estava um pouco nervosa. Até então ninguém perturbara Harold por causa de sua questionável posição. As pessoas sabiam que Morann garantira proteção para seu amigo, assim como, em troca, Harold aliviara os danos à propriedade dela. Agora, porém, haveria uma grande batalha; quem vencesse sofreria terríveis baixas. Se ela fosse vista deixando Dyflin agora para ir atrás de um homem sob a proteção de Brian, e os homens de Dyflin conseguissem derrotar Brian, eles não aceitariam cordialmente sua deserção. Poderia haver terríveis represálias. Por outro lado, se ficasse onde estava e Brian vencesse, ela poderia ficar presa numa Dyflin em chamas. Contudo, o pior aspecto da questão estava na insensível e cínica proposta que seu filho fizera antes de partir.
— Como uma família, seria melhor se tivéssemos um pé em cada acampamento, e portanto poderíamos ajudar um ao outro, qualquer que fosse o resultado. Eu estarei no acampamento de Leinster, é claro, mas se você for ficar com Harold...
— Está dizendo — falou asperamente — que quer que eu fique no acampamento de Brian?
— Bem, não exatamente. Só que Harold é amigo de Morann, e Morann... — Deu de ombros. — Não adianta, mamãe, pois eu sei que não vai.
Danem-se todos, pensou ela. Danem-se. Pela primeira vez em sua vida, Caoilinn não sabia realmente o que fazer.
A cerimônia religiosa do Domingo de Ramos já começara na igreja, quando a solitária figura seguiu seu caminho pelo cais de madeira em direção ao barco. Caminhava com o corpo ligeiramente curvado. Estava sozinho. Seus companheiros do barco viking estavam em outra parte. Eram, em todo caso, apenas companheiros daquela viagem; depois disso, talvez visse ou não novamente alguns deles. Era sempre assim com ele. Não tinha utilidade para amigos. Naquele momento, seu rosto exibia um sorriso torcido.
Ele vivera em muitos lugares. Seus três filhos foram criados em Waterford, mas brigara com eles alguns anos atrás e, desde então, raramente os via. Já eram crescidos. Não lhes devia nada. Uma coisa, porém, ele lhes dera, quando ainda eram crianças.
Andara negociando no pequeno porto do rio Boyne. Havia ali uma mulher com quem ficara algum tempo. E, porque era moreno, os falantes de celta do porto o chamavam de Dubh Gall — o estrangeiro escuro. Até mesmo as mulheres o chamavam assim: “Meu Dubh Gall”. Isso divertia seus companheiros do barco. Passaram a usar o apelido. E não demorou muito para que, mesmo no porto viking de Waterford, seus filhos fossem conhecidos como a família do Dubh Gall. O nome agora não o divertia mais. Seus companheiros no barco viking o chamavam pelo seu nome verdadeiro: Sigurd.
Nos últimos anos, ele levara uma vida de perambulações, às vezes trabalhando como mercenário. Chegara a Dyflin na noite anterior, com Brodar, que fora contratado pelos reis de Leinster e de Dyílin. E o motivo por estar sorrindo agora não era porque o pagamento e as perspectivas de pilhagem fossem excelentes, mas porque acabara de fazer uma agradável descoberta.
Harold, o norueguês, o menino ruivo aleijado, continuava vivo.
Nunca se esquecera de Harold; de vez em quando, através dos anos, o norueguês coxo surgia em sua mente. Mas houve muitos outros assuntos a tratar e o destino não os aproximara novamente. A natureza de seus sentimentos também havia mudado. Quando menino, sentira uma ardente necessidade de vingar o nome de sua família: o norueguês tinha de ser morto. Quando homem, seu antigo desejo se tornara temperado com crueldade. Sentia prazer em imaginar a dor e a humilhação que podia infligir ao jovem fazendeiro. Nos anos recentes, isso se tornara uma espécie de serviço inacabado, uma dívida não saldada.
Agora, porém, vira-se a caminho de Dyflin para lutar em uma batalha. As circunstâncias eram perfeitas. Naturalmente, durante a viagem, ele pensara em Harold. Mas foi somente quando pisou pela primeira vez no cais de madeira, onde haviam se encontrado pela última vez, que todas as sensações de sua juventude lhe voltaram subitamente como uma torrente. Era o destino, concluiu. O norueguês tinha de morrer. Quando isso fosse devidamente executado, pensou, voltaria a Waterford e procuraria seus filhos, que nunca souberam desse assunto, e lhes contaria o que fizera e por quê, e talvez até se reconciliasse com eles.
Não levara muito tempo em Dyflin para saber de Harold. No início, quando perguntara sobre um fazendeiro coxo, recebera olhares vazios; mas então um comerciante da Matadouro de Peixes sorrira em reconhecimento.
— Está se referindo ao norueguês? O proprietário de uma grande fazenda em Pingal? É um sujeito rico. Um homem importante. É seu amigo?
Embora tivesse negociado e lutado e roubado por todos os mares do norte, Sigurd nunca ficara rico.
— Ele era, há muitos anos — respondeu com um sorriso.
O comerciante logo contou o que ele queria saber: que Harold era viúvo, o tamanho de sua família, a localização da fazenda.
— Ele tem amigos poderosos — dissera o comerciante. — O rei O'Neill é seu protetor.
Quer dizer que ele pode lutar contra nós?
.— Não creio que ele faça isso. A não ser que seja obrigado. É possível que seus filhos lutem.
Se Harold e seus filhos estivessem na batalha, do outro lado, tanto melhor.
Avançaria na direção deles. Se não, durante ou após a batalha, ele os encontraria na fazenda. com sorte, poderia pegá-los de surpresa; mataria os filhos e encerraria a sua linhagem familiar. Seria de fato excelente levar consigo através dos mares não apenas a cabeça de Harold, mas também as de seus filhos.
Não era de admirar, então, que Sigurd exibisse aquele sorriso retorcido. Aguardava ansioso a batalha.
Morann chegou ao acampamento do rei Brian por volta do meio-dia.
O rei de Munster decidira acampar no lado norte do estuário. A leste ficava o promontório do Ben de Howth. A oeste, não muito distante, ficava o riacho Tolka, que descia para a margem do Liffey, um reduzido bosque e a pequena aldeia de Clontarf. “O campo dos touros”, era o que significava o nome da aldeia, mas, se houve antes quaisquer touros nos pastos, seus donos, prudentemente, os haviam retirado de lá antes da chegada do exército de Brian. Foi uma boa escolha. O chão, em declive, dava uma vantagem aos defensores, e quem se aproximasse de Dyflin através do Liffey ainda teria de atravessar o Tolka para chegar ao acampamento.
Ao entrar no acampamento, Morann teve sua primeira surpresa, pois, em vez de encontrar homens de Munster ou Connacht, a primeira parte do acampamento por onde passou consistia inteiramente de vikings nórdicos, cujos rostos medonhos ele nunca vira antes. Ao avistar um dos comandantes de Brian a quem conhecia, perguntou-lhe quem eram eles.
— São nossos amigos, Morann. Ospak e Wolf, o Brigão. Turmas de guerreiros, muito temidos nos mares, segundo dizem. — Sorriu. — Se o rei de Dyflin pode chamar amigos do outro lado das águas, o rei Brian está apenas devolvendo a cortesia. — Soltou uma gargalhada. — Tem de admitir, o velho não perdeu nada de sua astúcia.
— Eles parecem piratas — comentou Morann.
— Dyflin tem seus piratas e nós temos os nossos — rebateu o comandante, com satisfação. — O que for preciso para vencer, Morann: você conhece Brian. A propósito, onde está o rei de Tara?
— Está vindo — respondeu Morann.
Ele encontrou o rei Brian no centro do acampamento, em uma enorme tenda, sentado em uma cadeira forrada de seda. com a barba branca e o rosto profundamente marcado, o idoso rei parecia um pouco cansado, mas seu ânimo, como sempre, era aguçado e ele estava de bom humor. Morann desculpou-se rapidamente pela ausência de Harold. — Seu cavalo tropeçou, quando atravessávamos um riacho, e ele caiu. com sua perna aleijada, sabe como é, mandei-o de volta para casa. — E, embora o rei Brian lhe lançasse um olhar cínico, não pareceu ter muito mais coisas em mente para levar o assunto adiante. A primeira coisa que quis foram notícias do rei O'Neill, e escutou atentamente enquanto Morann lhe fazia um cuidadoso relato. Ao final, Brian pareceu pensativo.
— Então ele virá. Isso está claro. Ele disse que não podia me deixar à solta. Isso é interessante. O que acha que ele quis dizer?
— O que ele disse. Nem mais, nem menos. Não quebrará seu juramento, mas ficará ao largo da batalha e preservará suas próprias tropas, enquanto você cansa as suas. Ele somente intervirá se achar que você corre o risco de perder.
— Também acho isso. — Brian fitou a distância por um momento. Pareceu triste. — Meu filho comandará a batalha — comentou. — Estou velho demais.
— Ergueu os olhos para Morann com um lampejo de astuta ironia. — Serei eu, porém, que planejarei a batalha.
Certamente o velho rei parecia confiante. Já enviara à frente um grande destacamento de seu exército para incursões em regiões de Leinster que seu rei deixara desprotegidas. Conversou brevemente com Morann sobre essas investidas e então ficou calado; o artesão estava para ir embora, quando Brian subitamente alcançou uma mesa a seu lado e apanhou um pequeno livro.
— Veja isto, Morann. Já viu algo semelhante? — E, abrindo suas páginas, mostrou ao artesão as maravilhosas ilustrações que o monge de Glendalough fizera. — Chamem o monge — gritou e, pouco depois, Morann teve o prazer de ver Osgar. — Vocês se conhecem. Isso é bom. Ambos ficarão ao meu lado. — Sorriu.
— O nosso amigo aqui quer voltar para Glendalough, mas eu lhe disse para ficar aqui comigo e rezar pela vitória. — O irmão Osgar parecia bastante pálido. — Não se preocupe — disse-lhe o rei alegremente —, as escaramuças não chegarão até aqui. — Olhou travesso para Morann. — A não ser que, Deus me livre, suas preces fracassem.
Ao final do dia seguinte, eles viram chegar do norte o grande bando do rei de Tara. Montaram acampamento abaixo das encostas da Planície das Revoadas de Pássaros, a pouca distância, mas fora de vista.
Na manhã seguinte, o rei de Tara chegou com vários de seus chefes. Foram para a tenda de Brian e passaram ali algum tempo, àntes de retornarem. Naquela tarde, enquanto dava uma volta pelo acampamento, Brian avistou Morann.
— Fizemos o nosso conselho de guerra — colitou-lhe. — Agora temos de deslocá-los para combater em nosso solo.
— Como farão isso?
— Irritando-os. No momento, devem estar recebendo relatórios sobre os danos que minhas tropas estão causando atrás deles. Então eles verão as chamas aqui. Se o rei de Leinster pensa que vou destruir seu reino, ele não ficará muito tempo parado em Dyflin. Portanto, Morann — disse, sorrindo —está na hora de importuná-lo.
Harold viu a fumaça na manhã de quarta-feira. Não havia sinal de Caoilinn. Os incêndios pareciam vir da extremidade sul da Planície das Revoadas de Pássaros. Depois ele viu colunas de fumaça surgirem mais distantes, ao leste; em seguida, chamas irrompendo das encostas do Ben de Howth. À tarde, os incêndios se estendiam por todo o horizonte meridional. Ainda bem que Morann o convencera a voltar para a fazenda. Fez os preparativos que podia. Restavam ali poucos escravos, portanto ele os armou e, juntos, montaram uma barricada diante da casa principal — embora duvidasse seriamente que pudessem fazer alguma coisa no caso de aparecer um grupo invasor de qualquer tamanho.
Na manhã seguinte, os incêndios estavam mais perto. A brisa de sudoeste soprava a fumaça em sua direção. Por volta do meio-dia, viu fumaça à sua direita e depois atrás dele. O fogo o circundava. No início da tarde, avistou um cavaleiro, vindo a meio-galope em direção à fazenda. Parecia estar só. Parou na entrada e, cautelosamente, Harold foi até ele.
— A quem pertence este lugar? — gritou o homem.
— A mim — disse Harold.
— Quem é você? — indagou o homem.
— Harold, filho de Olaf.
Ah. — O homem sorriu. — Então você está bem. — E, girando o cavalo, foi embora. Mais uma vez, ao soltar um suspiro de alívio, Harold agradeceu ao” amigo Morann por protegê-lo.
Mas se a fazenda parecia estar segura, havia outros assuntos urgentes com os quais se preocupar. Ele deduzira que Caoilinn continuava em Dyflin. O exército de Bnan Boru e os incêndios estavam entre eles. Havia pouca chance agora de ela o alcançar. Se houvesse uma batalha e Brian vencesse, o mais provável seria que ele também incendiasse a cidade. O que seria então de Caoilinn? Mesmo se, como certamente parecia, ela decidira rejeitar sua proposta, ele realmente a deixaria numa cidade em chamas sem fazer qualquer tentativa de salvá-la?
Então, no final da tarde, surgiu uma pequena carroça na direção do portão e, amontoada nela, Harold viu a família de um fazendeiro que morava ao sul dali. Sua fazenda fora incendiada, eles estavam à procura de abrigo e, é claro, ele os acolheu. Havia alguma notícia sobre o que acontecia em Dyflin?, perguntou.
— Brian Boru e o rei de Tara estão frente a frente para a batalha — disse-lhe o fazendeiro. — Ela pode começar a qualquer momento.
Harold refletiu. Morann insistira tanto para ele permanecer na fazenda; e Morann sempre tinha bons motivos para o que fazia. Mas, pelo menos por enquanto, a fazenda estava a salvo; por outro lado, seus filhos estavam com o rei O Neill, que se preparava para guerrear. Conseguiria ele ficar ali em vez de ir lutar ao lado dos filhos? Não deveria pelo menos se armar e cavalgar na direção da batalha? Sorriu para si mesmo: houve um tempo em que ele treinara para se tornar um grande guerreiro.
Deveria manter sua promessa a Morann ou quebrá-la? Não tinha certeza. Naquela noite, limpou e afiou seu machado e outras armas. Então, por um longo tempo, permaneceu fitando o brilho dos incêndios no horizonte em meio à escuridão.
Sexta-feira da Paixão, 23 de abril de 1014
Um dos dias mais sagrados do ano. Eles saíram de Dyflin ao amanhecer.
Caoilin observou-os das ameias. Ela era apenas uma na gigantesca multidão. No dia anterior, vira temerosa quando um grande grupo de invasores teve a audácia de atravessar o Liffey por Ath Cliath, bem debaixo de seus narizes, e incendiar fazendas em Kilmainham e Clondalkin. Ficou preocupada que também pudessem ir a Rathmines, mas eles correram de volta pelo rio antes que os defensores de Dyílin conseguissem reunir um grupo de combate para detê-los. Os incêndios por Fingal e ao redor de Howth tinham sido ruins o bastante, mas essa recente humilhação fora demais. Dizia-se que a irmã do rei de Leinster lhe dera uma bronca por causa disso. Por mais encrenqueira que fosse a dama real, Caoilinn teve de concordar com ela. Durante a noite, os incêndios em Fingal e Kilmainham haviam se extinguido, mas não se sabia quais outros novos os homens de Brian poderiam iniciar. Foi quase um alívio, portanto, ver o exército pôr-se em movimento.
Foi, porém, uma cena aterrorizante. E o mais apavorante de tudo, a população de Leinster concordava, eram os vikings de além-mar.
Era a armadura deles. O povo celta da ilha não mais se desnudava para a batalha como faziam seus ancestrais. Os homens de Leinster que marcharam para fora de Dyflin vestiam compridos coletes de cores berrantes ou túnicas de couro acolchoadas sobre as camisas; alguns tinham capacetes, a maioria carregava o tradicional escudo pintado, reforçado com bossas de ferro. Contudo, por mais esplêndido que fosse esse equipamento de batalha, não se comparava com o dos vikings, pois estes vestiam cota de malha de ferro. Milhares de pequeninas argolas de ferro ou latão, fortemente trançadas e rebitadas, e usadas sobre uma camisa de couro, que se estendia até abaixo da cintura ou mesmo até os joelhos, a cota de malha era pesada e diminuía a velocidade do guerreiro, mas era dura demais para ser perfurada. Ao usar a cota de malha, os vikings apenas seguiam um costume que se expandira no Oriente e era agora comum na maior parte da Europa. Mas, para as pessoas da ilha ocidental, isso os fazia parecer estranhamente cinzentos, sombrios e perversos. Essa era a armadura usada pela maioria dos homens dos barcos longos.
Foi uma tropa imensa que marchou de Dyflin e atravessou a ponte de madeira. Apesar de sua armadura ser diferente, as armas portadas por Irish Gaedhil e Viking Gaill não eram tão diferentes assim, pois além das habituais lança e espada, muitos dos guerreiros celtas usavam machados vikings. Havia alguns arqueiros com aljavas de flechas envenenadas e várias bigas para transportar os homens importantes. A batalha, no entanto, era travada não por meio de manobras, mas por fileiras compactas em luta corpo-a-corpo. Ao observá-los partir, Caoilinn não tentou contá-los, entretanto lhe parecia haver bem mais de dois mil homens.
Ainda havia uma pálida névoa sobre a água quando eles atravessaram a ponte e por uma pequena distância do outro lado, parecia como se estivessem flutuando, como um exército de fantasmas, ao longo da margem oposta. À direita, bem mais longe, ela percebeu movimentos no acampamento de Brian Boru; e, nas encostas à distância, ela podia distinguir o indefinido amontoado do exército do rei de Tara.
A questão agora era: o que ela deveria fazer? O caminho estava aberto à sua frente. Após a passagem do exército, os portões da cidade foram deixados abertos. A ponte estava livre. Na margem oposta, o exército logo estaria a três quilômetros de distância ou mais e o acampamento do rei O'Neill ficava a uma distância semelhante. Se ela escolhesse o caminho da ponte, poderia pegar a antiga estrada para o norte e estar na fazenda de Harold em menos de duas horas. Assim que a batalha começasse, porém, quem sabia o que poderia acontecer? No mínimo, o caminho poderia ser bloqueado novamente. Essa poderia ser a sua última chance.
Deveria ir? Seu filho achava que sim. Queria ir? Nos últimos dias, ela quase não pensara em outra coisa. Se tivesse de ir embora para se casar com alguém, certamente não conhecia um homem melhor do que Harold. Também daria uma boa esposa para ele; e essa compreensão também era um atrativo. Ela o desejava. Era inútil negar. Ela o amava? Quando avistara a fumaça e as chamas em Fingal e pensara no nórdico e sua fazenda, sentira uma pontada de medo e um leve arrebatamento de ternura por ele, antes de lembrar a si mesma que, por estar sob a proteção do rei de Tara, ele e sua fazenda provavelmente estariam seguros.
Agora, porém, ao ver os homens de Dyflin seguirem para a batalha, decidiu que, fossem quais fossem seus sentimentos, ou a vontade de seu filho mais velho, seu dever era garantir a segurança dos filhos mais jovens. Devia ser calculista e, se necessário, fria.
Era Sexta-feira da Paixão. com sorte, a batalha seria decidida até o cair da noite. Se Brian Boru fosse derrotado, então o casamento com Harold seria uma tolice. Mas se vencesse, isso lhe deixaria apenas um dia antes da Páscoa para ir até o nórdico. Harold poderia ser morto, é claro. Talvez ele achasse oportunista o seu momento de agir. Isso não poderia ser evitado. Páscoa era Páscoa. Como mãe, havia apenas um caminho sensato a seguir.
Foi então que, pouco depois, a solitária figura de Caoilinn sobre uma égua cor castanha, seguida pelos dois filhos mais novos, cavalgou lentamente para fora de Dyflin e através da ponte de madeira. Uma vez do outro lado, ela seguiu a pista que subia até uma posição vantajosa em algum terreno elevado do qual pudesse observar os acontecimentos. Dependendo de como acabasse a batalha, ela poderia ir procurar o homem que amava, ou recuar discretamente de volta a Dyflin.
— Vamos rezar, crianças — pediu.
— Para quê, mamãe? — perguntaram.
— Para uma vitória decisiva.
A batalha foi organizada em três grandes linhas. No centro, a linha de frente era formada por homens da própria tribo de Brian, liderados por um dos seus netos; atrás deles vinha a hoste de Munster, com os homens de Connacht na terceira linha. Nas duas alas ficavam os contingentes nórdicos de Ospak e Wolf, o Brigão. Em oposição a eles, avançando através do Tolka, as forças de Leinster e Dyflin formavam semelhantes linhas de batalha.
Morann nunca vira algo parecido. Estava a apenas poucos metros de distância do rei Brian. Em volta do velho rei, sua guarda pessoal formara um cerco protetor, pronto para tornar seus escudos, se necessário, em uma parede impenetrável. O ligeiro declive lhes dava uma boa visão da batalha que aconteceria mais abaixo.
As linhas das tropas estavam tão densamente compactadas e eram tão extensas que parecia a Morann ser possível conduzir uma biga, de uma ala a outra, sobre seus capacetes. Ambos os lados haviam desfraldado seus estandartes de batalha, dezenas deles, que ondeavam na brisa. No centro da linha inimiga, uma enorme biruta na forma de um dragão vermelho parecia prestes a devorar as outras bandeiras, enquanto, acima do centro da linha de batalha de Brian, um estandarte com um corvo preto adejava como se grasnasse furiosamente.
Assim que o inimigo cruzou o Tolka, começaram os gritos de guerra, iniciando com os berros, de gelar o sangue, dos guerreiros isolados ou em grupos, que a seguir se transformavam em um único imenso bramido de uma linha, apenas para ser ecoado por um bramido em resposta vindo da outra. O bramido foi novamente ouvido quando as duas linhas avançaram. Em seguida, do centro celta surgiu a grande chuva inicial de lanças. Uma segunda chuva de lanças seguiu a primeira; e então, com um forte rugido, as duas linhas de frente correram adiante e, com um enorme estrondo, se chocaram. Foi uma cena terrível.
Morann olhou para o pequeno grupo no cercado. O rei estava sentado num largo banco coberto de peles. Seus olhos estavam fixados na batalha adiante, o rosto tão alerta que, apesar de suas rugas e barba branca, ele parecia quase jovem. A seu lado, à espera de uma ordem, permanecia um criado fiel. Atrás dele, o rosto agora mais pálido do que um fantasma, estava Osgar, o monge. Vários guardas que também permaneciam prontos para levar qualquer mensagem que ele desejasse enviar. Ele já enviara uma ou duas mensagens a seu filho orientando a disposição das tropas, mas agora, por enquanto, nada havia a fazer a não ser olhar e esperar. Se Osgar, o monge, parecia apavorado, Morann não podia censurá-lo. E se o inimigo rompesse a linha e avançasse na direção deles? Os temíveis vikings de Brodar, o de cicatriz na cara, pareciam avançar por um setor da linha. Mas, embora esta parecesse ceder, Morann viu que os estandartes do centro começaram subitamente a se deslocar, criando um abaulamento interno na linha ao seguirem na direção do local mais pressionado.
— Lá vai meu filho — observou Brian com tranqüila satisfação. — Ele é capaz de lutar com uma espada em cada mão — comentou para Morann. — Esquerda ou direita, ele ataca igualmente bem.
Em pouco tempo, o avanço dos homens de Brodar foi contido, mas logo ficou claro que nenhum dos dois lados conseguira uma vantagem decisiva. De vez em quando, parte de uma linha cedia terreno e tropas da linha que ficava atrás tomavam seu lugar. Podia-se ver guerreiros isolados, levando seus estandartes ou rodopiando para derrubar os inimigos à sua volta. Onde havia vikings envolvidos, Morann podia ver pequenos clarões quando os golpes atingiam as cotas de malha e produziam faíscas. Os gritos de guerra diminuíam à medida que o tempo passava. O som dos golpes fazia Morann estremecer. Osgar arregalava os olhos em uma espécie de horror fascinado. E Brian Boru pôde sentir, talvez, o medo palpável atrás de seu ombro, pois, após algum tempo, virou-se para o monge e sorriu.
— Cante um salmo para nós, irmão Osgar — pediu afavelmente —, já que Deus está do nosso lado. — De uma sacola ao seu lado retirou um pequeno volume. —Veja — acrescentou —, tenho aqui até mesmo os seus Evangelhos. Ficarei olhando-os enquanto você canta. — E, para espanto e admiração de Morann, foi exatamente o que fez o velho rei, pedindo fortuitamente ao seu criado: — Fique de olho na batalha e avise-se se acontecer alguma coisa.
Uma coisa, pensou Morann, que deveria ter acontecido, era que o rei de Tara, àquela altura, deveria ter-se juntado ao combate. Mas até o momento, ainda que não estivesse muito distante, ele não se mexera. O artesão nada falou sobre o assunto. Ao ver o rei Brian folheando calmamente o livro, jamais teria imaginado que ele ao menos contasse com isso.
Para sua surpresa, Morann não sentia muito medo. Não era por estar atrás da parede de escudos com o rei Brian, pois a batalha, com toda a sua fúria, estava distante apenas poucas centenas de metros. Não, ele percebeu, sua calma devia-se a algo mais. Era porque ele já sabia que ia morrer.
Passava do meio-dia quando Sirgud viu movimento à sua direita.
Ele procurara sem descanso por Harold, quando os dois exércitos se aproximaram. Embora Harold fosse um nórdico, Sigurd achava que seria mais provável que, se participasse da batalha, estaria com a própria tribo de Brian ou com os homens de Munster. Ou, então, poderia ser um dos homens que protegiam o rei em pessoa. Contudo, ainda não vira sinal dele e, apesar de ter pedido a vários homens nos vários destacamentos que gritassem, se o vissem, não ouvira nada.
Até então ele matara cinco homens e ferira pelo menos uma dúzia. Escolhera uma espada de aço para aquela batalha. Em um confronto direto, achava melhor trespassar do que brandir uma espada. Embora boas lâminas fossem forjadas em Dyflin, as armas vikings continuavam sendo superiores a qualquer coisa feita na ilha celta, e a espada de aço temperado com dois gumes que ele comprara na Dinamarca era uma arma mortal. Sabia que aquela seria uma batalha difícil, mas já tinha ido além de suas expectativas e ele recuara agora, para um rápido descanso.
Perto da metade da manhã, uma fria brisa cortante surgira repentinamente do leste. No meio da batalha, ele mal a notara, mas agora ela o atingia no rosto. Era úmida, como borrifo do mar — exceto, deu-se conta subitamente, que não podia ser. Era quente demais. Era também pegajosa, irritando seus olhos. O sabor era salgado em seus lábios. Pestanejou, franziu o cenho e então praguejou.
Não era de qualquer mar. Cada vez que os cavaleiros à sua frente se chocavam, ele ouvia o forte som surdo de um golpe sendo desfechado, o choque enviava acima um pequeno borrifo de suor dos combatentes. E de sangue. E agora, como a espuma do mar, era uma mistura de sangue e suor que o vento carregava para seu rosto.
Brodar fora bastante pressionado por Wolf, o Brigão, e seus nórdicos. Aparentemente, recuava da linha de batalha para reagrupar. Tinha cerca de uma dúzia de homens com ele. Sigurd conseguia enxergar claramente o chefe guerreiro. Brodar estava parando para descansar.
Ou não? Sem ser visto pelos seus companheiros que combatiam à sua frente, o grupo começava a se afastar na direção do pequeno bosque perto da aldeia.
Sigurd não era um covarde; mas seu motivo para estar ali era sincero. Não ligava a mínima se Munster ou Leinster vencesse. Não fora ali para morrer, mas para lutar e ser pago por isso; e Brodar pagava. Se o guerreiro de cicatriz na cara ia se abrigar no bosque, então Sigurd também iria. Começou a segui-lo.
Harold observava cuidadosamente. Corria a metade da tarde e ele fora ver como iam as coisas.
Saíra cavalgando ao amanhecer e se postara em um ponto elevado de onde podia enxergar o acampamento do rei de Tara e a batalha em Clontarf. Estava completamente armado e se decidira por um plano seguro. Se o exército de O'Neill, no qual estavam seus filhos, começasse a se movimentar para a batalha, ele seguiria em frente para se juntar a eles. E, se visse o exército de Brian em debandada e Morann em perigo, então, apesar de sua promessa, ele avançaria e tentaria salvar o amigo.
Por toda a manhã ele observara. O rei de Tara não se movera. Como de costume, pensou, seu esperto amigo previra os acontecimentos. Embora nenhuma das duas linhas de batalha tivesse cedido terreno, ele podia ver sinais de que Brian tinha a vantagem. Já vira um dos chefes guerreiros vikings evadir-se sorrateiramente. As fileiras dos homens de Leinster afinavam e, ainda que ambos os lados estivessem visivelmente diminuindo a velocidade, Brian ainda tinha reservas de tropas descansadas na terceira linha. Olhou um pouco mais longe. Os homens de Leinster cediam terreno.
Era seguro ir para casa. Deu meia-volta com o cavalo. Não fazia a menor idéia de que, em algum ponto atrás da linha de Leinster, Caoilinn também observava a batalha.
— Eles estão cedendo terreno — murmurou Morann.
— Ainda não acabou. — A voz do rei Brian era tranqüila. Ele havia se levantado e agora estava parado ao lado do artesão, inspecionando a batalha.
Brechas nas nuvens davam passagem a raios oblíquos do sol da tarde, que iluminavam pedaços de chão, e, no brilho amarelado, o campo diante deles, em alguns lugares, pareciam quase como mato chamuscado após um incêndio na floresta, com moitas de árvores danificadas ainda de pé em meio ao confuso emaranhado das que caíram. No centro, porém, o grande amontoado da batalha ainda era intenso. Não havia dúvida, a vantagem estava do lado deles, mas o combate era duro.
Brilhando no sol perto do centro, havia um estandarte dourado. Este estava preso ao porta-bandeira do filho de Brian. Às vezes a bandeira se movimentava de um lugar a outro da batalha. Embora Brian nada dissesse, Morann sabia que seu olhar estava fixo na bandeira. De vez em quando, emitia um grunhido de aprovação.
De repente, surgiu uma forte onda, quando uma outra bandeira do outro lado veio em direção a ela. O estandarte dourado, aparentemente ciente do movimento, também agitou-se naquela direção. Houve o som de gritos, um pequeno rugido, quando as duas bandeiras pareceram quase se tocar. Ele ouviu Brian assobiar entre os dentes, depois inspirar fundo. Uma demorada pausa se seguiu, como se toda a linha de batalha prendesse a respiração. Então surgiu do outro lado uma enorme vibração, seguida por um gemido dos homens de Munster. E, subitamente, como um vaga-lume que foi extinto, o estandarte dourado caiu e não mais foi visto.
Brian Boru nada disse. Fitou adiante, obviamente tentando ver o que acontecia na luta corpo-a-corpo. O estandarte de seu filho estava no chão e ninguém o levantara. Isso só podia significar uma coisa. Ele estava morto, ou mortalmente ferido. Lentamente, o velho deu meia-volta, retornou ao seu lugar e sentou-se. Sua cabeça afundou no peito. Ninguém falou.
Lá embaixo, na linha de batalha, contudo, a morte do seu líder pareceu ter inspirado o exército com um desejo de vingá-lo. Lançou-se à frente. Por pouco tempo, o inimigo conseguiu oferecer uma última resistência, mas logo recuava, primeiro um setor da linha e depois outro, até toda a frente se romper e fugir na direção do estuário e do Tolka.
O criado de Brian e Morann se entreolharam. Nenhum deles queria importunar o rei naquele momento. Mas precisava ser feito.
— Os homens de Leinster cederam. Estão fugindo.
O velho teria ouvido? Era difícil dizer. Alguns dos guardas que formavam a parede de escudos estavam obviamente loucos para se juntar à luta, agora que o perigo para o rei passara. Após uma curta pausa, Morann decidiu falar por eles.
— Alguns dos guardas podem descer para acabar com eles? — indagou. Isso foi concedido com um aceno de cabeça. Poucos momentos depois, metade dos guardas desceu rapidamente para a água e o restante permaneceu em seus postos ao lado do rei.
Brian Boru continou sentado em silêncio, a cabeça baixa. Se acabara de obter a maior vitória de sua carreira, ele não parecia se importar. De repente, pareceu muito velho.
Enquanto isso, à beira da água, distante algumas centenas de metros, desenrolava-se uma cena realmente terrível. Os homens de Leinster e seus aliados haviam fugido para a margem, mas, ao chegarem ali, foram encurralados sem qualquer outra rota de fuga. Os que fugiram na direção oeste foram apanhados ao tentar cruzar o riacho. E nesses dois lugares foram massacrados sem piedade. Os corpos já se empilhavam no riacho e flutuavam pelo estuário.
O rei Brian Boru não olhava. Sua cabeça continuava abaixada, os ombros arriados pela dor. Por fim, virando os olhos tristemente na direção do irmão Osgar, fez sinal para que ele se aproximasse.
— Reze comigo, monge — falou baixinho. — Vamos rezar para o meu pobre filho. — Então Osgar ajoelhou-se a seu lado e eles rezaram juntos.
Sem querer perturbá-los, Morann foi até o limite do cercado e saiu. O restante dos guardas observava os acontecimentos lá embaixo perto da água. Estranhamente, embora estivesse a apenas centenas de metros distante, o massacre parecia distante, quase irreal, ao mesmo tempo que no pequeno cercado de Brian havia uma lúgubre quietude.
Então a batalha acabou e ele continuava vivo. Morann teve de admitir que estava surpreso. Estaria errada a inspiração que teve nas tumbas perto do Boyne?
Somente alguns momentos depois, ele viu o movimento à sua direita. Ninguém mais notara. Vinha do pequeno bosque que seguia até a aldeia. Agora, de seu ponto mais alto, emergia um grupo de vikings. Devia haver pelo menos uma dúzia deles. As pessoas próximas à água estavam de costas para eles. Os vikings estavam totalmente armados e corriam, rapidamente, na direção do cercado do rei Brian.
Ele soltou um grito.
Caoilinn vira o bastante. Não sabia dizer exatamente o que acontecia à beira da água, mas o resultado da batalha era evidente. Os homens de Leinster e de Dyflin haviam perdido e os homens de Brian iam massacrá-los.
— Venham, crianças — disse ela. — Está na hora de irmos. — Aonde, mamãe? — perguntaram.
Seguiram para o norte. A princípio, ela incitava seu cavalo a um meio-galope. Pareceria melhor, afinal de contas, se eles pudessem chegar à fazenda rapidamente, antes de a notícia da derrota de Leinster alcançar Harold. Ela poderia alegar que partira naquela manhã e fora retardada por tropas na estrada, em vez de admitir que havia esperado para ver o resultado da batalha. Também teria de instruir as crianças a contar essa história. Mas então sacudiu a cabeça e quase riu de si mesma. Que absurdo. Que insulto à inteligência de Harold, que degradante para ambos. Já que iam se casar, teria de haver mais honestidade do que isso.
Portanto, assim que ela teve certeza de que estavam livres de qualquer perigo, diminuiu a velocidade do cavalo para a de marcha. Aproveitaria o tempo. Era mais apropriado que tivesse a melhor das aparências.
Osgar já havia se levantado quando Morann retornou ao cercado. Os guardas, apanhados desprevenidos, ainda agarravam seus escudos e suas armas. Um deles deixara que Morann pegasse um machado, e o artesão colocou-se diretamente diante do rei. Osgar não tinha qualquer arma. Sentia-se impotente e nu.
Os vikings aproximavam-se. Ele podia ouvir suas passadas. Viu os guardas tensos. Ouviu-se uma pancada forte que quase o fez saltar de dentro da própria pele, quando uma espada viking atingiu um escudo levantado. Então ele viu os capacetes vikings — três deles, quatro, cinco. Pareciam imensos, surpreendentemente grandes, assomando sobre a parede de escudos. Seus machados baixavam estrondosamente. Ele viu um machado enganchar no topo de um escudo e rasgálo de cima a baixo, enquanto uma lâmina de espada era enfiada na barriga do defensor, fazendo com que este berrasse e logo definhasse num chafurdar de sangue. Outro guarda caiu, e mais outro, debatendo-se e mordendo a grama em sua agonia. Os vikings passaram. Três deles, dois com machados, um com uma espada, vinham direto para cima dele. Para seu horror, descobriu-se incapaz de se mexer, como se num sonho. Viu Morann corajosamente erguer seu machado e agitá-lo diante de um viking com cicatriz no rosto. com uma habilidosa finta, o viking evitou o golpe, ao mesmo tempo que seu companheiro, um homem moreno de cabelos negros, movimentou-se com tanta rapidez que Osgar mal viu acontecer o enfiar de uma comprida espada de aço temperado nas costelas de Morann, bem abaixo do coração. Osgar ouviu as costelas estalarem e então viu Morann afundar de joelhos, enquanto seu machado caía aos pés de Osgar. com toda a eficiência, o sujeito moreno colocou um pé sobre o ombro de Morann, puxou sua espada e o artesão caiu no chão. Osgar viu seu corpo estrebuchar à medida que a vida o deixava.
Por um momento, os vikings pararam. Olhavam para Osgar e Brian Boru.
Osgar não havia olhado para o rei. Para sua surpresa, descobriu que Brian continuava na mesma posição, desabado sobre seu assento, onde eles tinham rezado juntos. Havia uma espada apoiada no encosto do assento, mas Brian não se importou em apanhá-la. Até aquele momento, paralisado pelo medo, Osgar não se mexera; mas agora, diante da morte, em vez de terror ele sentiu uma inesperada ira. Ele ia morrer e ninguém, nem mesmo Brian Boru, o rei guerreiro, faria nada a respeito. O machado que Morann deixara cair estava a seus pés. Mesmo sem saber o que faria, ele o apanhou.
A parede de escudos desabara. O resto dos vikings seguia para o cercado, mas evidentemente o homem com a cicatriz no rosto era o líder, visto que todos se mantinham atrás dele. Em seguida, o homem moreno apontou sua espada para Brian e falou.
— Rei.
O líder olhou de Osgar para Brian, e então sacudiu a cabeça.
— Não, Sigurd. Padre.
— Não, Brodar. — Sigurd sorria ao apontar a espada para a barba branca de Brian. — Rei.
Então Brian Boru mexeu-se. Veloz como um clarão, com espantosa agilidade, alcançou a traseira do assento por cima da cabeça e pegou a espada que estava atrás dele; e quase no mesmo instante ela lampejou adiante, atingindo Brodar na perna. Quando a espada cravou, o chefe viking soltou um rugido e, com um forte movimento, baixou seu machado sobre o pescoço do rei, esmagando a clavícula e abrindo um enorme corte. Brian balançou, sangue jorrou de sua boca, os olhos arregalaram-se, seus joelhos se curvaram e ele caiu de lado.
Nesse momento, Sigurd avançou com sua espada larga de dois gumes. Em algum lugar atrás do viking moreno, Osgar ouviu alguém falar “padre”, porém ele mal notou. Ao vir na direção de Osgar, ele exibia um curioso sorriso. com seu machado apertado contra o peito, Osgar recuou. Lentamente, Sigurd levou a lâmina de sua espada até diante do rosto de Osgar, mostrando-a a ele.
Osgar tremeu. Ele ia morrer. Deveria aceitar a morte como um mártir cristão? Antes, ele não conseguira se forçar a matar. Mas e agora? Mesmo se erguesse o machado para atingir a cabeça de Sigurd, o pirata moreno mergulharia aquela medonha espada em seu peito antes mesmo que o machado começasse a descer.
Enquanto Osgar hesitava, Sigurd, sem ligar a mínima para o machado, deu dois passos até o monge e, baixando a espada para que a parte chata da lâmina acariciasse a perna de Osgar, levou o rosto tão perto do dele que seus narizes quase se tocaram. Seus olhos encararam os de Osgar com uma fria e terrível ameaça. Osgar sentiu a lâmina da espada subir lentamente pela sua perna. Meu Deus, o pirata iria enfiá-la, com uma força descomunal, em sua barriga. Ele veria as próprias entranhas jorrarem. E aí sentiu uma cálida umidade escorrer pelas suas pernas.
Então, de repente, sem aviso, abrindo bem a boca, como se fosse mordê-lo, Sigurd, o pirata, soltou em seu rosto um forte berro de gelar o sangue.
— Aarrgh! Aarrgh!
E antes mesmo que o terceiro fosse proferido, Osgar já se virara e saíra correndo, correndo para se salvar, correndo o mais depressa que sabia ser capaz, as pernas molhadas, o rosto gelado pelo terror. Nem mesmo ouviu as gargalhadas dos homens atrás dele enquanto corria em direção ao norte, distante de Sigurd, distante da batalha, distante de Dyílin. Não parou até chegar à extremidade da Planície das Revoadas de Pássaros e descobrir que não havia ninguém atrás dele e que tudo era silêncio.
Brodar sangrava muito; o golpe de Brian quase cortara ao meio sua perna. Perto da água, as tropas do rei de Munster ainda não haviam se dado conta do que acontecera com ele, mas não havia tempo a perder.
Sigurd olhou em volta. Quando Brodar apontara para o cercado e conduzira o grupo de ataque, Sigurd pensou que o chefe guerreiro procurava saque para pilhar. Isso era certamente o que queria Sigurd. Morann usava uma braçadeira de ouro e levava algumas moedas. Sigurd recolheu tudo num instante. Brian Boru usava um magnífico fecho no ombro. Por direito, era de Brodar, mas este não estava mais em condições de pegá-lo. Rapidamente, Sigurd soltou-o. Os outros membros do grupo roubavam o que podiam. Um deles pegou um rico damasco; outro, as peles sobre as quais o velho rei se sentara. Um terceiro apanhou um pequeno livro ilustrado dos Evangelhos que caíra no chão. Ele deu de ombros, mas, mesmo assim, o colocou em sua bolsa, supondo que deveria ter algum valor.
— Está na hora de ir — disse Sigurd.
— E Brodar? — perguntou um de seus homens.
Sigurd olhou de relance para Brodar. A parte inferior de sua perna pendia apenas por um fragmento de osso e tecido carnudo. O chefe guerreiro estava com uma cor cinza pálido; seu rosto parecia viscoso.
— Deixe-o. Ele vai morrer — afirmou. Não adiantava tentar voltar para Dyflin, mas alguns dos barcos que havia lá provavelmente estariam seguindo pela costa à procura de sobreviventes. — Eu encontrarei vocês na praia ao norte de Howth — avisou. — Se encontrarem um barco nosso, mantenham-no lá até o cair da noite.
— Aonde você vai?
— Tenho um assunto a resolver — disse Sigurd.
Foi apenas uma curta caminhada até as barracas do acampamento de Munster onde, Sigurd sabia, haveria muitos cavalos. Estava vigiado, portanto ele teve de agir furtivamente; mas logo avistou um cavalo amarrado a uma estaca e, desamarrando-o silenciosamente, conduziu-o para longe. Momentos depois, estava sobre seu lombo e seguindo para o norte. Sua espada pendia do cinturão a seu lado. Por enquanto, retirara o pesado capacete de metal e o deixara pendurado às costas pela correia. A brisa fresca em seu rosto era refrescante. Em um riacho, parou e desmontou por um momento para beber. Então, em velocidade de marcha, continuou cavalgando. Ainda havia algumas horas para a luz do dia. E, graças aos seus informantes em Dyflin, ele sabia exatamente onde ficava a fazenda de Harold.
Somente quando parou de correr, o irmão Osgar descobriu, para sua surpresa, que ainda segurava o machado.
Não havia qualquer perigo à vista no momento, mas quem sabia que ameaça poderia estar à espreita ali na paisagem? O machado era um tanto pesado, mas ele decidiu não largá-lo, ainda não. Onde procuraria refúgio? Nas proximidades, avistou uma fazenda incendiada. Nada de abrigo lá. De qualquer modo, aqueles piratas poderiam aparecer ali. No dia seguinte ou no próximo, quando tivesse certeza de não haver mais vikings por perto, iria a Dyflin; mas, no momento, continuaria até chegar a algum lugar seguro. Portanto, assim que recuperou o fôlego, ele foi em frente.
Passou por outra fazenda em escombros, atravessou uma área de terreno pantanoso, e acabara de emergir em uma pista com uma boa vista da região em volta, quando avistou a mulher e as duas crianças cavalgando a uma certa distância. Ao vê-las de relance pela primeira vez, ele sentiu um leve choque. A mulher parecia Caoilinn. Mal percebendo o que fazia, ele apressou o passo. Os três cavalos chegaram a uma ligeira elevação no terreno. No instante em que pararam, a mulher virou meio de lado e ele vislumbrou seu rosto. Era Caoilinn: tinha quase certeza. Chamou-a, mas ela não o escutou e, momentos depois, os três cavalos sumiram de vista. Ele começou a correr.
Elas haviam seguido a meio-galope por um terreno quase plano e estavam mais distantes dele quando as avistou novamente, mas conseguiu vê-las de relance durante algum tempo. Depois perdeu de vista. Continuou seguindo na mesma direção e, pouco depois, ao passar por um pequeno bosque, descobriu que tinha vindo ao lugar onde fora atacado pelos ladrões quando era jovem. De fato, momentos depois, viu estender-se à sua frente, a menos de uns dois quilômetros, uma grande fazenda. O enorme celeiro de madeira, os depósitos com telhado de palha e o salão, tudo permanecia de pé, intacto. Estavam, naquele momento, em uma larga área de luz solar e, banhados pela sua delicada luz vespertina, a ele pareciam brilhar como uma página com iluminuras. Era a fazenda de Harold. Um lugar de refúgio. Caoilinn deve ter ido para lá. Ele seguiu em frente, contente.
Em volta da entrada havia um gramado. Em sua crescente empolgação, ele sentiu uma nova energia em seus passos.
Aproximava-se do portão, quando a viu. Estava parada no espaço a céu aberto, diante do salão de Harold. As crianças esperavam perto dos cavalos. Ela olhava em volta. Aparentemente, não havia ninguém ali. Seus cabelos negros tinham caído sobre os ombros, do mesmo modo como o imaginara milhares de vezes. Seu coração disparou. Agora, como viúva, ela estava ainda mais bonita, mais cativante do que ele se lembrava. Apressou-se à frente.
Ela não o viu. Ainda parecia procurar alguém. Foi na direção do portão para olhar pelo lado de fora. Nesse momento, ele a viu indo em sua direção. Acenou. Ela fitou-o estupefata.
Ele franziu a testa, depois sorriu. Claro, uma figura imunda num hábito de monge, carregando um machado: ele devia ser uma visão estranha. Ela, provavelmente, não o reconhecera. Ele gritou.
— Caoilinn. É Osgar.
Ela continuou olhando. Parecia intrigada. Teria ela entendido? Em seguida, apontou para ele. Osgar acenou novamente. Ela sacudiu a cabeça, apontando mais uma vez, premente, para algo atrás dele; então, ele parou e virou-se.
O cavalo estava a apenas dez metros de distância. Tinha parado quando ele parou. Provavelmente viera marchando atrás dele, mas, na emoção de ver Caoilinn, ele não ouvira o som dos cascos na pista gramada. Sigurd o cavalgava.
— Bem, monge, voltamos a nos encontrar. — O pirata olhava fixamente para o monge, aparentemente imaginando o que fazer com ele.
Instintivamente, agarrado ao machado, Osgar começou a recuar. Sigurd levava seu cavalo lentamente à frente, acompanhando-o. A que distância do portão ficava a casa de fazenda? Osgar tentou lembrar-se. Não ousava olhar atrás de si. Conseguiria correr até lá? Talvez Caoilinn tivesse fechado o portão, deixando-o preso do lado de fora com Sigurd. De repente, deu-se conta de que o pirata falava com ele.
— Vá embora, monge. Não é em você que estou interessado. — Sigurd sorriu. —A pessoa que quero está naquela casa. — Gesticulou para que fosse embora. — Vá, monge. Fuja.
Osgar, porém, não fugiu, pois Caoilinn estava ali. A lembrança daquele dia infeliz, quando deixara Morann ir sozinho a Dyflin para salvá-la, lampejou em sua mente com amargor. Na ocasião, ele malograra em desferir um golpe. Preferira sua vocação de monge em vez dela, exatamente como vinha fazendo durante a maior parte de sua vida. E, agora, aquele demônio, aquele monstro, ia levá-la. Violentá-la? Matá-la? Provavelmente ambos. Chegara o momento. Ele precisava matar. Ele precisava matar aquele viking ou morrer na tentativa. Embora estivesse apavorado com Sigurd, o espírito guerreiro de seus ancestrais o incitava e, gritando “Feche o portão” bem alto para Caoilinn às suas costas, ele deu um passo para trás e, erguendo o machado sobre a cabeça, bloqueou a passagem.
Lenta e cuidadosamente, Sigurd desceu de seu cavalo. Não teve o trabalho de enfiar de volta o capacete na cabeça, mas desembainhou a espada de dois gumes. Não queria discutir com o monge, mas ele estava no caminho. Será que o idiota atacaria realmente? O monge não o sabia, mas sua postura estava totalmente errada. Seu peso estava distribuído de tal forma que uma de duas coisas poderia acontecer.
Sigurd faria uma finta, Osgar baixaria o machado e, encontrando apenas o ar, provavelmente cortaria fora a própria perna. Se não baixasse o machado, Sigurd daria um ligeiro passo para a direita e mergulharia sua espada direto no flanco do monge. Tudo acabaria antes de o machado estar a meio caminho de sua descida.
Osgar estava prestes a morrer, mas não sabia disso. Isto é, se tentasse lutar.
Mas será que tentaria? Sigurd não tinha pressa. Ergueu lentamente a lâmina de sua espada, mostrando-a a Osgar como já o fizera. O monge tremia como uma folha. Sigurd estava a dois passos dele. Subitamente, soltou um rugido. Osgar estremeceu. Quase deixou cair o machado. Sigurd deu mais um passo à frente. O pobre coitado do monge estava tão amedrontado que precisou fechar os olhos. No portão atrás dele, Sigurd podia ver uma mulher de cabelos negros e rosto pálido. Linda, fosse lá quem fosse. Ele mediu a distância. Não precisava nem mesmo fazer uma finta. Apertou a espada para desferir o golpe.
E, justo nesse momento, ele avistou Harold fazendo a volta pelo lado de fora da cerca da fazenda. Que sorte.
Osgar atacou. Ele enviara aos céus uma única e fugaz prece, semi-abrira os olhos, vira o pirata, apenas por um instante, desviara o olhar para longe e então soube que Deus, apesar de todos os seus pecados, lhe concedera uma chance. Atacou com toda a sua força. Atacou por Caoilinn, a quem ele amava, atacou por sua vida hesitante, suas chances perdidas, sua paixão nunca viabilizada. Atacou para pôr um fim em sua covardia e em sua vergonha. Atacou para matar Sigurd.
E matou. Distraído por um instante, o pirata só percebeu o golpe quando era tarde demais. A inesperada lâmina cortou através do osso, transpassando o crânio com um repugnante estalejar e salpicar de miolos, despedaçando a ponte de seu nariz e esmagando a mandíbula, antes de se enterrar com um baque surdo na espinha dorsal. A tremenda força do golpe forçou o corpo a cair de joelhos. Ficou ali ajoelhado por um momento, como uma estranha criatura com um machado por cabeça, o cabo estendendo-se à frente como um nariz de um metro de comprimento, enquanto Osgar fitava descrente o que criara. Então tombou.
Harold, que vinha de uma plantação ali perto, sem saber que tinha visitas, olhou a cena diante dele com grande surpresa.
Três semanas depois, Harold e Caoilinn se casaram em Dyflin. Por sugestão de Harold, foi uma cerimônia cristã, o noivo, com bom humor, deixou-se batizar pelo primo da noiva, Osgar, que também oficiou o casamento. Pouco antes da cerimônia, ele entregou silenciosamente à noiva o anel de galhada. Apesar dos muitos pedidos renovados, Osgar não assumiu o posto de abade no mosteiro da família, antes preferiu retornar à paz do seu adorado Glendalough. Ali preparou outro livro ilustrado dos Evangelhos, que ficou muito bom; mas carecia da genialidade do anterior, que se perdera.
A Batalha de Clontarf é legitimamente considerada a mais importante da história da Irlanda celta. Costuma ser descrita como o encontro decisivo entre o Celtic Gaedhil e o Nordic Gaill: o Brian Boru irlandês contra os vikings invasores, através da qual a Irlanda triunfou contra o agressor estrangeiro. Essa foi a tola propaganda de historiadores românticos. Embora ela possa muito bem ter dissuadido incursões posteriores dos vikings naquela época instável no mundo do norte, a própria Dyflin foi deixada nas mãos de seu governante viking, exatamente como antes. O componente nórdico nos portos da Irlanda permaneceu forte e as duas comunidades, as escandinavo-irlandesas como costumam ser chamadas, tornaram-se indistinguíveis.
O verdadeiro significado da Batalha de Clontarf foi provavelmente duplo. Primeiro, Clontarf e os acontecimentos que a cercaram deixaram clara a importância estratégica do porto mais rico da ilha. Sem nunca ter sido um centro tribal nem religioso, seu comércio e suas defesas significavam que, enquanto a manutenção da antiga Tara era simbólica, para governar toda a Irlanda, Dyflin é que era crucial.
Segundo, e tristemente, longe de ser um triunfo, Clontarf foi a grande oportunidade perdida da Irlanda, pois embora Brian Boru tenha vencido decisivamente a batalha, ele também perdeu a vida. Os descendentes de seus netos, os O'Brien, obteriam grande renome; mas seus sucessores imediatos foram incapazes de unir e manter unida toda a Irlanda como, por uma década, o fizera brevemente o velho. Vinte anos depois, o reinado supremo seria devolvido aos reis O'Neill de Tara; mas isso foi e permaneceu apenas como uma sombra cerimonial do reinado de Brian Boru. A Irlanda desunida, como a fragmentada ilha celta dos tempos antigos, sempre seria vulnerável.
E assim Brian Boru venceu, mas perdeu; e Harold, o nórdico, e Caoilinn, a celta, que não estavam apaixonados, casaram-se e foram felizes; Morann, o artesão cristão, tendo recebido uma advertência pagã, morreu em batalha como um guerreiro; e Osgar, o monge, matou um homem mau, ainda que não entendesse por quê.
Strongbow, 1167
A invasão que causaria oito séculos de dor à Irlanda começou em um ensolarado dia de outono no ano de 1167 de Nosso Senhor. Resumiu-se a três navios que chegaram ao pequeno porto meridional de Wexford.
Contudo, se alguém dissesse aos dois jovens, que ansiosamente desembarcaram juntos, que faziam parte da conquista inglesa da Irlanda, eles teriam ficado bastante surpresos. Pois deles um era um padre irlandês voltando para casa, enquanto seu amigo, embora devesse obediência ao rei da Inglaterra, jamais chamara a si mesmo de inglês em toda a sua vida. Quanto ao objetivo da missão, os soldados nos navios tinham vindo porque haviam sido convidados, e eram liderados por um rei irlandês.
De fato, muitos dos termos utilizados nos relatos sobre esses acontecimentos são enganosos. As crônicas irlandesas do período se referem à invasão como a chegada dos saxões — significando os ingleses —, não obstante o fato de que, por três séculos, grande parte da metade setentrional da Inglaterra tivesse sido colonizada por vikings dinamarqueses. Historiadores modernos referem-se ao evento como a chegada dos normandos. Isso, porém, também é incorreto, pois, embora o reino da Inglaterra tenha sido conquistado por Guilherme da Normandia em
1066, desde então ele havia passado, por intermédio de sua neta, ao rei Henrique II — que pertencia à dinastia Plantageneta de Anjou, na França.
Então quem eram essas pessoas — fora o padre irlandês — que chegavam em três navios a Wexíbrd, naquele ensolarado dia de outono? Eram saxões, vikines normandos, franceses? Na verdade, eram, em sua maioria, flamengos; e vinham de sua terra natal no sul do País de Gales.
O jovem padre estava entusiasmado.
— Assim que esse assunto estiver resolvido, Peter, você irá visitar a minha família, espero. Sei que ela terá prazer em recebê-lo — disse o belo e jovem padre.
— Aguardo isso com ansiedade.
— Minha irmã já deve estar com doze anos. Era uma criança esperta, linda, quando parti.
Peter FitzDavid sorriu consigo mesmo. Não era a primeira vez que seu amigo irlandês mencionava os encantos de sua irmã ou indicava que ela receberia um considerável dote.
Peter FitzDavid era um jovem de boa aparência. Seu cabelo castanho-claro era cortado curto e ele usava uma pequena barba com a ponta bem aparada. Os olhos eram azuis e muito separados. O queixo, quadrado e forte. Um rosto agradável, mas o rosto de um soldado.
Soldados precisam ser bravos, entretanto, ao se preparar para pisar em terra, Peter não pôde evitar de se sentir um pouco apreensivo. Seu medo não era tanto a possibilidade de ser morto ou mutilado, mas que talvez pudesse de algum modo cair em desonra. Havia, porém, um medo ainda maior espreitando em segundo plano, e era esse medo que, no futuro, o conduziria adiante. Era por causa desse medo que ele sentia a necessidade de ser bem-sucedido, de chamar a atenção de seu comandante e obter fama. Mesmo enquanto a margem se aproximava, as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Ele a entendia muito bem. O último penny de que ela pôde dispor fora gasto no cavalo e no equipamento dele. Nada mais restara. Ela o amava de todo o coração, porém nada mais tinha para dar.
“Que Deus o acompanhe, meu filho”, dissera quando ele partiu. “Mas não volte de mãos vazias.” A morte, pensou ele, seria melhor do que isso. Ele tinha vinte anos.
Chamar Peter FitzDavid de um cavaleiro numa armadura brilhante não ser correto. Sua cota de malha de ferro, herdada do pai e que fora reformada para caber nele, estava livre de ferrugem e, se não brilhava, pelo menos tremeluzia em suma, igual a muitos dos cavaleiros daquela época, Peter FitzDavid, que possuía pouco mais do que carregava, era um jovem em busca de sua fortuna.
E ele era flamengo. Seu avô Henry viera de Flandres, uma terra de artesãos, comerciantes e aventureiros situada nas ricas planícies entre o norte da França e a Alemanha. Ele fora apenas um da torrente de flamengos que fluíra pela Bretanha após a conquista normanda e se estabelecera não apenas na Inglaterra, mas também na Escócia e no País de Gales. Henry foi um dos muitos imigrantes flamengos a quem foram concedidas terras no sudoeste da península do País de Gales, o qual, por causa de suas ricas minas e jazidas de minérios, os novos reis normandos ficaram ansiosos para controlar. Mas a colonização do País de Gales não fora bem. Os orgulhosos príncipes celtas daquela terra não haviam se submetido facilmente e agora a colônia dos flamengos normandos estava com problemas. Vários castelos foram tomados; suas terras estavam ameaçadas.
A família de Peter foi especialmente atingida. Não era constituída de importantes vassalos do rei, com terras arrendadas em muitos dos vastos domínios dos Plantagenetas. Eram vassalos de seus vassalos. Suas modestas terras no País de Gales eram tudo que possuíam. E quando o pai de Peter, David, morreu, eles haviam perdido dois terços delas. O que restou era apenas o suficiente para sustentar a mãe de Peter e suas duas irmãs.
“Não terá nada para ampará-lo, meu pobre rapaz”, dissera-lhe seu pai, “exceto o amor de sua família, sua espada e o bom nome que lhe deixo.”
Quando Peter tinha quinze anos, seu pai lhe ensinara tudo o que sabia sobre a arte da guerra, e Peter era um completo espadachim. O amor de sua família era indiscutível. Quanto a seu nome, Peter amara o pai e, portanto, também o amava, pois, do mesmo modo que, na Irlanda celta, o termo “Mac” significava “o filho de”, na Inglaterra normanda, o termo francês “Fitz” tinha um significado semelhante. Assim, seu pai era conhecido pelo nome de David FitzHenry; e ele tinha orgulho de se chamar Peter FitzDavid. Agora estava na hora de procurar fortuna como soldado de aluguel.
A guerra sempre fora um negócio caro e especializado, um comércio administrado em bases temporárias, e, desse modo, os instrumentos da guerra sempre estiveram disponíveis para alugar. Armas e equipamentos eram negociados. Meios de transporte eram contratados para a ocasião. Apenas dois anos antes, os homens e Dublin — como os comerciantes de Dyflin costumavam chamar agora o grande Porto — haviam oferecido sua grande frota ao rei Henrique da Inglaterra, para uma campanha contra os príncipes celtas do País de Gales, um acordo que fracassou somente quando Henrique mudou de idéia.
Acima de tudo, porém, por toda a colcha de retalhos de terras tribais e domínios dinásticos de soberanos, a qual, desde a queda do organizado Império Romano, formava agora a maior parte da cristandade, eram homens armados que havia para se alugar. Quando Guilherme, o Conquistador, foi à Inglaterra, não liderou apenas seus vassalos normandos, mas toda uma coleção de aventureiros armados da Bretanha, de Flandres e outros lugares, a quem foram concedidas propriedades no país conquistado. Após sua derrota, um enorme contingente de guerreiros ingleses viajou através da Europa e formou o que era chamado de regimento saxão a serviço do imperador de Bizâncio. Aventureiros da Inglaterra, França e Alemanha já haviam participado de cruzadas para conseguir terras no reino de Jerusalém e outras colônias de cruzados na Terra Santa. Reis celtas, na Irlanda, vinham contratando vikings para lutar por eles havia anos. Não era estranho, portanto, que qualquer jovem do País de Gales, em busca de fortuna, procurasse o rei Plantageneta da Inglaterra, para ver se o poderoso monarca necessitava de um soldado de aluguel.
Quando Peter FitzDavid partiu, foi para o grande porto inglês de Bristol que viajou. Seu pai, em certa ocasião, ficara amigo de um comerciante de lá.
“Depois que eu me for”, seu pai o aconselhara, “você poderá lhe fazer uma visita. Talvez ele possa fazer algo por você.”
Bristol ficava distante mais de cento e cinqüenta quilômetros, através do imenso estuário do vigoroso rio Severn, que tradicionalmente separava a Britânia celta da saxônica. Peter levara cinco dias para alcançar o Severn, e mais metade de um dia cavalgando sua margem ocidental acima até um lugar onde havia uma balsa para travessia de cavalos. Ao chegar à balsa, entretanto, disseram-lhe que, por causa das velozes e complexas correntes do Severn, teria de esperar algumas horas. Olhando em volta, ele viu que na encosta logo acima havia um pequeno forte e, em um bosque de carvalhos ali perto, parecia haver algumas ruínas antigas. Indo até lá, sentou-se para descansar.
Era um lugar agradável, com uma excelente vista do rio. Sem pensar particularmente nisso, ele sentiu que as ruínas tinham uma atmosfera religiosa. E tinham realmente, pois o local onde se encontrava era o antigo templo romano Je Nodens, o deus celta da cura. Havia muito tempo a cristandade afundara deus como também seu templo: na Inglaterra, fora praticamente esquecido e, outro lado do mar, na Irlanda celta, sob o nome de Nuada da Mão de Prata, ele havia muito fora convertido pelos escribas monacais de uma divindade em um rei mítico.
E enquanto estava sentado ali, fitando a distante margem do outro lado do rio, algo atingiu Peter com uma terrível força dizendo-lhe que, quando atravessasse o rio Severn, ele deixaria tudo o que conhecia para trás. Quaisquer que fossem os problemas de sua família, o País de Gales era seu lar. Nunca vivera em qualquer outro lugar. Amava os verdes vales, o contorno da costa com seus afloramentos rochosos e angras arenosas. Embora falasse francês com seus pais, a língua de sua infância era o galês celta do povo do lugar, com quem ele crescera. Uma vez, porém, atravessado o Severn, as pessoas falariam inglês, do qual não conhecia uma só palavra. E, após chegar a Bristol e entrar em contato com o inglês, ele permaneceria naquele país ou iria mais além, atravessaria o mar e talvez nunca mais visse novamente sua terra natal? Por algum tempo sentiu-se tão triste que quase se virou e voltou para casa.
Mas não podia voltar para casa. Eles o amavam, mas não o queriam. E, no final daquela tarde, com o coração pesado, ele levou seu cavalo de batalha e seu cavalo de carga para a enorme balsa que o conduziria através do rio.
Entrar em Bristol, na tarde seguinte, foi como uma revelação. Ele vira alguns impressionantes castelos de pedra no País de Gales e enormes mosteiros, mas nunca antes se deparara com uma cidade. Depois de Londres, Bristol era o maior porto da Inglaterra.
Caminhou algum tempo pelas suas ruas movimentadas, antes de encontrar a casa que procurava e entrou nela com certo receio, pois o local tinha seu próprio caminho de acesso feito de pedra, um pátio pavimentado com pedras redondas e Arcado por prédios de madeira com frontão, e um simpático salão de teto alto. O amigo de seu pai, percebeu ele de imediato, era um homem rico.
tudo ficou ainda mais desconcertante quando, ao ser conduzido ao salão
Por um criado, percebeu que o comerciante não tinha muita certeza de quem era e e— Alguns segundos de aflição se passaram, enquanto o mercador lhe pedia não uma, mas duas vezes, para repetir o nome de seu pai. Finalmente, enquanto Peter sentia-se enrubescer, o homem pareceu lembrar-se de quem era seu pai, se bem que sem grande interesse, e perguntou-lhe em quê poderia ajudar.
Nos dois dias seguintes foram interessantes, mas nada agradáveis. O comerciante era um homem moreno. Seu pai fora um ostman, um dinamarquês e viera da Irlanda. Consigo trouxera o nome celta Dubh Gall — “o estranho escuro” —, que em Bristol pronunciavam Doyle. Embora nascido em Bristol, o comerciante não recebera nem um nome inglês nem um normando, mas, em vez disso, fora batizado como Sigurd. Contudo, ninguém usava seu primeiro nome Toda a Bristol referia-se a ele como Doyle.
O estranho escuro: ele era certamente isso. Escuro e calado. Foi, porém, bastante hospitaleiro: Peter recebera até mesmo um aposento inteiro só para ele, ao lado do salão. com Peter, como fazia com qualquer nobre ou comerciante importante, ele falava na refinada língua do francês normando. Mas falava pouco, e não sorria de modo algum. Talvez porque fosse viúvo, deduziu Peter. Talvez quando suas filhas casadas o visitassem, ou seus filhos voltassem para casa de seus negócios em Londres, ele exibisse um humor melhor. Mas, durante os dois dias que Peter passou lá, a conversa foi mínima. E já que os numerosos criados, cavalariços e subalternos só falavam inglês, ele se sentiu bastante solitário.
Na primeira manhã, Doyle levou-o ao porto. Visitaram seu escritório comercial, seu armazém, dois de seus navios perto dos cercados de escravos no porto. Doyle certamente continuava na total posse de seu vigor; seus olhos negros pareciam estar por todo os cantos; falava baixinho, mas as pessoas olhavam-no com apreensão e moviam-se rapidamente para obedecer as ordens que ele lhes dava. Ao final do dia, Peter aprendera bastante sobre o serviço do porto, a organização da cidade com suas cortes e conselheiros municipais, e seu comércio com outros portos, da Irlanda ao Mediterrâneo. Mas também concluíra que Doyle era um tanto amedrontador.
Esse sentimento foi reforçado por um pequeno incidente naquela noite. Ele e o comerciante tinham acabado de se sentar no enorme salão e os criados estavam para trazer a comida, quando um jovem com cerca de sua própria idade entrou e, após fazer uma respeitosa reverência para ambos, sentou a alguma distância deles. Doyle fez um ligeiro aceno com a cabeça para o jovem, grunhiu para Peter. «Ele trabalha para mim” e não tomou mais conhecimento dele. Ao jovem, que usava um capuz, o qual não removeu, foi servida uma taça de vinho, a qual não foi enchida novamente; enquanto o seu anfitrião continuava a ignorá-lo, o próprio jovem não ergueu a cabeça nenhuma vez, e Peter não soube como se dirigir a ele. Assim que acabou de comer, o rapaz foi embora; parecia deprimido. Eu também pareceria deprimido, se trabalhasse para Doyle, pensou Peter.
Foi tarde daquela noite, quando havia se retirado para os seus aposentos, que ouviu as vozes dos dois no pátio. Pelo menos foi a voz de Doyle, baixa e ameaçadora, que murmurou algo que ele não pôde captar, e depois: “Você é um idiota” Isso foi dito em francês. “Jamais conseguirá pagar.”
“Estou completamente sob seu poder.” A voz era de um jovem, urgente e lamentosa. Devia ser o rapaz que ele vira naquela noite. Isso foi seguido de um áspero murmúrio de Doyle. As palavras eram indistintas, mas o tom, ameaçador. “Não!”, gritou o jovem. “Não faça isso, eu imploro. Você prometeu.”
Depois disso, eles se afastaram e Peter não ouviu mais nada. Uma coisa, porém, ficou clara para ele: Doyle era sinistro e, quanto mais cedo ele fosse embora, melhor.
Na manhã seguinte, sem aviso, Doyle mandou que ele selasse seu cavalo, pegasse suas armas e o acompanhasse ao pátio de exercícios perto do portão oriental. Ali encontrou vários homens praticando esgrima e, após algumas palavras de Doyle, Peter foi convidado a se juntar a eles. O comerciante moreno observou-o durante algum tempo e então partiu calmamente, deixando que ele voltasse depois sozinho para casa. Peter só voltou a vê-lo à noite.
Foi nessa noite, entretanto, que Doyle comentou com ele, com seu habitual modo saturnino:
— Parece que haverá uma expedição. À Irlanda.
Se ninguém havia conseguido dominar toda a Irlanda desde a época de Brian Boru, não foi por falta de tentativa. Uma após outra, as grandes dinastias regionais tentaram obter supremacia; Leinster e o neto de Brian de Munster tiveram sua vez. Os antigos O'Neill viviam atrás de uma oportunidade para recuperar a glória passada. Na ocasião, a dinastia O'Connor de Connacht reivindicava o reino supremo. Mas ninguém havia realmente obtido o domínio, e as crônicas da época adotaram uma fórmula para descrever a posição da maioria desses monarcas: “rei supremo, com oposição,” Portanto, enquanto os governantes da imensa colcha “e retalhos da Europa começavam a amalgamar territórios em propriedades ainda maiores — os Plantagenetas agora controlavam um império feudal que comPreendia a maior parte do lado ocidental da França, como também a Normandia e a Inglaterra —, a ilha da Irlanda continuava dividida entre antigas terras tribais e chefes rivais.
A mais recente disputa irlandesa dizia respeito ao reino de Leinster.
Já havia algum tempo que a antiga província de Leinster vinha sendo controlada pela ambiciosa dinastia dos Fern, do sul, com Wexford fazendo parte do território. Mas o ambicioso rei Diarmait de Leinster fizera inimigos. Em particular humilhara um poderoso rei, O'Rourke, ao fugir com a esposa deste para se casar. Agora esse marido traído, juntamente com outros, se voltara contra Diarmait de Leinster e o forçara a fugir.
Foi uma surpresa e tanto para o Plantageneta rei Henrique, que se encontrava em seus domínios na França, quando lhe disseram:
— O rei Diarmait de Leinster chegou aqui para vê-lo. E foi com alguma curiosidade que ele retrucou:
— Um rei irlandês? Traga-o a mim.
A reunião foi certamente estranha: o monarca Plantageneta, louro, barba feita, rápido e impaciente em seus movimentos, vestido com túnica e calções, sofisticado, francês na língua e na cultura, cara a cara com o provinciano rei celta, com sua densa barba castanha e seu pesado capote de lã. Henrique, aliás, falava um pouco de inglês — uma façanha da qual não se orgulhava muito — mas nada de irlandês. Diarmait falava irlandês, nórdico e um pouco de francês. Não houve, porém, nenhuma dificuldade na comunicação. Para começar, Diarmait levara consigo um intérprete — de nome Regan — e, para socorrê-lo, os escreventes empregados por ambos os lados falavam latim, como qualquer clérigo instruído da cristandade ocidental. Os dois homens também tinham coisas em comum: ambos haviam fugido para se casar com a mulher de um outro; ambos tinham um relacionamento ruim com seus próprios filhos; ambos eram egocêntricos e cínicos oportunistas.
O pedido do rei Diarmait era simples. Ele fora expulso de seu reino e o queria de volta. Precisava reunir um exército. Não podia pagar muito por ele, mas haveria propriedades e terras a serem distribuídas, se ele fosse bem-sucedido. Era o acordo habitual sobre o qual fora assentada a então aristocracia de muitas partes da Europa, inclusive a Inglaterra. Ele também sabia, entretanto, que não podia recrutar homens em quaisquer domínios dos Plantagenetas sem a permissão de Henrique-
O rei Henrique II era um homem muito ambicioso. Já construíra um império e sua ocupação principal agora era tomar territórios do bastante incompetente rei da França, a quem ele se divertia em amedrontar. Por coincidência, dez anos antes, ele cogitara brevemente a possibilidade de anexar também a Irlanda, embora tivesse abandonado a idéia e seu interesse agora pela ilha fosse muito pouco. Mas ele também era um oportunista.
Está se oferecendo para tornar-se meu vassalo? — perguntou ele amavelmente.
Seu vassalo. Quando um rei irlandês reconhecia a supremacia de um monarca mais importante e se submetia a ele, “ia à sua casa”, como dizia a expressão. Oferecia reféns como garantia de seu bom comportamento e prometia pagar tributos. Quando, porém, um senhor feudal francês ou inglês se tornava vassalo de outro, as obrigações eram mais abrangentes. Ele não apenas devia serviço militar, ou pagamento no lugar disso, mas, quando morria, seus herdeiros tinham de pagar para herdar suas terras e, se a herança estivesse em disputa, o chefe supremo a decidia. Ao conquistar a Inglaterra, os normandos, além disso, conseguiram estabelecer um propósito ainda mais acentuado. Pois, se qualquer vassalo ali causasse problemas, o rei inglês podia tomar suas terras e dá-las a outro. Um vassalo feudal não podia, teoricamente, lutar ou viajar sem a permissão do chefe supremo. Além de tudo isso, Henrique Plantageneta vivia constantemente ampliando o poder real. Na Inglaterra, ele quis dar aos homens livres comuns o direito de passar por cima de seus próprios senhores e apelar diretamente por justiça às suas cortes reais. Foi o início de uma administração centralizada jamais sonhada pelo mundo informal dos reis celtas irlandeses.
Mas o rei Diarmait precisava de homens. Além do mais, ele sabia muito bem que, qualquer que pudesse ser a opinião do rei Henrique sobre vassalos feudais, a Irlanda estava muito além do alcance do monarca Plantageneta.
— Isso não será problema algum — disse ele.
E assim o acordo foi fechado. O rei Henrique da Inglaterra beneficiou-se pela primeira vez de um rei irlandês provincial que o reconhecia, embora cinicamente, como seu senhor supremo. Isso talvez não tivesse qualquer valor prático na ocasião. “Mas”, ele pôde frisar, “não me custou nada.” E o rei Diarmait conseguiu uma carta na qual o governante do esparramado império Plantageneta dava permissão para que qualquer de seus vassalos, se assim desejasse, lutasse por Diarmait.
Não houve uma corrida desenfreada. A perspectiva de ajudar um chefe provincial destituído, de uma ilha do distante mar do oeste, não tinha grandes atrativos. Contudo, um dos ilustres homens do rei Henrique — o poderoso lorde de Clare, mais conhecido pelos guerreiros como Strongbow — conheceu o exilado lrlandês e mostrou interesse. Strongbow era proprietário de terras em várias partes dos domínios Plantagenetas, mas as que possuía no sudoeste do País de Gale estavam sob pressão. Estava claro que o rei Diarmait estava pronto para deixá-la dar seu próprio preço.
“Você podia se casar com a minha filha e herdar todo o meu reino”, sugeriu intempestivamente. Como Diarmait tinha filhos e na ocasião não controlava sequer um metro do seu antigo reino, a oferta valia tanto quanto o seu juramento de fidelidade ao monarca Plantageneta. Mas Strongbow decidiu correr um risco calculado. Mandou o rei irlandês recrutar nos territórios ao sul do País de Gales dos quais era senhor supremo. Talvez pudesse ser reunido um contingente que serviria como um destacamento avançado. Afinal, concluiu consigo mesmo, se todos fossem mortos, não haveria nenhuma importância.
Fora sorte de Peter que Doyle tivesse se encontrado com Strongbow naquele dia, em uma das visitas periódicas do lorde ao grande porto que ficava bem perto de seus territórios. Strongbow estivera falando com um grupo de comerciantes sobre o desejo do rei irlandês de recrutar tropas na região.
— Há um jovem em minha casa, o filho de um amigo, que talvez gostasse de ir — mencionou o comerciante de Bristol. — Eu estava mesmo imaginando o que fazer com ele.
— Mande-o — disse Strongbow. — Diga a Diarmait que eu o escolhi.
E foi assim que Peter FitzDavid, tendo atravessado o mar em navios fornecidos por Doyle, viu-se desembarcar, com o rei Diarmait de Leinster e um contingente de guerreiros, em Wexford, naquele ensolarado dia de outono.
Os cavalos estavam agora vindo para a margem. De onde se encontrava na praia, Peter tinha uma boa visão do rei Diarmait, que já montara em um cavalo, e do lorde de Ia Roche, o nobre flamengo que dirigia as operações. Desembarcavam a uma certa distância da cidade de Wexford. Roche tomara o cuidado de estabelecer uma posição defensiva, mas ninguém até então saíra da cidade para desafiá-los. Tratava-se de um pequeno porto com modestos bastiões não muito diferentes dos que ele conhecera no sul do País de Gales. Comparado a um castelo apropriado ou à grande cidade de Bristol, não era nada: eles o tomariam facilmente. Por enquanto, porém, nada havia para Peter fazer a não ser esperar.
— Bem, então adeus. — Seu amigo despedia-se. Enquanto os soldados montavam acampamento, chegou a hora de ele partir. Durante a viagem que fizeram os Peter tivera motivo para ser muito grato ao jovem padre Gilpatrick. Era apenas cinco anos mais velho, porém sabia muito mais do que ele. Passara os últimos três anos no famoso mosteiro inglês de Glastonbury, sul de Bristol, agora voltava para casa em Dublin, onde seu pai lhe conseguira um cargo como arcebispo. Embarcara no navio para Wexford porque queria subir a costa até Glendalough, para uma curta estada no santuário, antes de chegar a Dublin. Vendo que Peter era jovem e talvez solitário, o bondoso padre passara muito tempo em sua companhia, aprendera tudo a seu respeito e, em retribuição, havia-lhe contado sobre sua família, a Irlanda e seus costumes.
Sua erudição era impressionante. Desde a infância, falava irlandês e nórdico, e também se tornara um bom estudioso de latim. Enquanto esteve em Glastonbury, na Inglaterra, havia se familiarizado com o inglês e o francês normando.
— Suponho que eu poderia ser um latimer,,. é como nós, os padres, chamamos um intérprete — dissera com um sorriso.
— Você deve ser melhor do que Regan, o intérprete do rei Diarmait — sugeriu Peter com admiração.
— Ah, eu não diria isso. — Gilpatrick riu, se bem que nada aborrecido. Ele garantiu a Peter que seria capaz de aprender sem muita dificuldade o celta que os irlandeses falavam.
— As línguas da Irlanda e do País de Gales são como primas — explicou. — A principal diferença é uma única letra. No País de Gales, quando vocês fazem o som de “p”, nós fazemos um som de “q”. Portanto, na Irlanda, por exemplo, quando nos referimos ao “filho de”, dizemos “Mac”. No País de Gales, vocês dizem “Map”. Há muitas diferenças, é claro, mas em pouco tempo você descobrirá que pode facilmente entender o que é dito.
Fez a Peter um breve relato sobre Dublin — para Peter, quando o irlandês Pronunciava o nome, este soava mais como “Doovlin”. Aparentemente, o porto irlandês era quase uma escala de Bristol. E ele explicou um pouco sobre a política da ilha.
— Seja qual for o sucesso que vocês consigam para o rei Diarmait contra seus inimigos, ele ainda terá de ir a Ruairi O'Connor de Connacht... ele agora é o rei supremo, sabe... e O'Connor terá que reconhecê-lo e fazer reféns, antes que Diarmait possa se chamar de rei de qualquer coisa na Irlanda.
Quanto às suas próprias ambições, estavam aparentemente associadas ao importante bispo de Dublin, a quem ele fora recomendado.
— Ele é um homem devoto, de grande autoridade — declarou Gilpatrick. Meu pai é ele mesmo um antigo clérigo, sabe. — Fez uma pausa. — Minha mãe também é parente do arcebispo Lawrence. É assim que o chamamos na Igreja. Nós latinizamos o seu nome para Lawrence o'Toole; em irlandês, seria Lorcan U Tuathail. Os UaTuathail são uma família de um principado do norte de Leinste Aliás, o arcebispo é, na verdade, também cunhado do rei Diarmait. Embora eu não saiba se este gosta muito dele...
Peter sorriu diante dessa complicada teia de parentesco.
— Isso quer dizer que sua família também é de príncipes? — indagou.
— Somos uma antiga família da Igreja — disse Gilpatrick e, ao ver Peter parecer um pouco intrigado, ele explicou: — O costume na Irlanda é um tanto quanto diferente do dos outros países. Há antigas famílias eclesiásticas, grandemente respeitadas, com vínculos a mosteiros e igrejas; geralmente essas famílias são aparentadas de reis e chefes cujas histórias recuam às névoas do tempo.
— Sua família é ligada a alguma igreja em particular?
— Nós mantemos o nosso mosteiro, como você diria, em Dublin.
— E a história de sua família recua às névoas do tempo?
—A tradição—disse Gilpatrick comovido — diz que o nosso ancestral Fergus foi batizado em Dublin pelo próprio São Patrício.
Foi a menção ao santo que levou Peter a fazer outra pergunta.
— Seu nome é Gilla Patraic. Isso significa “o Servo de Patrício”, não é mesmo? -É.
— Por que será que seu pai não lhe deu o nome do santo, sem qualquer acréscimo? Por que não apenas “Patrício”? Afinal de contas, o meu nome é apenas Peter.
—Ah. — O padre assentiu. — Isso é algo que você saberia, se passasse algum tempo na Irlanda. Nenhum bom irlandês jamais se chamaria Patrício.
— Não?
— Somente Gilla Patraic. Jamais Patrício.
E foi assim durante séculos. Nenhum irlandês da Idade Média ousaria tomar para si o nome do grande São Patrício. Era sempre Gilpatrick: o Servo de Patrício. E assim permaneceria por alguns séculos mais.
Ele era um belo jovem esbelto, moreno. Seus olhos cinzentos eram incomuns, pois eram curiosamente salpicados de verde.
Era difícil não gostar do padre, com sua bondade, o orgulho de sua família não muito oculto e o visível afeto que sentia por ela. Peter soube um pouco a respeito de seus irmãos, sua linda irmã e seus pais. Não entendia que espécie de antigo clérigo podia ser o pai do padre, já que era casado, nem o que queria dizer se referir ao “nosso” mosteiro, mas quando ia levantar esse assunto, o padre Gilpatrick entrou rapidamente em outro e Peter não quis pressionar mais a respeito do tema. Parecia claro não apenas que o amigável padre gostava dele pessoalmente, mas que, de modo algum, desaprovava a presença desses vassalos Plantagenetas em seu solo nativo. Peter não sabia por quê.
Foi, porém, numa noite, no navio, que Peter percebeu algo mais, um lado mais profundo do irlandês. Gilpatrick era um excelente harpista e sabia cantar. Mostrou ser versátil. Conhecia algumas baladas populares inglesas. Até mesmo cativou-os com uma atrevida canção de trovadores do sul da França. Mas, finalmente, quando a noite ia mais alta, ele retornou à música tradicional da Irlanda, e outro tipo de quietude baixou sobre seus ouvintes, apesar de muitos deles serem flamengos, enquanto as suaves melodias tristes emergiam das cordas e flutuavam adiante para assombrar as águas do mar. Depois, ele comentaria com o padre:
— A mim pareceu que estava ouvindo a sua alma. Seu amigo deu um discreto sorriso e respondeu:
— São melodias tradicionais. Foi a alma da Irlanda que você ouviu.
E agora o jovem padre caminhava rapidamente, distanciando-se. Peter observou-o até desaparecer de vista, então permaneceu na praia olhando os cavalos, erguendo os olhos de vez em quando para as colinas que se erguiam a distância e pensando consigo mesmo que o local não era de fato tão diferente do seu nativo País de Gales. Talvez, refletiu, eu venha a ser feliz se me estabelecer aqui. Quando surgisse a oportunidade, certamente faria uma visita ao padre e sua família em Dublin.
Portanto não ficou tão surpreso, meia hora depois, ao ver seu amigo retornar. O padre Gilpatrick sorria largamente. A seu lado, sobre um pequeno mas robusto cavalo, cavalgava uma esplêndida e rústica figura: tinha uma comprida barba cinzenta; sobre a cabeça usava um capuz que descia até o peito; vestia uma camisa frouxa, não muito limpa após sua viagem, e perneiras lanosas com pés. Se usava botas, Peter não conseguia enxergá-las. Cavalgava o pequeno cavalo em pêlo, sem sela, estribos ou esporas, as compridas pernas pendendo até os joelhos do animal. Parecia conduzir o cavalo com pancadinhas de um graveto torto. Seu rosto era curioso: com os olhos semicerrados e expressão sardônica, fazia Peter pensar em um velho e sábio salmão. Supôs que o sujeito fosse um pastor ou vaqueiro, a quem seu amigo contratara para guiá-lo montanha acima.
— Peter — anunciou o padre orgulhosamente —, este é meu pai.
Seu pai? Peter FitzDavid arregalou os olhos. O antigo clérigo? Peter conhecera homens que haviam feito votos de pobreza, mas não imaginava que o pai de Gilpatrick fosse um deles, nem que usasse qualquer tipo de roupa clerical. Não era ele um importante proprietário de terras? Não parecia com qualquer senhor de terras que Peter já tivesse visto. Teria seu amigo mentido sobre seu pai? Certamente que não. E, se tivesse, não o teria trazido de volta para encontrálo daquela maneira. Talvez o pai de Gilpatrick fosse um excêntrico de alguma espécie.
Saudou respeitosamente o homem mais velho e o irlandês dirigiu-lhe algumas palavras em seu idioma nativo, algumas das quais Peter entendeu; mas a conversa não foi além disso, e ficou claro que o pai do padre queria ir embora. Ao saírem, porém, Gilpatrick segurou Peter pelo braço.
— Você ficou surpreso com a aparência do meu pai. — Ele sorria divertido.
— Eu? Não. De modo algum.
— Ficou. Vi seu rosto. — Deu uma risada. — Não esqueça, Peter, que vivi na Inglaterra. Você encontrará uma porção de homens como meu pai aqui na Irlanda. Mas seu coração está no lugar certo.
— Claro.
— Ah... — Sorriu Gilpatrick. — Espere até ver a minha irmã. — Em seguida se foi.
— E então? — O padre Gilpatrick esperou até estarem a uma certa distância do porto de Wexford antes de pedir a opinião de seu pai.
— Um ótimo rapaz, sem dúvida — seu pai, Conn, admitiu.
— Ele é — concordou o padre. Espiou o pai para ver se o velho ia dizer mais alguma coisa sobre o assunto, mas pareceu que não. — Ainda não lhe perguntei como foi que você chegou aqui.
— Um navio de Bristol chegou a Dublin, semana passada. Soube que Diarmait tinha ido recrutar homens no País de Gales, a caminho de Wexford. Então vim dar uma olhada.
Gilpatrick fitou seu pai, desconfiado.
— Veio verificar se o rei Diarmait tomaria seu reino de volta.
— Você viu Diarmait no seu navio? — perguntou o pai.
— Vi.
Falou com ele?
— Um pouco.
O velho ficou calado por um momento.
Ele é um homem terrível — comentou tristemente. — Houve muitos em Leinster que não lamentaram vê-lo ir embora.
— Ficou impressionado com o que viu?
— Aqueles navios? — O pai franziu os lábios. — Ele vai precisar de mais homens do que esses, quando enfrentar o rei supremo. O'Connor é forte.
— Haverá mais, talvez, O rei da Inglaterra está por trás desse negócio.
— Henrique. Ele deu permissão. Apenas isso. Henrique tem outras coisas com que se preocupar. — Deu de ombros. — Há centenas de anos reis irlandeses vêm contratando guerreiros de além-mar. Ostmen, galeses, homens da Escócia. Alguns ficam, outros vão embora. Veja Dublin. Metade dos meus amigos são ostmen. Quanto a esses — olhou para trás, em direção a Wexford —, não há bastante deles. Até o ano que vem, a maioria estará morta.
— Estive pensando — arriscou Gilpatrick — que talvez Peter goste de conhecer Fionnuala.
O comentário foi recebido com uma pausa tão longa que Gilpatrick nem mesmo teve certeza se seu pai o ouvira, mas sabia muito bem que não devia forçar o assunto; por algum tempo, portanto, continuaram seu caminho em silêncio. Finalmente, o pai falou:
— Há coisas sobre sua irmã que você não sabe.
1170
— Você não vai fazer hoje nada estúpido, vai? — Una, de quinze anos, olhou nervosamente de relance para sua amiga. Era uma quente manhã de maio e aquele deveria ser um dia perfeito.
— Por que eu faria algo estúpido, Una? — Seus olhos verdes se arregalaram, inocentes, rindo.
Porque você costuma fazer, pensou Una; mas, em vez disso, falou:
— Desta vez, ele fala sério, Fionnuala. Vai mandá-la para a casa de seus pais.
— É isso que você quer?
— Você cuidará de mim.
Sim, pensou Una. Sempre cuido. E talvez não devesse. Fionnuala era adorável porque era engraçada e afável — quando não discutia com a mãe — e, de algum modo, quando se estava com ela, a vida parecia mais luminosa e mais emocionante, pois nunca se sabia o que aconteceria a seguir. Mas quando um homem tão bondoso quanto Ailred, o Peregrino, perdia a paciência...
— Eu vou ser boazinha, Una. Prometo.
Não, não vai, Una teria gritado. Não vai mesmo. E nós duas sabemos disso.
— Olhe, Una — berrou subitamente Fionnuala. — Maçãs. — E, com seus longos cabelos negros voando atrás de si, ela começou a correr pela pequena praça da feira na direção de uma barraca de frutas.
Como Fionnuala era capaz de se comportar daquele modo? Principalmente quando se levava em conta seu pai. Os Ui Fergusa havia muito tempo não eram mais poderosos na região, mas as pessoas ainda os olhavam com respeito. Seu pequeno mosteiro na encosta acima da lagoa negra fora fechado havia algum tempo e a pequena capela transformada em uma pequena igreja paroquial para a família e seus dependentes; mas, como chefe da família, Conn, o pai de Fionnuala, era o padre e era muito respeitado. com sua antiga posição e suas terras ancestrais na região, ele era tratado com cortesia tanto pelo rei de Dublin quanto pelo arcebispo. Por causa de sua alta e imponente presença e seu nobre modo de falar, Conn sempre atemorizara Una. No entanto, ela tinha certeza de que ele era bondoso. Não conseguia imaginá-lo tratando mal Fionnuala. Como Fionnuala podia pensar em fazer qualquer coisa para decepcioná-lo?
Sua mãe, reconhecidamente, era outra questão. Ela e Fionnuala viviam brigando. Queria que a filha fizesse uma coisa; Fionnuala queria fazer outra. Una, entretanto, não tinha certeza se devia culpar a mãe pelas constantes altercações. “Se eu fosse a sua mãe, eu lhe daria uns tabefes”, dissera várias vezes à amiga. Dois anos atrás, porém, o atrito na residência perto da pequena igreja tornara-se tão feio que se chegara à conclusão de que Fionnuala deveria morar durante a semana com Ailred, o Peregrino, e sua esposa. E agora até mesmo Ailred já estava farto.
Una suspirou. Seria difícil imaginar pessoas mais agradáveis. Todos em Dublin dotavam o rico nórdico, cuja família era havia muito tempo proprietária da grande fazenda nos arredores de Fingal. Sua mãe descendia de uma família saxã, que deixara a Inglaterra após a conquista normanda, e lhe dera o nome inglês de Ailred; mas ela tinha olhos azuis como seu marido, e Ailred parecia exatamente como seus ruivos ancestrais noruegueses. Era generoso e bondoso. E religioso.
Os irlandeses sempre fizeram peregrinações a locais sagrados. Havia muitos locais sagrados na Irlanda. Se atravessavam o mar, poderiam ir ao grande e distante santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Mas poucos, muito poucos, haviam percorrido todo o caminho da perigosa viagem à Terra Santa e, se alcançassem Jerusalém, entravam na Cidade Sagrada carregando uma folha de palma. Após a volta, essas pessoas passavam a ser conhecidas por “Palmers” (peregrinos). Ailred fizera isso.
E, aparentemente, Deus o recompensara. Além da grande fazenda em Fingal, ele possuía outras terras. Tinha uma esposa amorosa. Mas um dia seu único filho, Harold, saíra em peregrinação, segundo se dizia, e não regressara. Cinco anos tinham se passado. Não houve nenhuma notícia; e seus infelizes pais finalmente aceitaram o fato de que nunca mais o veriam. Talvez tenha sido para compensar essa perda que Ailred e sua resignada esposa fundaram um hospital num terreno que ele possuía do lado de fora do portão da cidade, por onde passava a antiga rota Slige Mhor que vinha do oeste. Como um peregrino, ele vira freqüentemente tais lugares, onde doentes podiam ser tratados e viajantes cansados podiam descansar; mas até então nunca houvera tal recurso em Dublin. Atualmente, ele e a mulher passavam ali a maior parte de seu tempo. Ele o batizou de Hospital de São João Batista.
Contudo, apesar de toda essa atividade, Una desconfiava que Ailred e sua esposa ainda eram solitários. Por isso, talvez tivesse sido esse o motivo, além da natural bondade de ambos, que os levou a aceitar Fionnuala em sua casa, quando, certo dia, o pai dela lamentava a dificuldade que tinha com a filha.
“Haverá o suficiente para mantê-la ocupada, ajudando-nos no hospital”, Aplicara Ailred. “Ela será como nossa filha.” E, assim, ficara tudo combinado. Aos sábados, Fionnuala voltava para a casa dos pais e passava o domingo com eles. Mas, de segunda a sexta, ela morava com Ailred e sua esposa e ajudava no hospital.
A combinação funcionara admiravelmente bem por quase uma semana.
Una lembrava-se muito bem do dia em que o Peregrino foi procurar seu pai. Fionnuala estivera no hospital apenas uma semana. “Mas é errado a criança ficar em nossa casa sozinha com uns velhos”, explicara o Peregrino. “Gostaríamos que ela tivesse companhia, uma menina da idade dela, mas que fosse sensível e pudesse ajudá-la.”
Por que todo mundo sempre a chamava de sensível? Una sabia que chamavam e achava que era verdade. Mas por quê? Seria simplesmente a natureza dela? Ou seria por causa de sua família? Quando sua irmã mais velha morreu e seus irmãos ainda eram pequenos, ela sabia que seus pais teriam de contar com ela. De certo modo sempre pareceu a Una que seu pai precisava dela mais do que tudo.
Kevin MacGowan, o ourives, não era forte. Com seu corpo pequeno e delgado, não havia muito o que se ver. E então havia o seu rosto: quando se concentrava em seu trabalho, torcia-o inconscientemente em uma careta, de modo que um dos olhos parecia ser maior do que o outro. Isso o fazia parecer como se estivesse sofrendo dores, e ela desconfiava que às vezes estava mesmo. Entretanto, no interior daquele corpo frágil, havia uma alma ardente. “Seu pai é um sujeito estranho, meio poético”, dissera-lhe certa vez uma amiga. “Só queria que ele fosse mais forte.” Outros também percebiam isso. Todos respeitavam o seu trabalho. Era nessas horas que Una gostava de observá-lo — quando trabalhava. Seus dedos, finos e ossudos como seu corpo, pareciam obter uma nova força. O rosto retorcido podia ficar tenso, mas os olhos brilhavam e ele se transformava em outra coisa, algo tão delicado que era quase como um espírito. Sem notar que ela o observava, ele trabalhava, absorto, e ela se enchia de amor pelo seu pequeno pai e desejava protegê-lo.
MacGowan. O nome da família fizera uma transição gradual através das gerações. Alguns escribas ainda escreviam MacGoibnenn, à antiga maneira, mas agora era quase sempre escrito e pronunciado MacGowan.
Nos últimos anos, o trabalho árduo do pai dela trouxera à família alguma prosperidade. Fora de Dublin os homens ainda mediam sua riqueza em gado. Mas a riqueza que Kevin MacGowan poupara era o pequeno mealheiro de prata que mantinha em um pequeno cofre. “Se acontecer algo comigo”, dizia a Una levemente orgulhoso, “isto proverá a família.”
Ele planejara tudo cuidadosamente para a sua família. A velha igreja no centro de Dublin fora elevada, alguns anos após a batalha de Clontarf, à categoria de catedral e desde então transformada em um prédio um tanto quanto nobre. A Europa Ocidental podia estar caminhando para o leve e delicado estilo gótico de arquitetura, mas, na Irlanda, o pesado e monumental estilo românico de épocas passadas, com suas altas paredes monótonas e grossos arcos plenos, ainda estava na moda, e a catedral de Dublin era um excelente exemplo. Com suas grossas paredes e teto alto, erguia-se acima da pequena cidade. Oficialmente era a Igreja da Santa Trindade, mas todos a chamavam de Igreja de Cristo. E era à catedral da Igreja de Cristo que, pelo menos uma vez por mês, Kevin MacGowan levava sua filha.
“Eis a verdadeira cruz na qual Nosso Senhor foi crucificado”, dizia, apontando para um pequeno pedaço de madeira encerrado em uma urna de ouro. A Igreja de Cristo estava se tornando famosa por causa de sua crescente coleção de relíquias. “Eis um pedaço da cruz de São Pedro, um pedaço do manto de Nossa Senhora e, ali, um fragmento da manjedoura em que Cristo nasceu.” A catedral possuía até mesmo uma gota do leite da Santa Virgem Maria, com o qual alimentara o menino Jesus.
Contudo, ainda mais reverenciados que esses objetos sagrados eram os dois tesouros que todo visitante de Dublin ia ver. O primeiro era um grande crucifixo que, como algumas antigas pedras pagas dos tempos primitivos, às vezes falava. E o maior de todos era o belo cajado que, contava-se, um anjo entregara a São Patrício, uma doação do próprio Jesus Cristo: tratava-se do famoso Bachall Iosa, o Báculo de Jesus. Era mantido em um santuário ao norte de Dublin, mas, em ocasiões especiais, era levado à Igreja de Cristo.
E enquanto ela fitava admirada essas maravilhas, seu pai lhe dizia: “Se algum dia a cidade correr perigo, Una, deveremos trazer o cofre para os monges da catedral. Em sua guarda, ele estará tão seguro quanto essas relíquias que vê diante de você.” Ambos se sentiam confortados em saber que seu pequeno tesouro terreno estaria protegido pelos guardiões da cruz verdadeira e do Bachall Iosa de São Patrício.
Todos os dias, Una sabia, seu pai carregava consigo na mente o pensamento dessa caixa de prata como um talismã ou um amuleto de peregrino.
Graças a seus esforços, seu pai agora tinha um assistente, e sua mãe tinha uma escrava inglesa para ajudá-la na casa. Seus dois irmãos eram meninos saudáveis, vivazes. Não havia razão, portanto, para que Una não pudesse passar três dias por semana no hospital de Ailred, o Peregrino, o qual, em todo caso, ficava a apenas poucas centenas de metros de sua própria casa. E, em pouco tempo, ela estava vindo às segundas e voltando às sextas. Visto que era exigido que Fionnuala passasse os domingos com seus pais, isso significava que o Peregrino e sua esposa tinham de mantê-la sob controle apenas um dia por semana, o que, corajosamente declararam, não era nenhum problema.
Era realmente um casal adorável, o alto nórdico ruivo e sua tranqüila e mater-nal esposa de cabelos grisalhos. Una imaginava o golpe que devia ter sido a perda do filho deles, Harold; ela nunca tocava no assunto, nem eles. Mas, certa ocasião, quando dobravam cobertores no hospital, a mulher mais velha sorriu afavelmente para ela e disse: “Sabe, eu também tive uma filha. Ela morreu quando tinha dois anos; mas se tivesse sobrevivido, acho que seria exatamente como você.” Una sentiu-se muito comovida e honrada. Às vezes, ela rezava para que, afinal de contas, o filho voltasse para eles; mas, é claro, ele nunca voltou.
Una adorava o Hospital de São João Batista. No momento, havia trinta pacientes; os homens num dormitório, as mulheres em outro. Alguns eram idosos, mas nem todos. Ali cuidavam de todos os tipos de doentes, exceto leprosos, dos quais ninguém se aproximava. Havia muito o que fazer, alimentar e cuidar dos internos, mas, acima de tudo, Una adorava conversar com eles e ouvir suas histórias. Ela era uma figura popular. A reputação de Fionnuala era diferente. Podia ser engraçada, quando queria. Flertava inofensivamente com os homens idosos e fazia as mulheres darem risadas, Não era, porém, de sua natureza esforçar-se no trabalho. Era capaz de surpreender e encantar os internos, ao surgir repentinamente com uma deliciosa torta de frutas; no entanto, com muita freqüência, na metade de alguma tarefa tediosa, Una descobria que sua amiga havia sumido, deixando-a sozinha com todo o trabalho por fazer. E às vezes, se algo a irritava ou se achava que Una não estava dando atenção a ela, Fionnuala tinha subitamente um acesso de mau humor, largava o trabalho que estava fazendo e corria para outra parte do hospital, onde ficava emburrada. Nessas ocasiões, Ailred, o Peregrino, sacudia a comprida barba ruiva, virava-se para Una e dizia: “No fundo, ela tem bom coração, minha menina, embora faça bobagens. Devemos todos tentar ajudá-la.” Mas Una sabia muito bem que, embora eles tentassem realmente, eram os seus próprios esforços que geralmente davam um jeito em Fionnuala.
Os últimos meses haviam esgotado até mesmo a paciência do Peregrino. E, dessa vez, o problema não eram os acessos de mau humor, se bem que Fionnuala ainda os tivesse. Eram os homens.
Fionnuala sempre olhara para os homens, desde que era uma menininha. Ela os fitava com seus grandes olhos verdes e eles riam. Era parte do seu encanto infantil. Mas ela não era mais uma criança; era quase uma jovem mulher. Contudo, continuava olhando para eles, e não mais com o olhar arregalado de uma criança. Era um olhar firme, desafiador. Fitava os rapazes na rua, os velhos no hospital, os homens casados na feira bem diante de suas esposas, que já não achavam mais divertido. Foi, porém, um comerciante de fora, que estava internado no hospital após quebrar a perna, o primeiro a se queixar ao Peregrino. “Essa moça ficou de olho em mim”, disse ele. “Depois veio se sentar na ponta do banco em que eu estava e abriu a blusa para que eu pudesse ver os seus seios. Sou velho demais para brincadeiras com moças como essa”, falou para o Peregrino. “Se eu não estivesse com a perna quebrada, teria me aproximado e lhe dado um tapa.”
Na semana anterior, houve outra reclamação e, dessa vez, a esposa de Ailred a ouvira. Una nunca vira aquela mulher amável tão zangada.
— Você devia ser chicoteada! — bradou ela.
— E daí? — respondera Fionnuala calmamente. — Isso não me deteria. Ela quase foi mandada para casa de vez nessa ocasião, mas Ailred lhe dera mais uma chance. “Não quero saber de mais reclamações, Fionnuala”, disse-lhe ele, “de qualquer espécie. Se houver, você terá de ir para casa. Não poderá vir mais aqui.”
Isso abalou Fionnuala. Ficou muito quieta e compenetrada por um ou dois dias. Não demorou muito, porém, para retornar ao seu temperamento habitual; e, ainda que ela tomasse cuidado para não motivar quaisquer reclamações dos homens com os quais as duas se encontravam, Una podia ver o lampejo de travessura de volta aos olhos da amiga.
A feira na qual as duas garotas se encontravam agora ficava logo depois do portão ocidental. Em gerações recentes, as antigas defesas do tempo de Brian Boru haviam sido ampliadas na direção oeste e todas reconstruídas em pedra. Além da catedral que se erguia acima dos telhados de palha das casas de sapé da movimentada cidade, havia agora sete igrejas menores. Do outro lado do rio, no lado norte da ponte, também surgira um vasto subúrbio. Os reis irlando-nórdicos de Dublin governavam agora uma cidade murada tão impressionante quanto a maioria das cidades européias.
Apesar de não ser tão grande quanto a feira perto do cais onde os escravos eram vendidos, a feira ocidental era animada. Havia barracas de comidas de todos os tipos: carne, frutas e legumes. E havia uma variada multidão de pessoas apinhando o lugar. Havia comerciantes do norte da França: eles tinham sua própria igreja, chamada de Saint-Martin, que dava vista para o antigo lago de Dubh Linn. Havia uma colônia inglesa do movimentado porto de Chester que ficava a leste, do outro lado do mar da Irlanda. O comércio no Chester vinha crescendo em gerações recentes. Eles tinham uma igreja saxã no meio da cidade. Os marinheiros escandinavos tinham a sua capela, chamada de Santo Olavo, perto do cais. E havia freqüentemente visitantes da Espanha ou até mesmo de mais longe, acrescentando brilho e cor à praça da feira. A própria população nativa era agora composta de gente de várias procedências: sujeitos corpulentos com nórdicos cabelos ruivos e nomes irlandeses; homens de aparência latina que lhe diriam ser dinamarqueses, ostmen e irlandeses, Gaedhil e Gaill, mas a verdade era que mal se conseguia diferençar um do outro. Eram todos dublinenses. E tinham orgulho disso. Por essa data, havia de quatro a cinco mil deles.
Fionnuala estava parada perto da barraca de frutas. Una observava atentamente enquanto ia atrás dela. Estaria Fionnuala flertando com o barraqueiro, ou com as pessoas ali perto? Não parecia estar. Um belo e jovem comerciante francês caminhava em direção à barraca. Se Fionnuala o olhou, Una achava que não tinha adiantado. Mas, à medida que o rapaz se aproximava, pareceu-lhe que, pela primeira vez, Fionnuala não prestava atenção. Una disse uma rápida prece de agradecimento. Talvez hoje ela fosse se comportar.
Ficou vendo o que Fionnuala fazia, mas sem entender. Parecia a coisa mais natural do mundo. Tudo o que ela fizera foi esticar a mão e pegar uma enorme maçã da barraca, examiná-la e colocá-la de volta. Nada havia de estranho nisso. O jovem francês falava com o dono da barraca. Por alguns momentos, Fionnuala ficou por ali perto da barraca e depois foi embora. Una a alcançou.
— Estou entediada, Una — disse Fionnuala. — Vamos até o cais.
— Está bem.
— Você viu o que eu peguei? — Olhou para Una e deu-lhe um leve sorriso travesso. — Uma bela e suculenta maçã. — Enfiou a mão na blusa e tirou-a de lá.
— Onde você pegou isso?
— Na barraca.
— Mas não pagou.
— Eu sei.
— Fionnuala! Devolva isso imediatamente.
— Não posso.
— Por quê?
— Porque não quero.
— Pelo amor de Deus, Fionnuala! Você a roubou.
Fionnuala arregalou seus olhos verdes. Normalmente, quando ela fazia isso e exibia uma cara engraçada, era difícil não rir. Mas Una não ria agora. Alguém podia ter visto. Ela teve uma visão do barraqueiro correndo na direção delas, de Ailred sendo chamado.
— Dê para mim. Eu vou devolver.
Lenta e intencionalmente, os olhos ainda arregalados naquela falsa aparência solene, Fionnuala ergueu a maçã como se fosse entregá-la a Una; mas, em vez de ofertá-la, deu uma mordida. Seu olhar zombeteiro estava cravado em Una.
— Tarde demais.
Una girou nos calcanhares. Caminhou diretamente para a barraca, onde o barraqueiro acabara de falar com o francês, e apanhou uma maçã.
— Quanto custam duas? Minha amiga já começou a comer a dela. — Sorriu amavelmente e apontou para Fionnuala que a seguira. O barraqueiro sorriu para elas.
— Você trabalha no hospital, não é mesmo?
— Trabalho. — Fionnuala fitou-o com seus grandes olhos.
— Está tudo bem. Leve-as de graça. Una agradeceu e afastou a amiga dali.
— Ele nos deu as maçãs. — Fionnuala olhou de banda para Una.
— A questão não é essa e você sabe disso. — Caminharam um pouco mais além. — Qualquer dia desses, eu mato você, Fionnuala.
— Isso seria péssimo. Você não me ama?
— Essa também não é a questão.
— Sim, é.
— Você não sabe a diferença entre o certo e o errado, Fionnuala, e você vai acabar mal.
Por um momento, Fionnuala não retrucou.
— Espero que sim — disse ela.
Foi sorte que o pai de Fionnuala ignorasse seu comportamento, já que isso poderia estragar uma manhã muito agradável. Pois, ao mesmo tempo que as duas moças deixavam a feira com suas maçãs, aquele eminente clérigo caminhava com passadas cheias de dignidade em direção ao albergue onde morava agora seu filho Gilpatrick. Sua aparência era séria, pois havia um importante assunto de família a discutir. O assunto, porém, não era desagradável, a manhã era bela e ensolarada, e ele estava ansioso para ver Gilpatrick. Ao avistar o filho, ele ergueu seu cajado, numa saudação solene mas amistosa.
O albergue de São Kevin era uma pequena área cercada contendo uma capela, um dormitório e algumas modestas construções de madeira, que ficava a apenas duzentos metros ao sul do antigo mosteiro da família. Pertencia aos monges de Glendalough, que o utilizavam quando visitavam Dublin, e Gilpatrick residira ali nos últimos dois anos. Ele estava parado no portão e, ao ver seu pai se aproximar, avançou.
Haveria, porém, algo em seus modos, uma certa hesitação, que sugeria que não estava feliz em ver seu pai como deveria estar? Ao velho pareceu que sim.
— Não está contente em me ver, Gilpatrick? — indagou ele.
— Ora, estou. Claro.
— Isso é bom — declarou o pai. — Vamos caminhar.
Poderiam ter pegado a pista do sul, através dos pomares. Para o leste, transpondo uma ponte para pedestres sobre o riacho, teriam saído em uma ampla área de prados pantanosos, pontilhada por árvores. Contudo, em vez disso, pegaram a pista em direção ao norte, que seguia a suave curva do antigo terreno cercado do mosteiro da família, antes de continuar, passando pela lagoa negra, na direção do Thingmount e Hoggen Green.
Seguir por essa rota com seu pai, pensou Gilpatrick, era sempre como uma caminhada real. Assim que viam seu pai se aproximar, as pessoas sorriam e curvavam a cabeça com respeito e afeto, e seu pai agradecia como um verdadeiro chefe tribal dos tempos antigos.
E, de fato, Conn tinha provavelmente mais prestígio agora do que já desfrutara antes qualquer chefe dos Ui Fergusa. Sua mãe fora a última da família de Caoilinn que possuíra as terras em Rathmines. Por intermédio de sua mãe, portanto, os dois ramos dos descendentes de Fergus se juntaram, e ele herdou a estirpe da antiga casa real de Leinster. Além da antiga taça de caveira da família, sua mãe também incorporara, como dote, parte daquelas valiosas terras de Rathmines. Além do mais, pelo seu próprio casamento com uma parente de Lawrence OToole, ele estabelecera parentesco com um dos principados mais nobres do norte de Leinster. O povoado viking pode ter tomado o lugar de descanso final de Fergus e a Igreja pode ter usurpado muitas das áreas de pasto da região, mas o atual chefe dos Ui Fergusa ainda podia tocar o seu rebanho por um imenso trecho de terra que ia da faixa costeira às montanhas de Wicklow. Mais do que isso, as gerações de famílias do pequeno mosteiro deram aos chefes um papel sacro. E apesar de o pequeno mosteiro ter sido fechado e sua capela, transformada em uma igreja paroquial, o pai de Gilpatrick ainda era o vigário e, como tal, pensou seu filho, era aquele curioso fenômeno irlandês, o chefe druídico. Não era de admirar que seus paroquianos o tratassem com especial e carinhosa deferência.
Visto que temia a conversa que teriam, Gilpatrick ficou contente, enquanto caminhavam pela estrada, por seu pai parecer não sentir necessidade de conversar. Quando seu pai falava, era apenas para fazer perguntas ocasionais.
— Teve alguma notícia daquele seu amigo, FitzDavid?
A princípio, Gilpatrick ficara um pouco decepcionado por não ter tido qualquer notícia de Peter FitzDavid e, com o passar do tempo, quase se esqueceu dele. Talvez tivesse sido morto.
O avanço do rei Diarmait e sua tropa estrangeira fora lento. O rei supremo o'Connor e o'Rourke haviam ido a Wexford para enfrentá-lo; houve duas escaramuças, nenhuma delas muito decisiva. Diarmait fora forçado a ceder reféns ao rei supremo e pagar a o'Rourke uma grande multa em ouro pelo roubo de sua esposa. Ele tivera permissão de voltar às suas terras ancestrais ao sul, mas isso foi tudo. Por um ano ele permanecera ali e ninguém ouvira nem um pio dele.
No ano anterior, porém, ele conseguira obter outro contingente de soldados, maior ainda — trinta homens montados, cerca de cem homens por terra e mais de trezentos arqueiros. A tropa incluía vários cavaleiros de famílias proeminentes de que Gilpatrick ouvira falar, tais como FitzGerald, Barri, e até mesmo um tio do próprio Strongbow. FitzGerald e seu irmão haviam recebido o porto de Wexford, o que provavelmente não agradara aos ostmen comerciantes de lá; e, graças à mediação do arcebispo o'Toole de Dublin, o rei supremo concordara com um novo acordo.
“Mande-me seu filho como refém”, dissera a Diarmait, “e... excluindo Dublin, é claro... pode ficar com toda a Leinster.” Ao que acrescentou baixinho: “Se conseguir pegá-la.” Diarmait também teve de prometer que, assim que conseguisse garantir a posse de Leinster, ele mandaria novamente todos os seus estrangeiros de volta para o outro lado do mar.
Mas isso fora um ano atrás, e Diarmait ainda não se aventurara na parte norte da província. “Você não tem amigos aqui”, disseram-lhe firmemente.
— Duvido — comentou agora o pai de Gilpatrick — que você veja em breve o seu galês.
Viraram a curva para a rua acima da lagoa e olharam abaixo o antigo cemitério. Era, pensou Gilpatrick, uma agradável visão, pois outrora a área costeira de Hoggen Green ficara totalmente desolada, os espíritos dos mortos, talvez, quase livres demais para perambular o quanto quisessem, mas a Igreja agora colocara seus próprios santuários junto ao local, cercando os espíritos, por assim dizer, com barreiras invisíveis, de modo que, se eles quisessem perambular, teriam de ir na direção leste, passar pela antiga pedra viking e entrar nas águas do Liffey para serem levados pela enorme atração do estuário e do mar a céu aberto. A esquerda, logo após a lagoa ao lado do muro da cidade, ficava a pequena igreja de Santo André, acompanhada de uma pequena quantidade de casas de madeira. A direita, um pouco acima do Thingmount, ficava a área murada do único convento da cidade; e, no lado da ribanceira do Liffey, numa área pantanosa recuperada, um pequeno convento de frades agostinianos.
— Arrisco dizer — observou seu pai, apontando para o convento — que deveria colocar sua irmã ali.
— Não ficariam com ela — retrucou Gilpatrick com um sorriso.
Se ao menos sua irmã desobediente fosse o tema da conversa. Isso teria sido fácil. O verdadeiro assunto do dia, entretanto, ainda não fora mencionado; e caminharam para o velho cemitério e estavam quase no Thingmount quando, finalmente, seu pai fez alusão a ele.
— Está na hora de seu irmão se casar — falou.
Parecia um comentário inofensivo. Até o ano anterior, Gilpatrick fora abençoado com dois irmãos. Seu irmão mais velho, que fora casado alguns anos, vivera a vários quilômetros além da costa e cultivara a grande área de terra da família. Ele tinha adoração pela sua fazenda e raramente ia até Dublin. Seu irmão mais novo, Lorcan, que o ajudara na fazenda, continuava solteiro. Mas, no início no inverno anterior, após se resfriar durante o caminho de volta de uma viagem a Ulster, seu irmão mais velho havia contraído uma febre e morreu, deixando duas filhas com sua viúva. Ela era uma boa mulher e a família a amava. “É um tesouro”, concordavam todos. Tinha apenas vinte e três anos e era óbvio que devia se casar novamente. “Mas seria uma pena terrível perdê-la”, como dissera com muita sinceridade o pai de Gilpatrick.
E agora, seis meses após o triste acontecimento, surgiu uma solução que prometia ser satisfatória para todo mundo. Na semana anterior, seu irmão mais novo viera da fazenda e conversara com o pai. Um entendimento foi alcançado. Todas as partes estavam de acordo.
O rapaz se casaria com a viúva do irmão.
— Eu não poderia me sentir mais feliz, Gilpatrick — disse seu pai. — Eles vão esperar até passar um ano. Então se casarão com a minha bênção. E a sua também, espero.
Gilpatrick inspirou fundo. Havia se preparado para isso. Sua mãe lhe contara a respeito dois dias antes.
— Sabe muito bem que não posso — ele retrucou.
— Eles terão a minha bênção — repetiu o pai categoricamente.
— Mas você sabe — alegou Gilpatrick persuasivamente — que isso é impossível.
— Não, não sei — rebateu Conn. — Você mesmo sabe — prosseguiu num tom conciliador — que eles combinam perfeitamente. Têm a mesma idade. Já são os melhores amigos do mundo. Ela foi uma esposa maravilhosa para o irmão e o será também para ele. Ela o ama, Gilpatrick. Confessou-me isso. Quanto a ele, é um excelente rapaz, sólido como um carvalho. Um homem tão bom quanto foi seu irmão. Não pode haver qualquer objeção racional ao casamento.
— Exceto — disse Gilpatrick com um suspiro — que ela é viúva do irmão dele.
— Cujo casamento a Bíblia permite — disparou seu pai.
— Cujo casamento Jesus permitiu — corrigiu pacientemente Gilpatrick. — O papa, entretanto, não permite.
Tratava-se de um assunto muito polêmico. Realmente, o livro do Levítico consentia que um homem cumpridor dos deveres se casasse com a viúva do seu irmão. A Igreja medieval, porém, decidira que esse casamento era contra a lei canônica, e para toda a cristandade tais casamentos foram proibidos.
Exceto na Irlanda. A verdade era que as coisas ainda eram feitas de forma diferente no lado noroeste da cristandade. Casamentos celtas sempre foram questões fluidas, facilmente dissolvidas, e, mesmo se não aprovasse totalmente, a igreja celta aprendera sensatamente a se adaptar aos costumes locais. Os herdeiros de São Patrício não negaram as bênçãos do quatro vezes casado Brian Boru, seu leal protetor; e para um clérigo irlandês tradicional como Conn, tais objeções canônicas a essa questão da viúva de um irmão eram pequenos detalhes sem importância. Tampouco passou por ele qualquer sensação de deslealdade à sua igreja quando comentou, um pouco amargurado:
— O Santo Padre está muito longe daqui.
Gilpatrick olhou afetuosamente para o pai. De certo modo, parecia-lhe, o velho homem representava tudo que era de melhor — e de pior — na igreja celta-irlandesa. Meio chefe de clã por herança, meio druida, ele era um pároco exemplar. Era casado e tinha filhos, mas continuava padre. Esses arranjos tradicionais também se estendiam à sua renda sacerdotal. As terras com as quais antigamente sua família dotara o mosteiro — e Conn acrescentara também as valiosas terras de Rathmines — haviam sido transferidas para a paróquia e, portanto, agora pertenciam tecnicamente ao arcebispo de Dublin. Entretanto, como padre da paróquia, era seu pai quem recebia todas as rendas provenientes dessas terras, como também as das enormes propriedades da família pela costa. No seu devido tempo, Gilpatrick talvez o substituísse como padre e, com toda a probabilidade, um dos filhos de seu irmão, supondo que esse casamento anticanônico gerasse filhos, talvez tomasse depois o seu lugar. Assim era nas igrejas e nos mosteiros por toda a Irlanda.
E, claro, era um escândalo. Ou assim, pelo menos, pensava o papa em Roma.
Por isso, durante mais ou menos o último século, um grande vento de mudança vinha varrendo a cristandade ocidental. A velha igreja, sabia-se, tornara-se rica demais, profana demais, carente de ardor espiritual e de arrebatado envolvimento. Novas ordens monásticas que se dedicavam à simplicidade, como os cistercienses, estavam surgindo. As cruzadas foram lançadas para retomar a Terra Santa dos sarracenos. Os papas procuravam purificar a Igreja e ampliar sua autoridade, até mesmo emitindo ordens peremptórias a reis.
— Tem de admitir, papai — lembrou-lhe amavelmente Gilpatrick — que a igreja na Irlanda está atrasada em relação aos nossos vizinhos.
— Eu gostaria — retrucou seu pai tristemente — que jamais tivesse deixado você ir para a Inglaterra.
Pois um país em particular que sentira a força desse vigoroso novo vento fora o reino do outro lado do mar. Um século atrás, a antiga igreja saxã era notoriamente negligente. Quando Guilherme da Normandia iniciou sua conquista, obteve facilmente uma bênção papal ao prometer arrumá-la. Desde então, a igreja anglo-normanda vinha sendo um modelo, com arcebispos como o reformador Lanfranc e o piedoso Anselmo. Não que Gilpatrick fosse o único irlandês a pegar o contágio reformista lá. Um grande número de padres irlandeses passava um bom tempo nos grandes mosteiros ingleses como Cantuária e Worcester. Os contatos eclesiásticos eram em grande número. Por algum tempo, aliás, os bispos de Dublin até mesmo foram à Inglaterra para serem ordenados pelo arcebispo de Cantuária. “Embora só tenham feito isso”, observara com alguma verdade o pai de Gilpatrick, “para mostrar que Dublin era diferente do resto da Irlanda.” Como resultado, muitos dos principais clérigos da Irlanda agora percebiam que estavam em descompasso com o resto da cristandade e que precisam fazer algo a respeito.
— Em todo caso — disse o velho com irritação —, a igreja irlandesa já foi reformada.
Até certo ponto, ela o fora — a administração da igreja irlandesa vinha certamente sendo modernizada. As antigas dioceses tribais e monásticas foram redesenhadas e colocadas sob quatro arcebispados: a antiga base de São Patrício em Armagh, Tuam no oeste, Cashel em Munster e, finalmente, Dublin. O arcebispo o'Toole de Dublin estabelecera novas residências monásticas, incluindo uma na Igreja de Cristo, que seguia um rigoroso regulamento agostiniano, insuperável em qualquer parte da Europa. Em Dublin, pelo menos, muitas das paróquias agora pagavam impostos, conhecidos como dízimos, à Igreja.
— Demos a partida — disse Gilpatrick. — Mas muito ainda precisa ser feito.
— Então, arrisco dizer que você considera que a minha própria posição necessita de reforma.
Era um tributo ao respeito filial de Gilpatrick que este sempre conseguira evitar de discutir esse assunto com seu pai. Não havia necessidade de discutir algo que não iria mudar nada. Tinha sido a percepção de que a discussão do casamento de seu irmão pudesse levar a assuntos mais amplos que o fizera, em primeiro lugar, temer esse encontro com o pai.
— Seria difícil defendê-la fora da Irlanda— retrucou amavelmente Gilpatrick.
— Contudo, o arcebispo não fez qualquer objeção.
Uma das grandes maravilhas da regra de Lawrence OToole era que, como muitos grandes líderes, ele tinha o dom — não havia outra palavra para isso —— de viver ao mesmo tempo em dois mundos contraditórios. Desde sua volta, Gilpatrick recebera do arcebispo uma porção de tarefas e tivera a oportunidade de estudá-lo. Era um devoto — não havia dúvida a esse respeito — e Gilpatrick o venerava. OToole queria purificar a igreja irlandesa. Mas ele também era um príncipe irlandês, cada centímetro seu, uma alma poética, repleta de espírito místico. “E é o espírito que importa, Gilpatrick”, costumava lhe dizer o grande homem.
— Alguns dos nossos maiores clérigos, como São Colum Cille, eram príncipes reais. E se uma pessoa reverencia Deus por intermédio da liderança de seu chefe, certamente não pode haver mal nisso.
— Isso é verdade, papai — replicou agora Gilpatrick —, e enquanto o arcebispo não objetar, não direi uma só palavra sobre isso.
Seu pai olhou para ele. Pelo visto, Gilpatrick estava sendo conciliador. Mas não percebe, perguntou-se seu pai, o quanto essa resposta foi condescendente? Sentiu-se enrubescer de raiva. Seu filho estava sendo condescendente com ele, dizendo-lhe que toleraria sua posição na vida até quando o arcebispo a colocasse em questão. Era um insulto a ele, à família, à própria Irlanda. Sentiu-se como se tivesse sido insultado.
— Começo a perceber o que é que você quer para a Igreja, Gilpatrick—disse seu pai com uma perigosa suavidade.
— O que é, papai?
O homem mais velho olhou-o friamente.
— Outro papa inglês.
Gilpatrick estremeceu. Foi um golpe baixo, mas revelador. Na década anterior, pela primeira e única vez em sua longa história, a Igreja Católica tivera um papa inglês. Adriano IV fora pouco notável, mas pelo menos para os irlandeses, ele fizera algo que o tornou lembrado.
Aconselhara uma cruzada contra a Irlanda.
Houve uma ocasião, pouco depois de sua ascensão, quando o rei Henrique da Inglaterra cogitara brevemente invadir a ilha ocidental. Quer para agradar o rei inglês que porque fora enganado sobre o estado da igreja irlandesa pelos embaixadores de Henrique, o papa Adriano havia escrito uma carta informando ao rei inglês que ele iria realizar um serviço de utilidade na ilha “para ampliar a religião cristã”.
“O que se poderia esperar de um papa inglês?”, haviam se perguntado homens como o pai de Gilpatrick. Mas, embora o papa Adriano já tivesse agora partido desta vida, a lembrança de sua carta continuava causando ressentimento. “Nós, os herdeiros de São Patrício, nós que mantivemos viva a fé cristã e os escritos da Roma antiga, quando a maioria do mundo afundara diante dos bárbaros, nós que demos educação ao saxões, vamos ter de aprender uma lição de cristianismo com os ingleses?” Era assim que o pai de Gilpatrick vociferava quando surgia o assunto.
A carta do papa Adriano, é claro, fora uma afronta; Gilpatrick não negava isso. Mas essa não era realmente a questão. A verdadeira questão era mais ampla.
— Você fala como se houvesse algo como uma igreja irlandesa separada, papai. Mas há apenas uma única Igreja e ela é universal: essa é a sua grande força. Sua autoridade vem do único Rei Celestial. Você fala do passado, quando bárbaros lutavam sobre as ruínas do Império Romano. Somente a Igreja foi capaz de levar a paz e a ordem porque possuía uma autoridade única, espiritual, além do alcance de reis terrenos. Quando o papa convoca os cavaleiros de Cristo para uma cruzada, ele os convoca de todas as terras. Reis adversários põem de lado suas desavenças para se tornarem simultaneamente guerreiros e peregrinos. O papa, o herdeiro do próprio São Pedro, governa a cristandade sob o céu. Só pode haver uma única Igreja verdadeira. Não pode ser de outra maneira.
Como poderia ele transmitir a visão que o inspirava e a tantos outros de sua espécie — de um mundo onde um homem podia caminhar da Irlanda a Jerusalém, usando a língua comum latina, e encontrar em toda parte o mesmo império cristão, as mesmas ordens monásticas, a mesma liturgia? A cristandade era uma vasta máquina espiritual, um mecanismo de orações, uma irmandade universal.
— Eu vou lhe dizer o que penso — disse seu pai suavemente. — O que esses reformistas amam não é uma questão de espírito. É de poder. O papa não faz reféns como um rei; em vez disso, faz reféns espirituais. Pois, se um monarca o desobedece, o papa o excomunga e diz a seu povo, ou a outro rei com poderes para fazer isso, que ele deve ser deposto. Você diz que tais coisas são feitas para levar as nações da Terra para mais perto de Deus. Eu lhe digo que são feitas pelo amor ao poder.
Gilpatrick sabia que seu pai tinha razão. Houve muitos choques de idéias entre papas e monarcas, incluindo os reis da França, Inglaterra, e até mesmo o sagrado imperador romano sobre se as vastas terras da Igreja e seu exército de clérigos estariam sujeitos ao controle real. Naquele exato momento, o rei Henrique da Inglaterra estava envolvido em uma acirrada disputa com o arcebispo Thomas Becket de Cantuária sobre esse tema—e havia clérigos superiores na Inglaterra que achavam que o rei estava certo. A antiga tensão entre reis e padres era provavelmente tão velha quanto a história humana.
— E vou lhe perguntar mais uma coisa — disse seu pai. — Você viu uma cópia da carta do papa Adriano na qual ele diz ao rei para vir à Irlanda?
— Creio que sim. — A carta tornara-se amplamente conhecida.
— Qual é a condição que o papa impõe, o que deve fazer o rei da Inglaterra para obter uma bênção pela sua conquista? É mencionada não uma, mas duas vezes — acrescentou repulsivamente.
— Bem, há a questão do imposto, é claro...
— Um penny a ser tributado a cada residência da Terra e enviado a Roma anualmente. Os pence de Pedro! — bradou o velho. — É o dinheiro o que eles querem, Gilpatrick. O dinheiro.
— É apenas justo e apropriado, papai, que...
— Os pence de Pedro. — O homem mais velho levantou o dedo e olhou tão ferozmente para seu filho que Gilpatrick quase pôde imaginar que estava sendo repreendido por um druida de barbas brancas dos tempos antigos. — Os pence de Pedro.
Então, subitamente, o velho, desgostoso, afastou-se de seu filho. Se Gilpatrick não entendia mesmo agora, o que ele poderia dizer? Não era o dinheiro. Era o espírito da coisa que o ofendia. Será que Gilpatrick realmente não via isso? Por sete séculos, a Igreja irlandesa fora uma inspiração para toda a cristandade por causa de seu espírito. O espírito de São Patrício, de São Colum Cille, São Kevin e muitos outros. Missionários, eremitas, príncipes da Irlanda. Sempre lhe parecera que os irlandeses haviam sido tocados de alguma maneira especial, como o povo eleito da antigüidade. Fosse como fosse, o cristianismo era uma comunhão mística, não um conjunto de regras e normas. Não era o caso de ele ignorar os costumes de outros países. Conhecera padres da Inglaterra e da França no porto de Dublin. Mas sempre sentira neles uma mentalidade de legalidade, um amor pelos jogos lógicos que lhe causava repulsa. Homens como esses não pertenciam aos adorados silêncios de Glendalough; jamais conseguiriam produzir o Livro de Kells. Podiam ser padres, mas não eram poetas; e se eram sábios, então sua sabedoria secara.
Foi, portanto, com uma sensação de amargura íntima, mais do que apenas em relação ao filho, que o velho, agora parado diante do Thingmount onde o próprio Fergus estava enterrado, declarou veementemente:
— Você irá ao casamento de Lorcan, Gilpatrick, porque ele é seu irmão e ficará magoado se não for. Você também irá porque eu ordeno que vá. Está me entendendo?
— Papai, eu não posso. Não se ele se casar com a esposa de seu irmão.
— Então não precisa se preocupar — gritou-lhe o pai — em entrar novamente em minha casa.
— Por certo, papai... — começou Gilpatrick. Mas seu pai havia girado nos calcanhares e se afastado. E Gilpatrick sabia, tristemente, que era inútil segui-lo. Uma semana depois, o casamento foi anunciado. Em junho, foi realizado, e Gilpatrick não estava presente. Em julho, ao ver o pai na entrada da Igreja de Cristo, Gilpatrick foi na direção dele; mas seu pai, ao vê-lo se aproximar, foi embora, e Gilpatrick, após um momento de hesitação, decidiu não segui-lo. Agosto passou e eles não se falaram. Veio setembro.
E então surgiram outros assuntos, mais urgentes, para se ocupar.
Ainda estava tudo calmo, quando Kevin MacGowan acordou naquela manhã de setembro. O céu estava cinzento. Sua esposa já estava de pé; do forno, no quintal, vinha o leve cheiro de pão assado. A escrava varria perto do portão. Os dois meninos brincavam no quintal. Pela porta aberta, ele podia ver o vapor da respiração deles. O outono chegara a Dublin. O frio estava no ar da manhã.
Automaticamente, como sempre fazia, ele enfiou a mão debaixo da cama e sentiu o cofre. Estava ali. Gostava de dormir com ele por perto. Havia outro lugar, debaixo do forno, onde costumava escondê-lo. Somente sua mulher e Una sabiam disso. Era um ótimo esconderijo. Não tão seguro, talvez, quanto a catedral, mas habilmente disfarçado. Podia-se olhar ali uma centena de vezes e jamais adivinhar que se tratava de um esconderijo. Quando, porém, dormia em casa, ele mantinha a caixa debaixo de sua cama.
Olhou para o outro lado do quarto. No canto mais distante, nas sombras, pôde ver outra forma se mexendo vagarosamente. Era Una. Normalmente estaria no hospital, mas, em vista de todos os acontecimentos recentes, hoje ela preferiu permanecer em casa com sua família. Agora estava sentando-se. Ele sorriu. Será que ela conseguia enxergar seu sorriso dali das sombras? Ficou imaginando se ela tinha noção da felicidade que sua presença lhe causava. Provavelmente não. Melhor que não tivesse. Não se devia sobrecarregar um filho com tanto afeto.
Levantou-se, foi até ela e beijou-a na cabeça. Virou-se, sentiu uma leve contração no peito e tossiu. Então andou até a entrada e olhou lá fora. Estava ficando frio.
Seu olhar foi na direção do portão de entrada. Viu um vizinho passar com um balde de madeira com água do poço. O sujeito não parecia ter pressa. Apurou o ouvido. Alguns pardais chilravam nos galhos da macieira, no quintal ao lado. Ouviu um melro. Sim, tudo parecia normal. Não havia sinal de qualquer agitação. Era um alívio.
Strongbow. Ninguém achava realmente que ele viria. Seu tio e os FitzGerald haviam permanecido no sul todo o verão, e as pessoas de Dublin sensatamente deduziram que eles ficariam ali pelo resto do ano. Mas então, na última semana de agosto, chegou a notícia.
“Strongbow está em Wexford. Ele chegou com soldados ingleses. Uma porção de soldados.”
Duzentos homens armados a cavalo e mil soldados de infantaria. Na maioria, recrutados de famílias de grandes proprietários de terras da Inglaterra. Era um exército que apenas um dos homens mais ilustres do império Plantageneta poderia reunir. Pelos padrões da Europa feudal, era um pequeno exército. Pelos padrões irlandeses, os cavaleiros de armadura, os soldados de infantaria altamente treinados e os arqueiros, que disparavam com precisão matemática, representavam uma disciplinada máquina de guerra além de qualquer coisa que eles possuíam.
Em poucos dias, chegou a notícia de que o porto Waterford também estava nas mãos de Strongbow; em seguida, que o rei Diarmait dera sua filha em casamento a Strongbow. E logo após isso: “Eles estão vindo para Dublin.”
Era uma afronta. O rei supremo permitira que Diarmait tomasse Leinster; mas Dublin era outra questão, excluída especificamente do acordo. “Se Diarmait deseja Dublin, isso significa que ele pretende tomar toda a Irlanda”, avaliou o rei supremo. “E ele não me entregou seu próprio filho como refém?”, prosseguiu o rei o'Connor. Se Diarmait quebrasse seu juramento sob tais circunstâncias, o'Connor teria o direito, de acordo com a lei irlandesa, de fazer o que quisesse com o rapaz, até mesmo executá-lo. “Que tipo de homem é esse”, berrou o'Connor, “que sacrifica o próprio filho?”
Estava na hora de dar um basta à ambição desse turbulento aventureiro e seus amigos estrangeiros.
Não havia, também, dúvida a respeito do sentimento dos dublinenses. Três dias antes, MacGowan vira o rei de Dublin e alguns dos maiores comerciantes irem a cavalo dar as boas-vindas ao rei supremo, quando este passou pelo Liffey. Dizia-se que até mesmo o cunhado de Diarmait, o arcebispo, estava aborrecido com ele. O rei o'Connor trouxera consigo um enorme exército e rapidamente acordaram que os dublinenses deveriam se preparar para defender sua cidade, ao mesmo tempo que o rei supremo faria uma viagem de um dia ao sul, para bloquear os acessos à planície do Liffey. Um dia depois, MacGowan soube que o'Connor não apenas tinha acampado no meio da rota como ordenara a derrubada de árvores, a fim de tornar intransponíveis todas as trilhas da região. Dublin fazia preparativos, mas o consenso era claro; mesmo com Strongbow e todos os seus homens, o rei Diarmait não lhes causaria qualquer problema. “Eles jamais passarão.”
Exceto nos dias mais frios do inverno, quando era forçado a ficar dentro de casa, Kevin MacGowan sempre trabalhava em um barracão aberto dos lados no quintal. Desse modo, ele tinha a luz do dia para enxergar o que fazia. Para se aquecer, mantinha um pequeno braseiro a seus pés.
Naquela manhã, sentou-se na bancada de trabalho com um sorriso satisfeito. Nunca comia muito, mas sua mulher lhe dera pão fresco, saído do forno chiando de quente, e o servira com mel. O cheiro e o sabor permaneceram de um modo delicioso, ao se encaminhar para o trabalho. Sua mulher e Una fiavam lã, em um canto perto do forno. Seus dois filhos estavam ocupados em entalhar madeira. Era uma perfeita cena familiar.
Chegou um comerciante para falar sobre um broche de prata para sua esposa. Kevin perguntou-lhe se estava tranqüilo na cidade e ele disse que sim. Após uns instantes, o homem se foi e, por algum tempo, Kevin trabalhou em silêncio. Então fez uma pausa.
— Una.
— Sim, papai.
— Vá até a muralha do lado sul, perto do portão principal. Diga-me se vê qualquer coisa.
— Não podia mandar um dos meninos? Estou ajudando mamãe.
— Prefiro que você vá. — Ele confiava mais nela do que nos meninos. Ela olhou para a mãe, que sorriu e aquiesceu.
— Como queira, papai — disse ela. Colocou sobre a cabeça um xale cor de açafrão, para se proteger do frio, e seguiu pela rua.
Ela estava contente por ter ficado em casa. Talvez estivesse passando tempo demais com os doentes do hospital, e lhe parecia que seu pai não andava de todo bem ultimamente. Em geral, naquele dia, ela estaria ocupada no hospital, mas Fionnuala concordara em executar suas tarefas. Ela acreditava que recentemente conseguira convencer Fionnuala a adotar uma atitude mais responsável perante a vida, e sentia-se bastante orgulhosa disso.
Nada viu de incomum no caminho. As pessoas cuidavam de seus afazeres. Passou por uma carroça transportando troncos e acabara de chegar à igreja dos saxões quando, vindo do salão do rei, ali perto, ela ouviu um tropel de cascos e uma dezena de cavaleiros vindo em sua direção. À frente cavalgava o rei em pessoa. Ela notou que nenhum dos cavaleiros estava vestido para a batalha, embora um ou dois carregassem a acha-de-armas viking, que atualmente era a arma favorita na maior parte da Irlanda. O resto, inclusive o rei, tinha apenas adagas em seus cinturões.
Ao se encostar na cerca de madeira para deixá-los passar, o rei sorriu para ela. Ele era um homem bonito, de aparência amável. Certamente não parecia nem um pouco preocupado.
Ao subir na muralha, ela se viu totalmente só. Embora o céu estivesse cinzento, fazia um dia claro. Além dos campos e pomares ao sul, as corcundas redondas das montanhas de Wicklow pareciam assomar tão perto que quase se podia tocá-las. Ela ficou um pouco surpresa por não ver qualquer vigia postado na muralha, mas certamente não havia sinal de qualquer inimigo se aproximando. O portão ali perto estava aberto. Distante, à esquerda, ela podia ver um navio se aproximando pelo estuário. Ultimamente, o porto estivera particularmente movimentado. Tudo parecia normal.
Kevin estava ocupado com seu trabalho, quando ela retornou. Um pouco antes, ele sentira vontade de tossir e fora para a casa; mas isso havia passado. Ele sorriu quando voltou e lhe disse que tudo estava bem, e a residência retomou sua tranqüila rotina.
Foi no final da manhã que o ourives largou a peça em que trabalhava e apurou o ouvido. Não disse nada, apenas permaneceu ali, completamente imóvel. Havia algo errado? Nada que ele pudesse identificar. Tinha ouvido algo fora do usual? Não, não tinha. Mas, mesmo assim, continuou parado ali, intrigado. Sua mulher olhou para ele.
— O que foi?
— Não sei. — Sacudiu a cabeça. — Nada.
Voltou ao trabalho um pouco depois, e então parou. A sensação voltara-lhe novamente. Uma estranha sensação. Uma sensação de friagem. Como se uma sombra tivesse passado a poucos centímetros dele.
— Una.
— Sim, papai?
— Suba novamente lá na muralha.
— Sim, papai. — Que boa moça era ela. Nunca se queixava de nada. A única em quem ele podia confiar completamente.
Ainda que a vista da muralha fosse a mesma de antes, ela não voltou de imediato. Não havia necessidade de palavras entre Una e seu pai. Ela o entendia. Se ele estava preocupado, ela tomaria todo o cuidado de verificar cada possibilidade. Por algum tempo, portanto, vasculhou o horizonte sudoeste onde o Liffey fazia sua curva em direção à cidade. Havia algum sinal de poeira, algum lampejo de armadura, algum vestígio de movimento? Não havia nada. Finalmente satisfeita, decidiu voltar. Olhou na direção do estuário, deu uma última breve olhada para as montanhas de Wicklow e, então, ela os viu.
Eles brotavam das colinas como um córrego das montanhas. Escorriam para o pequeno vale abaixo que dava para as colinas verdes ao sul e se estendia pelas encostas acima do povoado de Rathfarnham, um pouco mais de seis quilômetros de distância. Ela podia ver o brilho das cotas de malha dos cavaleiros, um grande número deles. Multidões de homens marchando em três colunas, que vinham logo atrás. Daquela distância, as colunas pareciam três imensas centopéias. Atrás delas, vinham ainda mais colunas de homens; pelo seu movimento ligeiramente gingado, ela deduziu que deviam ser arqueiros.
Ela entendeu de imediato o que acontecera. Diarmait e Strongbow deviam ter vindo pelas montanhas, em vez de pelo vale do Liffey. Haviam enganado completamente o rei supremo. Com grande probabilidade, aquele era todo o exército. Em um quarto de hora estariam em Rathmines. Ficou um tempo por ali observando com horrorizado fascínio; depois, virou-se e correu.
Não houve necessidade de Una dar o alarme. Outros também tinham visto o exército nas encostas. As pessoas começavam a correr pelas ruas. Quando ela chegou ao seu próprio portão, a família já havia escutado a gritaria e levou apenas poucos minutos para ela lhes contar o que vira. A questão era: o que fazer?
A alameda na qual eles moravam levava à Matadouro de Peixes. Não estavam muito distante dos cais. Quando saiu novamente à rua para ver se havia mais notícias, Una descobriu que seu vizinho de porta enchia um carrinho de mão “Vou pegar um navio, se conseguir”, falou para ela. “Não vou ficar aqui esperando os ingleses chegarem.” Do outro lado morava um carpinteiro. Ele já construíra uma barricada em volta de sua casa. Parecia achar que podia manter um exército afastado com o produto de seu próprio trabalho manual.
A casa dos MacGowan estava hesitante. Seu pai trancara o cofre e sua mãe enrolara alguns pertences em um pano que levava pendurado às costas. Os dois meninos e o aprendiz estavam parados junto dela e a escrava inglesa parecia mais ansiosa em ir com eles do que em ser libertada pelos seus conterrâneos.
Kevin MacGowan jamais gostou de arriscar, e sempre imaginara um plano para cada eventualidade que pudesse ameaçar sua pequena família. Enfrentando agora essa crise, ele se achava plenamente capaz de pensar racionalmente. O carpinteiro exagerou ao planejar fugir para o cais. Entrou em pânico cedo demais. Mesmo com seus aliados ingleses, parecia improvável que o rei Diarmait conseguisse penetrar em defesas muradas com pedra. Isso significava um sítio — dias ou semanas de espera, e bastante tempo para sair pelo cais, se necessário. Pensando bem, parecia ao ourives que talvez fosse tolice correr agora para a beira da água. Menos fácil era a questão do que fazer com o cofre. Só queria incomodar os monges da Igreja de Cristo quando houvesse um bom motivo. Se houvesse um sítio, ele provavelmente continuaria trabalhando; portanto, de qualquer modo, precisaria ter em casa algumas peças valiosas. Se a família tivesse de partir, talvez ele quisesse levar junto parte de sua prata, e talvez deixar o resto na Igreja de Cristo, dentro do cofre. Isso dependeria das circunstâncias.
— Vá até a Matadouro de Peixes, Una — instruiu. — Descubra o que está havendo.
A íngreme rua da feira estava cheia de pessoas seguindo apressadas em todas as direções, algumas para o cais, outras subindo a ladeira para a Igreja de Cristo. Ela parou várias pessoas, mas nenhuma parecia ter uma opinião definitiva sobre o que estava acontecendo; e ela pensava o que fazer, quando avistou o padre Gilpatrick vindo rapidamente em sua direção. Conheciam-se de vista e ele lhe fez um amistoso cumprimento com um gesto de cabeça. Ela pediu sua opinião.
— O arcebispo já está vindo falar com eles — disse-lhe. — Ele está resolvido evitar qualquer derramamento de sangue. Eu mesmo estou indo agora me juntar a ele.
Quando ela retornou com essa notícia, Kevin MacGowan refletiu. Parecia-lhe que as chances eram boas. Não importava o que se pensasse dele, nem mesmo o rei Diarmait iria ignorar o seu piedoso cunhado.
— Podemos esperar um pouco para ver o que acontece — disse ele à sua família — Una, é melhor você voltar à muralha. Venha nos avisar imediatamente, se algo começar a acontecer. — Foi um choque, quando ela voltou dessa vez à muralha. Mal pôde acreditar que eles tivessem chegado tão perto, em tão pouco tempo. A linha de homens mais próxima não estava a mais de trezentos metros de distância. Ela conseguia ver seus rostos, enquanto olhavam severamente em direção à muralha. Destacamentos de cavaleiros, homens em armas e arqueiros estavam dispostos a intervalos e pareciam espalhar-se por todo o caminho em volta da muralha.
Bem à frente, a uns cinqüenta metros ao longo da estrada principal, ela conseguiu avistar o arcebispo o'Toole. Montava, ao estilo irlandês, sem sela, um pequeno cavalo cinzento. Atrás dele vinham vários outros clérigos, inclusive o pai do padre Gilpatrick. O arcebispo estava envolvido numa intensa conversa com um homem barbudo, que ela supôs ser o rei Diarmait, e um sujeito alto com compridos bigodes e o rosto impassível. Esse devia ser Strongbow. O tempo todo, ao longo das linhas, os homens permaneciam imóveis. Na direção de uma extremidade da muralha, alguns dos soldados montados pareciam impacientes, mas ela supôs que podiam ser seus cavalos. Ocasionalmente, um dos cavaleiros saía de forma e fazia um círculo antes de voltar. Ela viu o padre Gilpatrick cavalgar para fora do portão aberto e se juntar a seu pai e os outros padres. Ninguém ainda se movia. O arcebispo agora desmontava. O rei Diarmait e Strongbow fizeram o mesmo. Homens traziam banquinhos para eles se sentarem. Obviamente as negociações levariam algum tempo. Por um momento, ela desviou a vista da cena e olhou abaixo para a alameda às suas costas. E então ficou chocada.
Fionnuala caminhava pela alameda abaixo da muralha. E não estava sozinha. Havia meia dúzia de rapazes com ela. Eles riam e, pelo visto, ela também estava flertando. Assanhara o cabelo de um dos rapazes e acabava de colocar o braço em volta de outro. Não era possível que ignorassem o perigo do lado de fora da muralha. Talvez não imaginassem que os ingleses fossem entrar. Não era, porém, a estupidez deles, nem mesmo o namoro de Fionnuala o que realmente a chocava.
Era o fato de que ela devia estar no hospital. Ela prometera. Quem estava cuidando dos pacientes? Una sentiu uma onda de indignação.
— Fionnuala! — gritou. — Fionnuala! Fionnuala ergueu os olhos, surpresa.
— Una. O que está fazendo aí?
— Isso não importa. O que você está fazendo? Por que não está no hospital?
— Fiquei entediada. — Fionnuala fez uma cara engraçada. Mas aquilo não tinha graça.
Una olhou acima da muralha o tempo suficiente para ver que o arcebispo continuava mergulhado em suas discussões. Então ela correu para os degraus, desceu para onde eles estavam e, ignorando totalmente os rapazes, seguiu direto para Fionnuala. Ela estava furiosa. Nunca sentira tanta raiva. Fionnuala, vendo que era sério, começou a correr, mas Una a alcançou e agarrou-a pelos cabelos.
— Sua mentirosa! — berrou. — Sua vadia estúpida, inútil! — Deu um tapa no rosto de Fionnuala com toda a sua força. Fionnuala devolveu o tapa, mas, dessa vez, Una atingiu-a com o punho cerrado. Fionnuala gritou, libertou-se e começou a correr novamente. Una podia ouvir os rapazes gargalhando atrás dela. Não se importava. Correu atrás de Fionnuala. Queria machucá-la e machucá-la muito. Semelhante ira jamais lhe acontecera antes. Esqueceu o rei Diarmait, Strongbow e até mesmo seu pai. Esqueceu todo mundo.
Elas correram na direção da Igreja de Cristo, depois à esquerda, passando pelas barracas dos peleteiros e através da cidade em direção à feira. Fionnuala corria mais depressa, porém Una era mais determinada. Era mais baixa do que Fionnuala, mas achava que era mais forte. Depois que eu lhe der uns bons tabefes, pensou ela, vou arrastá-la de volta ao hospital — pelos cabelos, se for preciso. Então se deu conta de que o portão ocidental poderia estar fechado. Ela terá sorte se eu não jogá-la de cima da muralha, pensou. Viu Fionnuala correr para o interior da feira. As barracas estavam fechando. Um momento depois, Fionnuala desaparecera, mas Una sabia que devia estar escondida em algum lugar. Ela a encontraria.
Então Una parou. O que estava fazendo? Tudo bem que ela se preocupasse com Fionnuala e os internos do hospital, mas e sua própria família? Não devia estar vigiando lá na muralha? Xingou Fionnuala e deu meia-volta.
Os sons chegaram após ela ter percorrido a rua uns cem metros. Ouviu gritos, pancadas fortes, mais gritos. Adiante, as pessoas começavam a correr na direção dela. Então, subitamente, da feira atrás, ela ouviu uma barulheira semelhante, e, logo depois, viu surgir uma meia dúzia de cavaleiros em cotas de malha. Devem ter vindo pelo portão ocidental. Havia soldados atrás deles. Fionnuala estava ali, em algum lugar, ela sabia, e, por um instante, sentiu um impulso de correr de volta e salvar sua amiga; mas então se deu conta da inutilidade disso. Se ela pôde se esconder de mim, pensou, poderá se esconder deles. Viu agora à sua frente soldados montados. Precisava alcançar sua família. Mergulhou num beco.
Levou algum tempo para chegar em casa, escolhendo os caminhos através da cidade. Não sabia como acontecera, mas obviamente as tropas inglesas tomavam a cidade. Pareciam estar por toda a volta da Igreja de Cristo e do salão do rei. A chegada deles ao interior da muralha fora tão repentina que quase não houve resistência. Ela precisou ir até quase ao cais para evitá-los.
Sua família a esperava ansiosamente no portão. Felizmente, os ingleses ainda não tinham ido para aqueles lados. Ela esperava repreensões, mas seu pai pareceu apenas aliviado em vê-la.
— Soubemos o que aconteceu — disse sua mãe. — Os malditos ingleses. Enquanto falavam com o arcebispo, perto do portão sul, eles invadiram pelo leste e oeste. Foi vergonhoso. Você os viu?
— Eu os vi — confirmou Una, e então enrubesceu. Em toda a sua vida nunca contara uma mentira. Rigorosamente falando, era verdade. Ela os vira na rua. Mas não foi isso que sua mãe quis dizer. Ninguém percebeu. — Foi difícil chegar aqui. Estão por toda a volta da catedral — acrescentou.
— Vamos para o cais — anunciou o pai. Una notou que ele não carregava o cofre. — A catedral já está cercada — explicou —, e eu não ousaria carregá-lo agora pelas ruas. Portanto, eu o escondi no lugar de sempre. Queira Deus que ninguém o encontre. — Indicou uma bolsa amarrada por dentro de sua blusa. — Aqui há o suficiente para ajudar em nossa viagem.
O cais estava apinhado. Os ingleses agora inundavam Dublin através dos portões, mas continuavam na parte superior da cidade. Pessoas já enxameavam a ponte atravessando para o subúrbio do lado norte do Liffey, porém não se sabia se ali estariam mais a salvo dos ingleses. No cais, os capitães faziam bons negócios. Era sorte, pensou Una, haver tantos barcos no porto, naquele dia. Um barco norueguês já partira. Provavelmente para a ilha de Man ou para as ilhas do norte. Havia outro prestes a partir para Chester. Seria o mais perto dali, no entanto o barco já estava lotado. Mais dois tinham Bristol por destino, porém seus capitães cobravam um preço tão alto pela passagem que o pai dela ficara em dúvida. Outro ia para Rouen, na Normandia. Um comerciante francês que MacGowan conhecia de vista estava embarcando. O preço da passagem era menor do que a de Bristol. O ourives hesitou. Rouen era uma viagem mais longa, mais perigosa. Ele não falava francês. Olhou para trás, na direção do barco de Bristol, mas os marinheiros já mandavam as pessoas voltarem. Parecia não haver outra opção. Relutante, ele foi para o navio de Rouen.
Já estava pagando a passagem ao capitão, quando uma figura familiar surgiu à vista. Ailred, o Peregrino, caminhava a passos largos pelo cais, rumo ao hospital. Assim que avistou MacGowan, foi rapidamente em sua direção.
— Alegro-me em vê-lo a salvo, Kevin — disse ele. — Aonde vai? O ourives explicou rapidamente a situação e suas apreensões.
— Talvez tenha razão em ir embora. — Ailred ergueu a vista para a colina. Incêndios haviam irrompido em um ou dois prédios. — Sabe Deus que tipo de gente são esses ingleses. Você certamente conseguirá trabalho em Rouen para se ajeitar e eu lhe informarei sobre o que acontece aqui. — Olhava pensativamente para Una. — Por que não deixa Una ficar aqui comigo e com a minha esposa, Kevin? Ela ficará segura no hospital. Estamos sob proteção da Igreja. Ela pode preparar a casa para o seu retorno.
Una ficou horrorizada. Ela adorava o Peregrino, mas não queria se separar de sua família. Acima de tudo, tinha certeza de que seu pai precisava dela. Mas o pai e a mãe pareceram gostar da idéia.
— Por Deus, menina, quanto mais cedo estiver a salvo no hospital será melhor do que atravessar os mares bravios com a gente — bradou sua mãe —, pois sabe-se lá se não vamos nos afogar todos. — E seu pai envolveu-a com o braço e cochichou em seu ouvido: — Você poderá recuperar o cofre, se conseguir uma chance...
— Mas, papai... — protestou ela. Tudo estava acontecendo depressa demais. Era difícil raciocinar.
O capitão do barco queria partir.
— Fique com Ailred, Una. Será melhor. — O pai virou-se tão rapidamente que ela deduziu que a decisão o havia magoado tanto quanto a ela. Mas foi sua palavra final, e ela o sabia.
Momentos depois, guiada pela mão firme mas cordial do Peregrino, ela se descobriu caminhando rapidamente na direção do hospital.
Como veio a se confirmar, o rei Diarmait e Strongbow não haviam fomentado o súbito ataque a Dublin. Aliás, eles ficaram um tanto constrangidos quando, em meio às negociações com o arcebispo, alguns dos cavaleiros mais exaltados, impacientes com a demora, fizeram uma investida até os portões e irromperam por ali, antes que os defensores tivessem tempo de se dar conta do que acontecia. Claro que funcionou perfeitamente para eles: nem Diarmait nem Strongbow podiam negar. Enquanto eles e o arcebispo observavam, a cidade havia sucumbido sem que praticamente fosse desferido um único soco. Após se desculpar com o'Toole, o rei irlandês e seu novo cunhado cavalgaram até a cidade para descobrir que nada restava a fazer. O lugar era deles.
Poucas edificações foram incendiadas e havia alguns saques em curso, mas isso era de se esperar. Aos soldados eram concedidos os espólios de guerra. Eles, porém, não deixaram que isso fosse muito longe e cuidaram para que nenhuma das casas religiosas fosse tocada.
Mais significativo foi o êxodo dos habitantes da cidade. Isso teve seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom foi haver acomodações para abrigar todo o exército. O lado ruim foi que metade dos artesãos e comerciantes da cidade havia fugido atravessando o rio ou o mar, e eles compunham uma grande parte do que valia a cidade. Descobriu-se, também, que o rei de Dublin havia escapulido. A melhor informação era a de que ele pegara o barco norueguês para as ilhas do norte. Era uma má notícia, pois parecia provável que ele tentaria reunir forças para um ataque. Mas, ao menos por enquanto, a cidade estava tranqüila.
Somente após quatro dias de ocupação, Una MacGowan deixou o Hospital de São João Batista para visitar sua casa na cidade. O hospital não fora afetado: aliás, dois dias antes, os próprios rei Diarmait e Strongbow, acompanhados por vários cavaleiros, haviam feito uma breve visita para inspecionar o local. Una ficara sensibilizada com o alto nobre inglês. Com seu rosto oval elegantemente delineado e sua esplêndida figura, ele lhe pareceu tão impressionante quanto seu sogro real. Todos haviam tratado o lugar com o mesmo respeito que teriam se estivessem em uma igreja, e Diarmait pedira educadamente a Ailred para internar meia dúzia de pessoas, duas delas inglesas, que haviam sido feridas durante a conquista da cidade.
Una realmente se mantivera muito ocupada no hospital, ao passo que fionnuala não voltara a aparecer. Seu pai mandara avisar que, por enquanto, queria que ela ficasse com ele; Una, porém, desconfiava de que havia um motivo a mais para sua ausência. Ela soube que eu estou aqui, pensou, e não quer me enfrentar
Ao passar pela feira perto do portão ocidental, ela notou que cerca de metade das barracas já estava novamente funcionando e negociando tranqüilamente. Enquanto caminhava em direção à catedral, viu que a maioria das casas agora tinha tropas ocupando-as, e algumas haviam sido abandonadas por completo pelos seus proprietários. Os ingleses pareciam estranhos. Com seu áspero sotaque, resistentes casacos de couro e túnicas acolchoadas, eles de certa forma pareciam mais rijos, mais compactos do que os homens a que ela estava acostumada. Alguns lhe lançavam olhares que a deixavam constrangida, mas nenhum a molestou. Do lado de fora da catedral, um grupo de arqueiros montara alvos para praticar, as flechas produzindo um ruído surdo na palha compactada com uma precisão quase mecânica. Ela achou isso perturbador. Descendo a ladeira da Matadouro de Peixes, virou para a alameda que levava à sua casa.
Hesitou. Por que tinha ido ali? Para ver o que acontecera à casa? E se ela tivesse sido incendiada? De qualquer modo, com certeza estaria cheia de soldados ingleses. Sentiu-se subitamente infeliz e quase decidida a voltar. Mas não podia fazer isso. Por causa de sua família, tinha de descobrir o que acontecera com a casa.
A alameda estava tranqüila. Ela podia ver por trás das cercas que a maioria das casas era usada como alojamento para os soldados. Em um quintal, vários deles dormiam; em outro viu apenas uma velha senhora. Quando se aproximou da cerca diante de sua própria casa, olhou nervosamente para o portão. Estava aberto. Parou e olhou em volta. Não havia vestígios de danos, nem ela conseguiu ver quaisquer ocupantes. Olhou para a alameda. Não vinha ninguém. Enfiou a cabeça além do portão e olhou em volta do quintal.
Era uma sensação estranha examinar furtivamente sua própria casa. Pela lenha incandescente no braseiro de seu pai, que fora deslocado um pouco, e pelos objetos espalhados no quintal, ficou claro que o lugar estava sendo usado. Talvez os homens estivessem dormindo no interior da casa. Em todo caso, era melhor ela ir embora. Mas não foi. Em vez disso, após olhar mais uma vez para a rua, ela avançou para o quintal. Estava silencioso.
O cofre: que chance! Estava ali, à espera de ser resgatado; e não havia ninguém olhando. Se ela ao menos conseguisse chegar até o esconderijo. Levaria apenas um minuto. Sabia que era capaz de carregá-lo. O manto de lã que usava sobre os ombros o cobriria. Quanto tempo levaria para ir até a Igreja de Cristo e colocá-lo em segurança? Momentos. Nada mais. E quando conseguiria uma outra chance como aquela? Talvez nunca.
Mas em que lugar da casa estavam os homens? Essa era a questão. Para chegar ao esconderijo, teria de passar pela porta aberta. Se houvesse ali alguém acordado, ela provavelmente seria vista. Havia somente uma coisa a fazer. Começou a travessia do quintal, passou pelo braseiro, passou pelo forno aberto. Teria que olhar através do vão da porta para ver se havia alguém ali. Se a vissem, ela teria de correr. Não achava que conseguissem pegá-la. Entretanto, se não houvesse ninguém, ela poderia pegar o cofre e ir embora. Seu coração martelava, mas se forçou a manter a calma. Chegou à porta.
Olhou lá dentro. Era difícil enxergar algo, visto que a única luz vinha da própria porta aberta e da pequena abertura no telhado. Haveria olhos ali dentro es-piando-a, mãos se esticando? Forçou a vista para enxergar nas sombras. Não havia ruídos. Após alguns segundos, ela conseguiu distinguir os bancos ao longo das paredes. Não parecia haver formas humanas sobre eles. Muito cautelosamente, entrou. Agora conseguia ver melhor. Olhou para o lugar onde seus pais sempre dormiam, em seguida o seu próprio canto. Não. Não havia ninguém ali. Sentiu necessidade de ir até seu lugar, para sentir novamente sua reconfortante familiari-dade; mas sabia que não devia. Com um suspiro, virou-se e voltou para o quintal. Pensou em olhar novamente do lado de fora do portão e decidiu que não havia necessidade. Era melhor não perder tempo.
Foi rapidamente até o esconderijo sob o forno de pão. Se soubesse como empurrar para o lado o pequeno painel de pedra e enfiar a mão, era apenas questão de segundos. Ela enfiou o braço. Mais fundo. Tateou com a mão. E encontrou...
Nada. Não podia acreditar. Tateou novamente, a testa franzida. Nada ainda. Certamente devia haver algum engano. Arregaçou a manga até o braço todo ficar nu e tentou mais uma vez, movimentando a mão para lá e para cá, tateando até o final do esconderijo.
Não havia dúvida. O esconderijo estava vazio. O cofre fora roubado. Sentiu um súbito pânico, depois uma nauseante sensação de infelicidade: alguém descobrira o tesouro de seu pai. Toda a fortuna de sua família havia sumido. Recuou, olhando em volta. Onde o teriam colocado? Lá dentro, talvez? No mínimo, valia a pena tentar. Olhou para o portão, que continuava sem ninguém. Correu de volta Para dentro, para a escuridão.
Não se preocupou com a bagunça. Não havia tempo para pensar nisso. Nem mesmo importava que o aposento estivesse escuro: ela conhecia cada centímetro dele com os olhos fechados, cada fenda e esconderijo. Com furiosa velocidade contornou as paredes, empurrou bancos, jogou para os lados capotes, cobertores e, inclusive, uma camisa de cota de malha, espalhando-os pelo assoalho. Em sua irritação, até mesmo fez voar pelo aposento duas tigelas de metal. Agiu rápida e minuciosamente e, ao final de tudo, parada com as costas em direção à porta e olhando em volta para as sombras silenciosas, teve a certeza de que o cofre não estava ali. Chegara tarde demais. Os malditos soldados ingleses o tinham encontrado e ela jamais conseguiria recuperá-lo. Seu pai perdera tudo que tinha. Sua cabeça pendeu para a frente. Ela queria chorar.
E não houve algo ainda pior? Ela suspeitava que sim. E se, em vez de correr atrás da idiota da Fionnuala, ela tivesse ficado na muralha e visto o ataque inglês? E se, na ocasião, tivesse corrido direto para seu pai? Será que ele teria tido tempo de levar a caixa para a Igreja de Cristo? Ou, pelo menos, se ela tivesse chegado em casa mais cedo, talvez seu pai se sentisse mais seguro de levar o cofre consigo para o cais. Ficar à espera dela fez com que ele entrasse em pânico e tomasse sua desastrosa decisão. Ainda que o seu cérebro dissesse que todas essas suposições poderiam ser falsas, seu coração dizia o contrário. A culpa é minha, pensou ela. Minha família foi arruinada por minha causa. Ficou ali no tranqüilo vazio de sua casa, atordoada pela dor. E por isso, durante um momento, ela nem sequer sentiu a mão sobre seu ombro.
— Procurando alguma coisa?
A voz de um inglês. Ela não entendeu o que ele falava, mas isso não fez diferença. Virou-se. A mão dele deslocou-se rapidamente para seu braço e apertou-o.
Um casaco de couro enfeitado com tachas, um arranhão no braço direito. Um rosto coberto com uma escura barba por fazer havia dias; um grande nariz brutal, olhos injetados. Ele estava sozinho.
— Procurando algo para roubar, não é mesmo? — Ela não o entendeu. Ele levantou uma moeda de prata diante de seu rosto. Ela não tinha certeza, mas parecia com uma das que vira no cofre de seu pai. Ele deu uma risadinha ao por a moeda de lado. Ela notou um estranho e suave lampejo em seus olhos. — Pois bem, você me encontrou.
Segurando o braço dela com uma das mãos, ele começou a afrouxar a túnica com a outra. Ela podia não entender as palavras, mas não havia dúvida sobre o que ele queria. Ela se debateu para se livrar. A mão dele era grande e calosa. Ao empurrá-la para trás, Una sentiu com que facilidade ele fez aquilo e deu-se conta do quanto ele era muito mais forte. Ela nunca tivera antes o medo de se sentir fisicamente impotente.
— O castigo por roubar é muito pior do que aquele que eu vou aplicar a você — disse ele. O inglês podia perceber que ela não entendia, mas isso não o impediu de continuar: — Você tem sorte, é isso que você tem. Sorte de me encontrar.
Una ficara tão chocada e amedrontada que até mesmo se esquecera de gritar.
— Socorro! — berrou, o mais alto que pôde. — Estupro! — Nada aconteceu. Ela gritou novamente.
O soldado não parecia se importar. Seu casaco agora estava aberto. Subitamente Una compreendeu que, mesmo se alguém se importasse, não ligaria para os seus gritos. Todas as casas vizinhas deviam provavelmente ter sido tomadas por tropas inglesas, e nem sequer a entenderiam. Ela inspirou fundo, para gritar.
Então ele cometeu um erro. Para tirar o casaco, apenas por um segundo, ele largou o braço dela. Foi apenas um segundo, mas foi tudo de que ela precisava. Una sabia o que devia fazer. Nunca fizera antes isso, mas não era idiota. Ele a viu abrir a boca para gritar, mas só percebeu o chute dela quando era tarde demais.
Ela o desferiu com toda a força. Ele sentiu um abrasador lampejo de dor na virilha. Curvou-se, as mãos pressionando a barriga em agonia.
Ela fugiu. Antes mesmo que ele conseguisse se endireitar, ela atravessava o portão. Saiu correndo pela rua, sem mesmo perceber em que direção ia. Avistou um grupo de soldados em seu caminho. Pareciam se afastar para deixá-la passar. Una ouviu uma voz atrás dela.
— Ladra! Agarrem ela!
Braços fortes a seguraram. Tentou se libertar, mas eles a ergueram do chão. Não havia nada que pudesse fazer. O soldado vinha agora seguindo pela rua. Coxeava e seu rosto estava transtornado pela raiva. Ela não sabia se ele ia tentar novamente violentá-la, mas era evidente que pretendia se vingar. Ele agora os tinha alcançado. Enfiava seu rosto no dela.
— O que é isso? — Outra voz. Peremptória. Vindo de trás dela. Os soldados abriram caminho.
— Uma ladra! — A voz de seu acusador, trêmula mas aborrecida. Ela viu um “ábito escuro, ergueu os olhos.
Era o padre Gilpatrick.
— Estupro! — Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Indicou o homem com a barba por fazer. — Ele tentou... Eu tinha entrado na nossa casa... — Foi o suficiente. O padre dirigiu-se a eles furiosamente.
— Bandidos! — gritou. Ela não entendeu tudo o que Gilpatrick dizia, pois ele falava em inglês. Mas ouviu várias coisas que reconheceu. Hospital de São João. Arcebispo. Rei Diarmait. Os soldados pareciam confusos. Seu agressor, ela viu, ficara muito pálido. Momentos depois, o padre Gilpatrick a levava embora.
— Eu disse a eles que você trabalha no hospital sob a proteção da Igreja. E que me queixaria ao arcebispo. Você está machucada? — perguntou amavelmente. Ela sacudiu a cabeça.
— Eu o chutei na virilha e fugi — disse-lhe com franqueza.
— Muito bem, minha criança — disse ele. Ela então contou-lhe sobre o cofre desaparecido e da moeda na mão do soldado. — Ah — fez ele tristemente —, receio que nada possa ser feito a respeito.
Ele a acompanhou o caminho todo até o hospital, conversando baixinho enquanto caminhavam, de modo que, ao voltarem, ela não apenas se sentia melhor como até mesmo teve a chance de observar, o que nunca lhe ocorrera antes, o quanto o jovem padre era notavelmente belo. Quando chegaram ao hospital, a esposa do Peregrino levou-a direto para a cama e deu-lhe um caldo quente e consolo.
Na manhã seguinte, Una havia se recuperado do susto e, para todos os internos no hospital, parecia ser a mesma de sempre. Mas não era. Nem nas semanas e meses que se seguiram ela se sentiria bem consigo mesma novamente. O que a perturbava não era o fato de ter escapado por um triz: isso em pouco tempo seria esquecido. Era outro pensamento, tão insidioso quanto injusto, que não a abandonava.
Meu pai perdeu tudo que tinha. E a culpa foi toda minha.
1171
Peter Fitz David sorriu. Um dia de verão. A luz suave, cálida, parecia rolar pelas montanhas de Wicklow abaixo e se acumular na ampla curva azul da baía. Dublin, finalmente.
Havia muito tempo ele esperava ir a Dublin. No outono anterior, quando Strongbow e o rei Diarmait estiveram lá, ele foi deixado no sul guardando o porto de Waterford. Peter executara muito bem suas tarefas, mas quando Strongbow se retirou para Waterford, no inverno, pareceu praticamente ter-se esquecido de quem era Peter.
O porto de Waterford ficava numa bela área que dava vista para a embocadura de um grande rio. Ali, o povoado original viking era quase tão antigo quanto o de Dublin, e comerciantes iam para lá vindos de portos do sudoeste da França e até de mais longe ainda. Strongbow montara ali vastos alojamentos de inverno, mas o próprio tamanho do acampamento só lembrava a Peter o seu próximo problema. O soberano inglês tinha tantos cavaleiros — parentes, seguidores, amigos e filhos de amigos — para cuidar que demandaria muito tempo, ou exigiria extraordinários feitos de sua parte, antes que chegasse sua vez na divisão das recompensas. Perto do fim da primavera, além do mais, alguns jovens como ele começaram a imaginar qual seria o futuro da expedição. Havia duas opiniões no acampamento.
“Diarmait e Strongbow vão conquistar a ilha toda”, diziam alguns. Peter achava bem provável que o rei irlandês esperasse fazer isso; e com o exército bem equipado de Strongbow, provavelmente poderia fazê-lo. Os chefes irlandeses, por mais que fossem excelentes guerreiros, nada tinham que pudesse resistir ao efeito devastador do ataque de uma cavalaria blindada; nem tinham nada parecido com uma multidão de arqueiros. Mesmo o rei supremo, com todos os seus seguidores, talvez tivesse dificuldade em detê-los.
Da mesma forma, porém, havia outros que achavam que a missão podia estar perto de se concluir. Nesse caso, então a maioria seria paga e mandada para casa. E eu certamente serei mandado de volta, pensou Peter, com o suficiente para mim mesmo ou para dar à minha mãe. Ficou imaginando onde arranjaria emprego depois disso. Mas então, no mès de maio, ocorreu uma mudança inesperada.
O rei Diarmait de Leinster, após ter recuperado seu reino, adoeceu repentinamente e morreu.
O que aconteceria a seguir? Era verdade que, ao entregar sua filha a Strongbow, o rei de Leinster prometera fazer dele o seu herdeiro. Contudo, essa promessa valia alguma coisa? Peter já aprendera o suficiente dos costumes da ilha para saber que qualquer novo rei ou chefe na Irlanda era escolhido pelo povo dentre os seus parentes próximos. Diarmait deixara um irmão e vários filhos e, pela lei irlandesa, não havia dúvida de que o marido estrangeiro da filha dele ficaria com sua herança. Logo, porém, ficou claro que os filhos de Diarmait, pelo menos, não concordavam com a idéia.
— Eles não têm escolha — comentou com ele um comerciante de Waterford. — Strongbow tem trezentos cavaleiros, trezentos arqueiros, mil soldados. Ele tem o poder. Sem ele, não são nada. Se ficarem do seu lado, ainda terão a chance de recuperar uma parte do que perderam.
— Mas eu vejo uma outra dificuldade — retrucou Peter. Pela lei feudal da Inglaterra Plantageneta, um grande domínio senhorial como Leinster passaria para o filho mais velho; ou, se fosse transferido a uma herdeira, não haveria possibilidade de ela se casar sem a permissão do rei — e os reis normalmente achavam indispensável entregar tais herdeiras a seus amigos fiéis. Visto que Diarmait reconhecera o rei Henrique da Inglaterra como seu senhor, e Strongbow, em todo caso, era um vassalo do rei Plantageneta, o ilustre inglês se colocaria numa perigosa posição jurídica ao se apossar dessa herança de Leinster. — Ele vai precisar da permissão do rei Henrique — explicou Peter ao comerciante de Waterford. — E tenho minhas dúvidas se vai conseguir.
Naquele momento, entretanto, o rei Henrique II da Inglaterra tinha outras coisas com que se preocupar. Aliás, parecia a Peter que o rei inglês nem ousaria dar as caras.
A chocante notícia da Inglaterra chegara logo no início de janeiro. Durante o mês seguinte ela se espalhara por toda a Europa. O rei da Inglaterra matara o arcebispo de Cantuária. Ninguém jamais ouvira falar antes em crime semelhante.
O conflito entre o rei inglês e o arcebispo Thomas Becket era o de sempre, discussões sobre o poder e a jurisdição da Igreja. Henrique insistira para que os membros de ordens religiosas respondessem perante tribunais normais, se cometessem crimes como assassinato ou roubo. Becket, seu ex-amigo e chanceler, que devia sua posição como arcebispo ao rei Henrique, obstinadamente se colocara contra o rei em uma amarga e demorada disputa. Alguns clérigos mais antigos achavam realmente que Becket deixara que seu novo cargo lhe subisse à cabeça. Mas, após anos de contenda, alguns cavaleiros de Henrique ouviram supostamente o rei vociferar irritado: “Quem me livrará desse padre turbulento?” Acharam que era uma ordem para matá-lo e saíram e o assassinaram diante do altar-mor da catedral de Cantuária.
Toda a Europa ficou escandalizada. Todos culparam Henrique. O papa o condenou. As pessoas diziam que ele devia ser julgado e Becket, santificado. Peter achava que o rei inglês estava ocupado demais, lidando com essa crise, para dar atenção ao que acontecia em um lugar tão distante e sem muita importância como Leinster.
Strongbow não perdera tempo. Fora direto para Dublin. Mas Peter, mais uma vez, fora deixado para trás. As notícias de Dublin pareciam emocionantes. O destituído rei de Dublin retornara com uma frota das ilhas do norte, mas os noruegueses estragaram tudo: ao iniciarem o ataque pelo portão leste, os ingleses saíram pelo portão sul, pegaram-nos pela retaguarda e os fizeram em pedaços. Também mataram o rei de Dublin. Entretanto, embora o ex-rei de Dublin tivesse fracassado em reconquistar sua cidade, ninguém imaginava que o rei supremo da Irlanda ficaria parado, observando os invasores ingleses tomarem um quarto da ilha e seu maior porto.
“O rei supremo não demorará a vir”, dissera-lhe o mensageiro de Dublin. “Todos os reforços possíveis devem ir imediatamente para Dublin. E isso inclui voce.
Portanto, ali estava ele, num dia de verão, seguindo para Dublin. E assim que se apresentasse a Strongbow e aquartelasse seus homens, ele sabia o que ia fazer.
Visitaria o velho amigo Gilpatrick e sua família. Será que seu amigo ainda tinha uma irmã bonita?, perguntou-se.
Não era com freqüência que a mãe de Gilpatrick precisava chamar a atenção para um erro de seu marido; mas às vezes ela sabia que era necessário pressioná-lo. Quando Gilpatrick deixou de comparecer ao casamento de seu irmão Lorcan, ela ficou furiosa com o marido. Foi um insulto público e uma humilhação para toda a família. Se seu marido, depois disso, não quis ver Gilpatrick, ela não o censurou. Entretanto, em algum momento a ruptura teria de terminar. Após um ano, ela finalmente decidiu que era melhor para todos se o padre permitisse que seu filho voltasse a freqüentar a casa; e depois de algumas semanas de persuasivas lisonjas e lágrimas, ela convenceu o marido, um tanto amuado, a permitir que ele voltasse a visitá-lo. “E você tem sorte”, disse ela firmemente a Gilpatrick “por ele ter concordado.”
Contudo, três dias depois, enquanto esperava a chegada de seu filho e do amigo dele, o velho Conn não estava de muito bom humor. Talvez se devesse em parte ao tempo, que nos últimos dois dias andara estranhamente instável. Mas o humor do padre andava instável havia muito mais tempo do que isso.
Uma coisa era ter mercenários ingleses pagos por Diarmait, outra diferente era ter o próprio Strongbow e seu exército instalando-se como um poder na Terra. Ele sabia que algumas pessoas em Dublin viam a situação com uma cínica tranqüilidade.
—Talvez não seja pior com Strongbow do que foi com o velhaco do Diarmait
— comentara um amigo no dia anterior. Mas o chefe dos Ui Fergusa não tinha tanta certeza.
— Nunca houve nada parecido na Irlanda desde a chegada dos ostmen — resmungou ele. — A não ser que o rei supremo consiga detê-los, esta será uma ocupação inglesa.
— Mesmo assim, os ostmen nunca foram além dos portos — lembrou-lhe seu amigo.
— Os ingleses são diferentes — retrucou.
Agora seu filho Gilpatrick, com quem só recentemente voltara a falar, ia trazer à sua casa o tal jovem soldado de Strongbow. A cortesia e a hospitalidade irlandesas exigiam que ele desse uma acolhida cortês ao estrangeiro, mas ele torcia para que a visita fosse breve.
E, como se isso não bastasse, sua mulher escolheu aquele dia para perturbá-lo novamente com um assunto que ele não desejava discutir.
— Você não fez nada — dizia ela, com razão. — Apesar de passar os últimos três anos dizendo que faria.
Era um curioso casal de se ver: o padre, alto e magro, sua esposa baixa e corpulenta; mas eram dedicados um ao outro. Mas a mãe de Gilpatrick não censurava seu marido por protelar tanto tempo essa parte de seu dever. Ela entendia muito bem que ele tivesse receio. Quem não teria, quando o problema era Fionnuala?
— Se não a casarmos logo, não sei o que as pessoas dirão. Ou o que ela fará — acrescentou.
Devia ser a coisa mais fácil do mundo. Ela não era bonita? Não era filha do chefe dos Ui Fergusa? Seu pai não tinha condições de lhe dar um belo dote? Não era o caso de ela ser mal-afamada ainda.
Na opinião da mãe, porém, era apenas uma questão de tempo. Se, por um lado, quando ela voltou pela primeira vez da casa do Peregrino, o pai comentou que Fionnuala parecia ter melhorado, por outro, a mãe passou a vê-la com mais ceticismo. Não tentara discutir com a filha e a mantivera ocupada; no entanto, após algumas semanas, os sinais de tensão começaram a ocorrer novamente. Houve acessos de raiva e amuos. Mais de uma vez Fionnuala fugira de casa e passara o dia todo fora. Seus pais sugeriram que ela voltasse para a casa do Peregrino, mas ela se recusou; e quando se encontraram com Una na cidade, ficou claro que se criara uma indiferença entre as duas moças.
— É melhor, por segurança, que ela se case — declarou a mãe.
Aquele assunto não era novidade. Fionnuala tinha agora dezesseis anos. Havia anos, seu pai falava em arrumar um pretendente. Mas se fora indolente quando ela era mais nova, a mãe desconfiava que agora ele estava nervoso. Não havia como saber de que modo ela reagiria a qualquer um que eles sugerissem.
— Certamente ela sabe como rejeitá-los, quando quer—observou o pai sombriamente. — Sabe Deus quem ela insultará. — Havia também a questão do dote. Negociações com um futuro marido eram sempre um processo atribulado. Se vazasse a notícia de que Fionnuala era difícil, “nem doze dúzias de cabeças de gado seriam suficientes”, disse seu pai com amargura. O negócio parecia ter toda a probabilidade de levar a um caro constrangimento que o padre tinha de admitir que estivera, a cada mês, secretamente, pondo de lado.
— De qualquer modo — disse agora sua mulher, persuasiva —, talvez eu tenha um candidato.
— Tem?
— Estive conversando com a minha irmã. Há um dos o'Byrne.
— o'Byrne? — Era realmente uma notícia promissora. A irmã de sua mulher fizera muito bem ao se casar com um membro dessa família. Os o'Byrne, como os o'Toole, eram uma das melhores famílias nobres do norte de Leinster.
— Não é Ruairi o'Byrne, é?
— Não, não é. — Mesmo a família o'Byrne, dentre seus muitos membros, tinha o ocasional elo fraco. Acontece que Ruairi pertencia ao ramo mais antigo da família; mas, embora fosse jovem, já adquirira uma fama duvidosa. — Estou falando de Brendan.
Embora fosse apenas um membro de posição inferior no clã real, o padre sempre ouvira dizer que Brendan era um sujeito correto. E se sua filha, em sua atual situação, se casasse com qualquer o'Byrne, com exceção de Ruairi, seria o mesmo que uma bênção.
— Eles já se conhecem? — perguntou.
— Ele a viu certa vez na feira. Parece que perguntou por ela à minha irmã.
— Deixe que ele venha aqui — disse-lhe o marido —, o mais cedo que desejar. — E teria dito mais, se um dos escravos não tivesse aparecido para avisá-lo de que Gilpatrick se aproximava.
Claro que Gilpatrick ficara contente em ver seu velho amigo quando Peter surgiu à sua porta.
— Você disse para eu vir vê-lo se viesse a Dublin — falou FitzDavid com um sorriso.
— Disse. Aha. Disse mesmo — confirmou Gilpatrick — Uma vez amigo, sempre amigo.
Não era totalmente verdade. Não se podia ignorar o fato de as coisas terem mudado. Mesmo entre os clérigos com as mais estreitas ligações com os ingleses, o assassinato de Becket azedara a opinião deles sobre o rei inglês. O pai de Gilpatrick nunca deixava passar uma oportunidade para dizer a ele: “Vejo que seu rei inglês continua amigo da Igreja.” E a perturbadora presença de Strongbow e seu exército começara a preocupar muitos dos bispos. Gilpatrick acompanhara o arcebispo o'Toole a uma conferência no norte, na qual o velho arcebispo de Armagh declarou: “Esses ingleses são certamente uma maldição enviada por Deus para nos castigar pelos nossos pecados.” Os clérigos reunidos até mesmo aprovaram uma resolução que sugeria que todos os escravos ingleses na Irlanda deveriam ser libertados. “Pois, talvez”, alguns aventaram, “o fato de termos escravizado os ingleses tenha sido uma ofensa a Deus”. Gilpatrick não notara que muitas pessoas estivessem libertando seus escravos por conta disso, mas a convicção permaneceu na comunidade: os ingleses eram uma penitência. De qualquer modo, seria estranho ele não saudar o seu velho amigo, e o fez muito calorosamente.
— Você não mudou nada — exclamou.
Isso tampouco era verdade. E agora, enquanto seguiam para a casa de seus pais, Gilpatrick olhou para Peter FitzDavid e achou que, embora pudesse ver o mesmo rosto juvenil e de inocente esperança, agora havia algo mais em seu amigo. Um sinal de angústia, pois o fato era que, embora Peter já estivesse havia três anos prestando serviços, ninguém o recompensara nem mesmo com uma única vaca.
— Você precisa conseguir alguma terra, Peter — comentou ele amavelmente. Era estranho que ele, um irlandês, dissesse tal coisa a um mercenário estrangeiro.
Ma Irlanda tradicional, é claro, um guerreiro podia ser recompensado com animais ue ele pudesse colocar para pastar nas terras de seu clã; mas, pelo menos desde Brian Boru, reis irlandeses, como Diarmait de Leinster, eram conhecidos por recompensar seus seguidores concedendo-lhes propriedades que ficavam no que antes seriam consideradas terras tribais. Entretanto, se alguém tivesse deixado de receber recompensas materiais, refletiu ele, o sistema tradicional era mais generoso. Um bravo guerreiro retornava a seu clã com honra. Um cavaleiro feudal, ainda que tivesse uma família amorosa, não possuía um sistema de clã para sustentá-lo. Até conseguir uma propriedade, embora pudesse ser um homem de honra, não tinha importância maior. O padre irlandês sentiu um pouco de pena de seu amigo estrangeiro.
Se Gilpatrick também estivesse um pouco inseguro sobre que tipo de recepção FitzDavid receberia de seu pai, ele não precisava se preocupar. Seu pai acolheu Peter com majestosa dignidade. E, por sua vez, Peter observou que a casa de pedra do padre era bem mobiliada e bastante confortável, ainda que tivesse notado com cruel deleite que o clérigo mantinha num canto uma taça de caveira com borda de ouro.
Nenhuma menção foi feita a Becket. Os pais perguntaram ao visitante sobre sua família e suas experiências com o rei Diarmait no sul. E quando, finalmente, o pai não conseguiu resistir ao comentário de que, como padre, sentia-se um pouco nervoso em relação ao rei inglês, “em vista do que ele faz aos arcebispos”, Peter rebateu com uma risada.
— Nós também temos medo dele.
Se fosse necessária qualquer prova de cordialidade do pai, esta veio quando ele comentou com o filho:
— Eu realmente não diria que o seu amigo é inglês.
— Aliás, a minha família é flamenga — disse Peter.
— Mas você nasceu no País de Gales? E seu pai também?
— Isso é verdade — concordou Peter.
— Eu diria que fala irlandês como um de nós. Isso é porque fala galês?
— Toda a minha vida.
— Então eu penso — disse o chefe irlandês — que você é galês. — Virou-se para a esposa.
— Ele é galês. — Ela sorriu.
— Você é galês. — Gilpatrick arreganhou os dentes.
— Eu sou galês — concordou Peter sabiamente.
E foi no momento em que esse fato sobre sua identidade foi determinado que uma nova figura surgiu na porta.
— Ah, galês — disse o chefe, baixando subitamente o tom de voz. — Essa é minha filha Fionnuala.
Pareceu a Peter FitzDavid, quando ela passou pela porta, que Fionnuala era a jovem mais bonita que ele já vira na vida. Com seus cabelos negros, a pele pálida, a boca vermelha: não era o perfeito objeto do desejo de qualquer homem? Se os olhos de seu irmão Gilpatrick eram curiosamente sarapintados de verde, os de Fionnuala eram de um espantoso e puro esmeralda. Contudo, o que mais o impressionou, após a breve apresentação, foi a sua modéstia.
Como ela era reservada. A maior parte do tempo seus olhos ficaram abaixados. Dirigia-se aos pais e ao irmão com um respeito que era encantador. Quando ele mesmo se dirigiu a ela, a resposta foi tranqüila e simples. Somente uma vez ela permitiu que um pouco de animação se insinuasse em sua voz, e foi quando falou do Peregrino e sua boa obra no hospital onde, até recentemente, ela trabalhara. Ele ficou tão fascinado com essa jovem virtuosa que, se houve algum olhar de surpresa trocado entre a família, ele não percebeu.
Após algum tempo, os pais de Gilpatrick revelaram que gostariam de falar em particular com o filho, portanto foi sugerido que Fionnuala mostrasse a pequena igreja ao convidado. Este a admirou devidamente. Em seguida Fionnuala levou-o até o Poço de São Patrício e, apontando para a lagoa negra e para o Thingmount à distância, contou-lhe a história de seu ancestral e São Patrício e explicou como o velho Fergus fora enterrado ali. Ouvindo respeitosamente, Peter entendeu então o que Gilpatrick quisera dizer sobre a tradição de sua família. Olhando a moça, observando sua beleza, sua delicada seriedade e sua devoção, ele ficou imaginando se ela devia se dedicar à vida religiosa — e esperou que não. Pareceria um desperdício se ela não se casasse. Ele lamentou quando chegou a hora de voltar.
Fora combinado que aquela seria apenas uma curta visita, mas os pais de Gilpatrick foram tão calorosos em sua receptividade que ambos deveriam voltar num futuro próximo para se banquetearem e se divertirem à moda irlandesa. A mãe de Gilpatrick presenteou-o com frutas cristalizadas. Ao acompanhá-los até o portão, o pai de Gilpatrick fitou além do estuário e comentou:
—Tome cuidado amanhã, galês, pois haverá nevoeiro. — Como o céu estava totalmente claro, Peter achou que seria improvável, mas foi suficientemente educado para não dizê-lo.
Depois que ele e Gilpatrick saíram, Peter não pôde evitar de falar sobre Fionnuala.
— Entendo o que quer dizer sobre sua irmã.
— Ah?
— Ela é mesmo admirável. Uma alma devota.
— Ela é?
— E muito bonita. Ela está para se casar em breve? — acrescentou, um pouco ansioso.
— É provável. Meus pais me disseram que têm alguém em mente. — Ele pareceu um tanto vago.
— Um homem de sorte. Um príncipe, sem dúvida.
— Algo semelhante.
Secretamente, Peter desejou que tivesse condições de pedi-la em casamento.
Quando abriu os olhos, na manhã seguinte, Peter olhou em direção à porta aberta e franziu a testa. Teria acordado cedo demais? Ainda parecia estar escuro.
Havia seis pessoas no local em que ele estava alojado. Ele e outro cavaleiro ocupavam a casa. Três soldados e um escravo dormiam do lado de fora, no quintal. Ele ouvira dizer que o lugar pertencera a um ourives chamado MacGowan, que deixara a cidade logo após a invasão. Ninguém parecia se mexer. Além da porta, havia uma estranha palidez cinzenta no quintal. Levantou-se e foi lá fora.
Neblina. Neblina fria, úmida e branca. Nem mesmo conseguia enxergar o portão a poucos metros de distância. Os homens estavam acordados e sentados amontoados, sob seus cobertores, no pequeno abrigo onde supostamente o ourives trabalhava. Haviam atiçado o braseiro. O escravo preparava alguma comida. Peter encontrou o portão. Se houvesse alguém na alameda, não conseguiria vê-lo ou ouvi-lo. A neblina grudava-se em seu rosto, beijando-o umidamente. Imaginou que o sol logo dissiparia o nevoeiro; até lá, não havia muito o que fazer. O pai de Gilpatrick estava certo. Não devia ter duvidado dele. Voltou para o quintal. O escravo assara alguns bolos de aveia no forno. Pegou um e mastigou cuidadosamente. O bolo de aveia cheirava bem e tinha um gosto bom. Pensou na moça. Embora não se recordasse de ter sonhado durante a noite, parecia que ela estivera em seus pensamentos enquanto ele dormia. Deu de ombros. De que adiantava pensar numa jovem que era inatingível? Era melhor afastá-la de sua cabeça.
Não houve muitas mulheres na vida de Peter. Houve uma moça com quem passou algumas noites felizes, em um celeiro em Wexford. Em Waterford, ele tivera algumas semanas de vigorosa atividade sexual com a esposa de um comerciante, enquanto seu marido estava fora, viajando. Mas em Dublin as perspectivas não pareciam boas. O lugar estava cheio de soldados e metade dos habitantes havia fugido. O cavaleiro com quem ele dividia a casa lhe contara os seus feitos do outro lado do rio, no subúrbio na margem norte.
— Ostmanby é como chamam o lugar, pois muitas famílias nórdicas foram para lá quando chegamos. Eles tiveram de construir abrigos junto às casas existentes. Alguns dos artesãos e operários mais pobres estão pelejando para alimentar suas famílias, por isso suas esposas e filhas vêm para cá... Tive uma semana deliciosa.
Peter chegara logo à conclusão de que a maior parte das façanhas de seu colega era inventada. Certamente as mulheres com quem ele se encontrara, durante a breve visita que fizera a Ostmanby, do outro lado da ponte, não se ofereceram a ele, e as poucas mulheres de vida livre que vira nas ruas não lhe pareceram muito atraentes. Em vez disso, decidira ficar sozinho.
A manhã toda ficou sentado perto do braseiro, jogando dados com os soldados. Ele esperava que o sol de verão dissipasse o nevoeiro, mas embora a manhã estivesse no fim, ele não conseguia enxergar trinta passos adiante da alameda. Quanto à moça, sua imagem continuava presente, flutuando incerta como um espírito em sua mente. E receando que essa presença vagamente inquietante flutuasse para longe e se perdesse em meio ao nevoeiro, ele decidiu sair para caminhar.
Ao deixar a Matadouro de Peixes, pretendia andar apenas uma curta distância, observando cuidadosamente por onde ia, para poder encontrar novamente o caminho de volta; mas logo percebeu que errara. Tinha certeza de que ia na direção oeste e, após algum tempo, supôs estar se aproximando da feira perto do portão ocidental. O hospital onde Fionnuala trabalhara ficava do outro lado desse portão, lembrou-se ele. Possivelmente daria uma olhada nele. Talvez pudesse ter uma idéia do local, mesmo na neblina.
Após algum tempo, porém, ainda não encontrara o mercado. De tempos em tempos, surgiam figuras no meio do nevoeiro e se ele fosse sensato podia ter perguntado o caminho. Mas detestava pedir orientação, por isso continuou em frente até, por fim, avistar o hospital. Havia dois soldados de sentinela.
A neblina do lado de fora do portão era tão espessa que ele concluiu que, se quisesse ver qualquer coisa do hospital, teria de entrar. Quase deu meia-volta, mas sentinelas o observavam e, em vez de admitir seu erro, continuou em frente, passou despreocupadamente por eles e comentou: “Acho que vou ver se o nevoeiro já acabou lá no rio.” E seguiu caminho pela trilha que dava no rio.
Fazia silêncio na ponte. Ele estava só. Podia ouvir os próprios passos soando tediosamente nas tábuas acima da água. A sua direita, os barcos no cais de madeira surgiam nas mortalhas da névoa como insetos apanhados em uma úmida teia de aranha. Ele conseguia enxergar uma centena de metros rio abaixo, mas, ao prosseguir, descobriu que o nevoeiro, finalmente, começava a se dispersar. A meio caminho da travessia, ele viu uma nesga de céu azul. Em seguida, conseguiu distinguir os alagadiços do lado norte do Liffey e os dispersos telhados de palha do subúrbio mais adiante. A esquerda da extremidade da ponte, avistou os verdes barrancos cobertos de grama à luz do sol. Havia um montinho de flores amarelas. Então ele viu...
Homens a cavalo. Todos ao longo da ribanceira, surgindo no meio do nevoeiro. Um grande número deles. E soldados de infantaria, portando lanças e machados. Centenas. Em poucos instantes, eles estariam na ponte.
Só podia significar uma coisa. O rei supremo tinha vindo. E estava para tomar Dublin de surpresa.
Virou-se. Começou a correr. Correu mais depressa do que jamais correra antes, retornando pela ponte nevoenta. Ouviu as próprias passadas e pensou que ouvia seu coração. Estaria ouvindo também o martelar de um tropel nas tábuas? Não achava que fosse, mas não ousou olhar para trás. Chegou ao final da ponte, correu pela trilha, alcançou o portão e viu as duas sentinelas o olharem, surpresas. Somente após atravessar o portão ele se virou, olhou atrás para o caminho vazio às suas costas e ordenou aos sentinelas: “Fechem o portão. Depressa.” E contou-lhes o que tinha visto. Então começou a agir.
Nos poucos minutos que se seguiram, Peter FitzDavid agiu rápida e decididamente. Reuniu alguns soldados e mandou que executassem depressa suas ordens. Um deles foi despachado imediatamente para Strongbow. “Vá direto a ele. Não pare.” Dois outros foram alertar as defesas da orla do rio e do portão oriental. Levando mais um como guia, ele partiu para o portão sul. Se os homens do rei supremo usaram o vau do mesmo modo que a ponte, então era para o grande portão ocidental que eles se dirigiam. Quando ele chegou, nenhuma tropa ainda estava à vista. Mandou que o portão fosse fechado e barricado e, após incitar a guarnição que havia ali, correu pela rua em direção à Igreja de Cristo e o salão real.
Ao chegar ao antigo salão onde Strongbow fixara residência, encontrou o lorde acompanhado por uma dezena de cavaleiros, prestes a montar seu cavalo para descobrir o que estava acontecendo. Olhava em volta, furioso, exigindo respostas sem receber nenhuma.
— Quem deu o alarme? — acabara de perguntar a um comandante aparentando nervosismo.
— Fui eu — gritou Peter enquanto ia na direção dele. Um par de frios olhos azuis concentrou-se nele.
— E quem é você? Era seu momento.
— Peter FitzDavid — disse com ousadia. Rápida e sucintamente, contou a Strongbow o que vira. — Fechei a ponte e o portão ocidental e enviei soldados para todos os outros.
— Ótimo. — Os olhos do grande homem estreitaram-se. — Você esteve com Diarmait, não esteve? — Fez um gesto afirmativo com a cabeça para informar a Peter que ele se lembrava. Em seguida, virou-se para seus cavaleiros. —Vocês sabem o que fazer. Alertar a guarnição. Vão.
Por volta do meio da tarde, o céu estava limpo e claro. O povo de Dublin olhou acima de suas muralhas e viu tropas do rei supremo por todos os lados. Além dos clãs sob seu controle direto, havia os dos grandes chefes que reconheciam a sua autoridade. O antigo Ulaid de Ulster estava acampado em Clontarf. Os o'Brien, descendentes de Brian Boru, estavam com suas tropas nos limites ocidentais da cidade. O irmão do rei Diarmait, que decidira não apoiar Strongbow, trouxera suas tropas e estava acampado do outro lado do acesso a Dublin pelo sul. Todas as rotas de abastecimento da cidade, por terra ou por mar, estavam bloqueadas. O exército do rei supremo estava acampado em um grande círculo em volta das muralhas, com postos avançados para vigiar cada portão atrás de qualquer sinal de uma tentativa inglesa de romper o cerco.
No final da tarde, de um ponto vantajoso acima do cais de madeira, Peter viu o arcebispo OToole atravessar a ponte a cavalo com um grupo de padres para iniciar as negociações. Notou que Gilpatrick era um deles.
Na manhã seguinte, a cidade foi novamente envolvida por um nevoeiro. Strongbow mantinha homens por toda a muralha. Peter foi enviado a pé com um grupo de reconhecimento para procurar qualquer sinal de que os sitiantes estivessem preparando um ataque surpresa. Entretanto, ao perguntar a Strongbow se ele mesmo pretendia preparar de surpresa uma ruptura do cerco, o lorde sacudiu a cabeça.
— Não adianta — disse ele. — Não posso guiar um exército se não consigo vê-lo.
peter voltou de sua patrulha, sem descobrir qualquer sinal de movimentação inimiga. Era sinistro caminhar pela cidade depois disso. Embora as sentinelas nas muralhas permanecessem em silêncio, cada vez que uma figura na rua assomava do nevoeiro, ele meio que esperava ser um inimigo. A notícia que corria era que, assim que a neblina se dissipasse, o arcebispo iria negociar novamente. Peter voltou para o seu alojamento e o encontrou vazio. Sentou-se perto do braseiro e esperou.
O tempo passou. A névoa não parecia se dissipar. No silêncio tudo parecia ligeiramente irreal. Ao olhar para o portão, Peter só via a brancura mais além, como se o pequeno terreno tivesse sido transportado, por alguma estranha magia, para um mundo à parte, escondido no interior de uma nuvem.
Quando uma figura assomou do outro lado do portão, ele achou que fosse o cavaleiro. Quando ela ficou ali— hesitante como um fantasma, em vez de entrar, ele imaginou que poderia ser um ladrão e, olhando para o banco onde estava a sua espada, preparou-se para dar um salto. Sentado onde estava, percebeu que não era facilmente visível lá do portão, e então permaneceu imóvel, sem fazer qualquer ruído. A figura continuou hesitando na entrada, obviamente olhando para o quintal. Por fim entrou. Tinha um capuz sobre a cabeça. Foi na direção do braseiro. Somente quando poderia esticar a mão e tocá-la, ele reconheceu a figura.
A jovem Fionnuala. Ela teve um pequeno sobressalto ao vê-lo, porém nada mais. Ele admirou seu controle. Ela sorriu.
— Pensei em vir ver se você estava aqui. — Ela se divertia com a perplexidade dele. — Gilpatrick me disse onde você estava alojado. Até este ano, esta era a casa de minha amiga.
— Mas como entrou na cidade? — Ele pensou nos guardas no portão da cidade.
— Pela porta. — Nos grandes portões costumava haver uma pequena porta pela qual as pessoas podiam passar isoladamente. — Eles sabem que sou a filha do padre. — Ela olhou em volta. — Você está sozinho? — Ele fez que sim. — Posso sentar perto do fogo? — Ele pegou um banquinho e ela se sentou. Fionnuala retirou o capuz e seu cabelo desceu como uma cascata.
— Gílpatrick contou que você deu o alarme. — Olhou para as brasas do braseiro. — Então agora o rei supremo vai ficar sentado do lado de fora de Dublin, vocês ficarão sentados do lado dentro, e ele vai esperar até vocês morrerem de fome.
Ele a observava, imaginando o que ela queria e por que tinha vindo, e como era possível ser tão bonita. Sua avaliação da situação estava provavelmente certa. O rei supremo tinha toda a rica produção de Leinster nas mãos. Podia alimentar seu exército durante meses. Mas a cidade estava bem abastecida com provisões. Seria um longo cerco.
— Talvez seu irmão e o arcebispo negociem uma trégua com o rei supremo — aventou.
— Gilpatrick diz que o arcebispo quer evitar derramamento de sangue — concordou ela. — Mas o rei o'Connor não confia em Strongbow.
— Porque ele é inglês?
— Que nada. — Deu uma risada. — É porque ele é genro de Diarmait. Por que ela estava ali? Seria alguma espécie de espiã, talvez enviada pelo seu pai para descobrir sobre as defesas de Strongbow? Gilpatrick poderia fazer isso melhor, mas talvez, como mediador, recusasse tal papel. Ele decidiu que, por mais bela e devota que pudesse ser, era melhor ficar de olho nela. Entrementes, conversaram sobre isso e aquilo, ela estendendo as mãos e os finos e pálidos braços na direção do fogo, e ele respondendo, quando exigido, e vigiando-a. Após algum tempo, ela se levantou.
— Agora preciso voltar para a minha casa.
— Devo acompanhá-la até o portão da cidade?
— Não. Não há necessidade. — Lançou-lhe um rápido e curioso olhar. — Você gostaria se eu viesse vê-lo novamente?
— Eu... — Olhou-a fixamente. — Mas é claro — gaguejou.
— Ótimo. — Olhou do portão para a rua. Estava vazia. — Diga-me, Peter FitzDavid — falou baixinho —, você gostaria de me beijar antes de eu ir embora?
Ele fitou-a. A reservada filha do padre, a princesa irlandesa, pedia para ser beijada. Ele hesitou. Estava sendo burro. Educadamente, beijou-a no rosto.
— Não foi isso que eu quis dizer — disse ela.
Não? O que significava aquilo? Ele quase deixou escapar: “Você não está prestes a se casar?” Então disse a si mesmo para não ser idiota. Se ela pedia, quem, a não ser um idiota, se recusaria? Aproximou-se. Seus lábios se encontraram.
Una ficou surpresa, no dia seguinte, ao encontrar Fionnuala na entrada do hospital, e mais ainda quando ela lhe disse por que tinha ido ali.
— Quer voltar a trabalhar aqui?
— Não tenho o que fazer em casa, Una. Não posso ficar o dia todo sentada me sentindo inútil. Meus pais querem que eu more em casa, mas posso passar aqui os dias e algumas noites. Isto é — sorriu pesarosamente —, se você não se importar. — Fez uma pausa e então continuou, séria: —Você tinha razão de ficar zangada comigo, Una. Mas acho que agora eu amadureci um pouco.
Será? Una encarou-a. Talvez. Então disse a si mesma para não ser burra. Não viviam precisando de ajuda no hospital? Ela sorriu.
— O chão precisa ser lavado — disse ela.
A única pessoa que ficou em dúvida foi Ailred, o Peregrino. Sua preocupação era com a segurança dela. Mas Fionnuala foi capaz de convencê-lo sem muita dificuldade.
— Eu posso descer para a cidade pelo pequeno portão — disse-lhe. Havia um pequeno portão nas muralhas da cidade perto da igreja do pai dela. — Depois posso sair pelo portão oeste e atravessar para o hospital. Ninguém vai me machucar por eu estar vindo da igreja ou indo para o hospital. — Diga-se, a bem da verdade, que nem os ingleses nem as tropas do rei supremo haviam incomodado qualquer uma das casas religiosas que havia por toda a cidade. A filha do padre poderia ir a qualquer lugar, sem ser molestada, até mesmo em meio a um cerco militar.
— Falarei com seu pai — prometeu o Peregrino.
E, assim, naquela noite, ficou combinado. Fionnuala desceria vários dias por semana para o hospital. Algumas vezes dormiria lá.
— Quem sabe... — comentou seu pai com Ailred. — Talvez ela esteja amadurecendo.
A proposta do rei supremo veio três dias após o arcebispo e Gilpatrick terem ido procurá-lo.
— Que Strongbow fique com Dublin, Wexford e Waterford — disse ele —, não precisaremos brigar.
De certa forma era uma oferta generosa. O rei supremo estava disposto a abrir mão do porto mais importante da Irlanda para o soberano inglês. Para Gilpatrick porém, parecia ser também a oferta um tanto tradicional. O arcebispo resumiu-a quando, no caminho de volta, comentou:
— Suponho que será apenas, de certo modo, trocar os ingleses pelos ostrnen nos portos.
Era isso, pensou Gilpatrick. Mesmo agora, após três séculos vivendo lado a lado, os irlandeses ainda viam os antigos portos vikings, por mais cruciais que fossem para a prosperidade da Irlanda, como lugares à parte. Para os antigos clãs, e para o rei supremo o'Connor de Connacht, pouco importava quem dominasse os portos, desde que não invadisse o verde e fértil interior da Irlanda.
Mas o rei o'Connor não era bobo. Havia, também, uma esperteza na oferta. Se ele estava disposto a ceder Dublin, também queria garantir que Strongbow reduzisse o tamanho de seu exército. Portanto, precisava negar a este a única coisa que possibilitaria sua permanência: terras. As concessões feudais de terras em troca do serviço militar. Era por isso que todos tinham vindo, desde o jovem e pobre Peter FitzDavid à família do próprio Strongbow. A oferta do rei supremo não lhes dava isso.
— Vamos torcer para que Strongbow aceite — disse o devoto arcebispo. Mas Gilpatrick tinha suas dúvidas.
Foi no dia seguinte, antes de haver qualquer resposta, que ele viu Peter FitzDavid na Matadouro de Peixes. Cumprimentaram-se de forma amistosa, mas com um vestígio de falta de jeito. Com o cerco à cidade, era desaconselhável uma visita à casa de seus pais, do lado de fora da muralha. Além disso, já que seu pai estava do lado do rei supremo, ele talvez não se interessasse em se encontrar novamente com Peter naquele momento. Conversaram de forma bastante agradável, mas só até Peter perguntar casualmente:
— E quais são os planos para o casamento de sua irmã?
Gilpatrick franziu a testa. Por que a pergunta soou mal? Será que seu jovem amigo alimentava alguma esperança nesse sentido? Afinal de contas, ele mesmo tivera essa idéia alguns anos atrás. Mas as perspectivas de Peter, no presente, não pareciam muito animadoras. Dificilmente seria um bom partido. Sorriu ironicamente para si mesmo. Pensando bem, não seria bem um favor desejar sua temperamental irmã para o jovem Peter FitzDavid.
—Terá de perguntar aos meus pais — respondeu apressadamente e foi embora.
Não havia dúvida, Una tinha de admitir que Fionnuala havia mudado. Ela podia não ir todos os dias, mas, quando ia, trabalhava incansavelmente e sem reclamar. Agora só havia elogios por parte dos pacientes. Ailred estava satisfeito e fez questão de dizer a seu pai o quanto ela havia melhorado. Às vezes, ela passava a noite no hospital, outras vezes precisava sair durante a tarde. Mas sempre avisava Una com antecedência.
Nunca havia qualquer problema por parte dos soldados ingleses. Suas sentinelas avançadas ficavam muito próximas, mas sabiam quem era ela e aonde ia. Certa vez, ela e Una foram até mesmo caminhar na ponte, sem que ninguém as perturbasse e, após uma troca de palavras com os soldados ingleses do outro lado, elas foram liberadas para voltar.
Entretanto, quando a segunda semana de cerco se tornou a terceira, o cordão de isolamento em volta da cidade começou a fazer efeito. Do mesmo modo que as várias tropas em volta da muralha, os homens de Ulster em Clontarf vinham conseguindo com sucesso afastar todos os barcos que queriam entrar no Liffey. Nenhum suprimento chegava a Dublin por qualquer das estradas, e os estoques de tudo acabavam pouco a pouco. Notícias também não conseguiam passar.
Havia meses que ela não tinha notícias de seu pai em Rouen. Um marinheiro tinha ido ao hospital e entregara uma mensagem de MacGowan, dizendo que ele e o resto da família estavam bem, que ele conseguira trabalho como artesão, mas que a vida estava difícil e que, se Una estava segura com o Peregrino, deveria permanecer onde estava. Também foi pedido ao marinheiro que perguntasse se ela encontrara o cachorro que perdera, quando a família havia partido.
O cachorro. Ela entendeu que seu pai se referia ao cofre. Aquele era o momento que vinha temendo. Por semanas após ter feito a terrível descoberta, imaginara o que dizer ao pai. Não suportava pensar na infelicidade e aflição que isso causaria, se ele soubesse a verdade. Mas o Peregrino fora firme com ela.
“Precisa dizer a ele, Una. Imagine se ele volta acreditando que tenha essa fortuna à espera e depois descobre que nada tem. Seria um choque muito pior.” Portanto, ela mandou de volta a mensagem: “O cachorro perdeu-se.” E, desde então, não soubera do pai. Não tinha como saber se estava vivo ou morto.
Apesar do fato de tê-la beijado, Peter não esperava realmente ver Fionnuala outra vez. Mas dois dias após sua visita, um dos soldados entrou na casa para lhe dizer que havia uma moça no portão que dizia ter uma mensagem de um dos padres para ele. Ao vê-la ali, ele supôs que ela tivesse mesmo trazido um recado de Gilpatrick. Seu cumprimento foi formal e ao mesmo tempo amigável; e quando ela perguntou se ele podia acompanhá-la até a Igreja de Cristo, ele educadamente concordou. Peter ficou um tanto surpreso ao entrarem na Matadouro de Peixes, quando ela se virou para ele com um sorriso e falou:
— Sabe, não tenho nenhum recado de Gilpatrick.
— Não tem?
—Eu estava pensando — continuou ela calmamente — que talvez pudesse ir novamente ao seu alojamento, quando não estivesse muito cheio.
— Oh.
Ela parou numa barraca, olhou as frutas para ver se estavam frescas e seguiu adiante.
— Você gostaria disso?
Não havia como entender errado o que ela quis dizer. A não ser que estivesse fazendo algum tipo de brincadeira com ele, e não achava que estivesse, a moça estava marcando um encontro amoroso.
— Eu gostaria muito — ele ouviu-se dizer.
— Eu poderia ir amanhã, no fim da tarde talvez?
Os soldados, ele sabia, estariam de serviço como sentinelas nessa ocasião. O cavaleiro com quem dividia a casa talvez estivesse lá, mas poderia entrar num acordo com ele.
— Amanhã seria conveniente — respondeu ele.
— Ótimo. Agora devo ir para casa — disse ela.
No dia seguinte, ao esperar sozinho na casa, ele teve momentos de aflição. Não achava que a garota fosse uma espiã. Contudo, não havia hipótese de que seu pai ou seu irmão permitissem que ela perdesse a virtude por qualquer outro motivo. A outra possibilidade era de que, por trás de uma máscara de seriedade, ela escondesse um caráter completamente diferente. Pelo que sabia, ela já tinha dormido com metade de Dublin.
Ele se importava? Pensou a respeito. Sim, se importava. Ele era um jovem saudável e com todos os apetites sexuais de qualquer homem de sua idade, mas também era bastante exigente. Não queria ser seduzido pela puta da cidade. Ora, ela podia até mesmo ser suja. As doenças venéreas existiam, principalmente nos portos, por toda a Europa. Dizia-se que passara a haver mais desde que as cruzadas começaram. Peter nunca ouvira falar de alguém contaminado na Irlanda, mas nunca se sabia.
Então disse a si mesmo que seus temores eram bobagem. Ela era apenas uma moça comum que, por acaso, era filha de um padre. Mas isso em si continha outros perigos, sobre os quais ele tentava não pensar. Como resultado de todas essas dúvidas, quando ela chegou no dia seguinte, ele estava consideravelmente nervoso.
Quando Fionnuala chegou, um pouco atrasada, pareceu-lhe que ela estava pálida e também nervosa. Perguntou-lhe se estavam sozinhos e, quando ele disse que estavam, ela pareceu contente, mas de certo do modo distraída, como se não tivesse certeza do que fazer a seguir. Ele havia preparado hidromel quente e bolos de aveia e perguntou-lhe se queria um pouco. Ela fez que sim, agradecida, e sentou-se com ele no banco perto do forno de pão, para comer. Bebeu o hidromel. Ele lhe deu mais. Somente após tomá-lo e começar a parecer um pouco ruborizada, virou-se para ele e perguntou:
— Você já fez amor com mulheres, não? Ele entendeu e sorriu amavelmente.
— Já — disse ele. — Já fiz. Você não precisa se preocupar.
Em seguida ele a conduziu para o interior da casa, que estava escura exceto por um trecho de luz solar vespertina que vinha através da porta. E ele ia ajudá-la a tirar o capote, mas ela gesticulou para que recuasse; então, diante dele, ela calmamente livrou-se das roupas e ficou nua na sua frente.
Peter prendeu a respiração. Seu corpo era pálido e delgado, os seios um pouco mais cheios do que ele esperava — era a mulher mais bonita, pensou, que já vira. Foi na direção dela.
Dois dias depois, eles se encontraram novamente. Dessa vez, foi necessário fazer confidências ao cavaleiro com o qual dividia o alojamento. Com algum gracejo e tapinhas de felicitações nas costas, seu companheiro garantiu a Peter que sumiria até o anoitecer, e cumpriu a palavra. Antes de ir embora, Fionnuala combinou voltar na tarde seguinte. Ele lhe perguntara como conseguia tomar todas essas providências para visitá-lo, sem chamar a atenção. Era simples, ela explicara. Tinha voltado a trabalhar no hospital e, a caminho de lá, atravessava a cidade. “Portanto, quando quero vir aqui, digo no hospital que preciso ir em casa; e, quando volto para casa, digo que acabei de vir do hospital. Ninguém jamais vai desconfiar.”
Em pouco tempo, faziam amor apaixonado dia sim, dia não. Então Fionnuala sugeriu:
— Amanhã poderia passar a noite.
— Onde nos encontraremos? — quis saber ele.
— Há um armazém lá no cais — disse ela.
Revelou-se ser um local encantador. O armazém ficava no fim do cais de madeira. Tinha um jirau contendo fardos de lã. Havia uma porta dupla numa extremidade do jirau que abria para a água, com uma vista para leste acompanhando o rio em direção ao mar. A noite de verão foi curta e quente; os fardos de lã deram uma cama agradável; e, ao amanhecer, eles abriram as portas e viram o sol nascer sobre o estuário, inundando o Liffey de luz, enquanto faziam amor novamente.
Mais tarde, após comerem as provisões que haviam trazido, Fionnuala escapuliu na direção do portão ocidental, onde acharam que ela acabara de atravessar a cidade, vindo de sua casa. Peter esperou um pouco e então, quando começavam a aparecer as primeiras pessoas no cais, fez o caminho de volta em direção ao seu alojamento.
Havia começado a subir a Matadouro de Peixes, quando avistou Gilpatrick.
Por um momento, imaginou se conseguiria evitá-lo. Mas Gilpatrick já o tinha visto. Vinha em sua direção, sorrindo.
— Bom dia, Peter. Acordou cedo. — Gilpatrick examinava-o com certo divertimento. Peter se deu conta de que devia parecer desalinhado, após a noite passada. Passou a mão no cabelo para arrumá-lo. — Parece que teve uma noite cansativa — disse Gilpatrick, com um piscar de olhos. — É melhor ir à igreja e fazer uma boa confissão. — Mas, por trás da amável caçoada, Peter também sentiu uma insinuação de repreensão sacerdotal.
— Na verdade, não consegui dormir — alegou ele. — Já esteve no cais para ver o sol nascer sobre o estuário? É lindo.
Ele pôde notar que Gilpatrick não acreditou nele.
— Acabo de ver a minha irmã agora mesmo — disse Gilpatrick. Peter sentiu-se empalidecer.
— Sua irmã? Como vai ela?
— Trabalhando com afinco no hospital, alegro-me em dizer.
O padre o estaria olhando de maneira diferente? Teria adivinhado? Peter bocejou e sacudiu a cabeça para ocultar sua confusão. O que Gilpatrick estava dizendo?
— Ela e Una estavam vindo do hospital. Você conhece Una MacGowan? É na casa dela que você está morando.
— Ah, não. Não conheço.
Fionnuala devia ter andado depressa. Amavelmente, ele murmurou que precisava ir e se afastou depressa.
Pouco depois, porém, ao se sentar em seu alojamento, Peter passou por alguns momentos desconfortáveis. Seu caso com Fionnuala fora tão inesperado e emocionante que até então ele não pensara muito nos riscos. O encontro com Gilpatrick o arremessara subitamente para um novo estado de alerta. O jovem padre adivinhou que ele passara a noite com uma mulher. Os soldados na casa também sabiam. Haviam trocado olhares quando ele chegou. Isso significava que, em breve, a maioria dos soldados em Dublin ficaria sabendo. No âmbito do exército, é claro, isso só aumentaria sua reputação. Mas também era perigoso. As pessoas perguntariam quem era a moça. Talvez tentassem descobrir.
E se descobrissem? Um pânico frio e terrível o dominou ao pensar nisso. Vejam só quem era a moça. A filha de um clérigo amigo do bispo Lawrence OToole e chefe de uma importante família local. A irmã de um padre envolvido nas negociações com o rei supremo. Essas eram exatamente as pessoas de que, se quisesse tomar o lugar de Diarmait em Leinster, Strongbow precisava como seus amigos. Não importava o fato de que foi a jovem quem praticamente o seduziu. Ao dormir com ela, ele desonrara sua família. Pois ele não tinha dúvidas sobre o comportamento exigido de uma filha solteira de uma família importante como aquela. Ele abusara da amizade de Gilpatrick e da hospitalidade de seus pais. Eles nunca o perdoariam. Exigiriam sua cabeça e Strongbow o sacrificaria sem pestanejar. Ele estava acabado.
Haveria uma saída? E se ele terminasse o caso agora mesmo e ninguém descobrisse? A lembrança da noite que acabara de passar com ela ocupou seus pensamentos: seu cheiro, a cálida e intensa paixão que haviam compartilhado, os longos e sensuais momentos em que o corpo pálido dela cingia o seu, as coisas que fizeram. Um homem, pensou, praticamente enfrentaria a morte por noites como essa. Teria de desistir delas?
Talvez não, pois outra suposição surgiu em sua mente. Mesmo se ele fosse apanhado, o resultado não precisaria ser tão ruim. E se ele enfrentasse tudo descaradamente? Tratar todo o assunto como uma incumbência militar? Isso, tinha certeza, era o que um homem como Strongbow faria. Se Fionnuala fosse descoberta, se vazasse a notícia de que ela fora desonrada, suas chances de casamento com um príncipe irlandês não seriam muito grandes. Para manter a reputação da moça, sua família teria de consentir, embora a contragosto, que ela se casasse com ele. Levou em conta a situação do pai dela: a renda das propriedades da igreja, a grande extensão de terra que possuía no litoral, suas muitas cabeças de gado. Fionnuala deveria receber um belo dote, no mínimo para preservar a honra da família. Como marido de uma jovem de uma proeminente família de Leinster como aquela, Strongbow, também casado com uma princesa de Leinster, não teria toda a probabilidade de se interessar por ele? Se mantivesse a cabeça fria, esse problema poderia se tornar a melhor coisa que ele já fizera.
Dois dias depois, passou novamente a noite com Fionnuala.
O cerco a Dublin continuou por semanas. Em volta da cidade, os sitiadores passavam um tempo agradável. O gado e os animais domésticos, as hortas, os pomares, as plantações, toda a produção da área estava em suas mãos. Nos seus acampamentos, podiam desfrutar o quente verão e esperar a colheita amadurecer.
No interior da cidade, porém, as coisas não eram tão agradáveis. Embora o córrego que vinha do sul tivesse sido interrompido, havia bastante água; havia peixe fresco do Liffey, se bem que não o suficiente. Ainda havia os estoques de grãos da cidade; havia pequenos pedaços de terra com legumes e alguns porcos. Contudo, após terem se passado seis semanas, ficou claro para Strongbow que, mesmo mantendo suas tropas com rações menores, só conseguiria agüentar mais três ou quatro semanas no máximo. Depois disso, teriam de começar a abater os cavalos.
Não foi, portanto, surpresa para Gilpatrick, na sexta semana de cerco, se convocado pelo bispo OToole para acompanhá-lo em uma missão até o acampamento do rei supremo. Nessa missão ele seria a única pessoa a acompanhar o grande homem. Partiram ao meio-dia, cavalgando pela longa ponte de madeira para lado norte do Liffey e depois na direção oeste, um pouco distante da margem rio, em um local onde o rei dissera que os encontraria.
O arcebispo parecia cansado. Seu ascético rosto finamente desenhado revelava linhas de tensão em volta dos olhos; e Gilpatrick sabia que não era apenas porque sentia o peso de suas responsabilidades, mas porque sua natureza sensível e poética sofria quase uma dor física ao contemplar o sofrimento dos outros. Quando o rei de Dublin fora morto após seu fracassado ataque no ano anterior, o piedoso bispo ficara visivelmente angustiado. Ele agora estava preocupado, visto que as propostas feitas pelo rei supremo a Strongbow ainda não tinham sido aceitas, e via apenas sofrimento e derramamento de sangue a sua volta. “Ele culpa a si mesmo”, disse Gilpatrick a seu pai. “Não é culpa dele, é claro, mas essa é a sua natureza.”
Quando chegaram ao local do encontro, descobriram que lhes fora preparada uma bela recepção. Fora montado um enorme salão com telhado de palha, com uma parede de vime no lado norte e os outros lados deixados abertos. Dentro havia bancos cobertos com almofadas e tecidos de lã, e mesas com um esplêndido banquete sobre elas. O rei supremo, acompanhado de alguns de seus chefes mais importantes, cumprimentou-os calorosa e respeitosamente e os convidou a comer, o que pelo menos Gilpatrick ficou feliz em fazer. Contudo, apesar de toda a sua genuína amabilidade, o significado do banquete não passou despercebido.
O rei supremo queria lhes dizer que tinha suprimentos abundantes, ao mesmo tempo que a visão do rosto de Gilpatrick dizia ao rei que, como ele suspeitara, a comida era escassa na cidade.
O rei o'Connor era um homem alto, forte, com um rosto largo e uma grande quantidade de cabelo negro encaracolado que caía com uma espessura quase oleosa até seus ombros. Seus olhos negros tinham um leve brilho que, segundo Gilpatrick ouvira dizer, fascinava as mulheres.
— Estou aqui há seis semanas — disse-lhes. — Mas, como podem ver, estamos fora de vista da cidade; portanto, por favor, não lhes digam onde estamos. Posso me banhar no Liffey todas as manhãs. — Sorriu. — Se Strongbow quiser, terei o maior prazer de ficar aqui um ano ou dois.
Gilpatrick fartou-se de comer. Até mesmo o asceta arcebispo aquiesceu em tomar um ou dois cálices de vinho. E, para deleite de Gilpatrick, eles foram entretidos por um talentoso harpista; e, melhor ainda, um bardo recitou uma das antigas narrativas irlandesas, de Cuchulainn, o guerreiro, e como ele ganhou esse nome. Foi num bom estado de ânimo que o pequeno grupo de homens discutiu sinceramente o problema dos ingleses.
— Eu tenho uma nova proposta — iniciou o arcebispo — e ela o surpreenderá. Strongbow ainda quer Leinster. Mas — fez uma pausa — está preparado para tirá-la de você do modo irlandês. Fará um juramento, entregará reféns. Em termos ingleses, você será o chefe supremo dele. — Olhou cuidadosamente para o rei supremo. — Sei que você acreditava que ele pretendia conquistar a ilha toda mas não se trata disso. Ele está disposto a aceitar Leinster de suas mãos e aceitá-lo como rei. Creio que essa proposta deve ser encarada seriamente.
— Ele manteria Leinster do mesmo modo que Diarmait?
— Manteria.
O rei suspirou e depois esticou os longos braços.
— Mas o problema não é exatamente esse, Lorcan? — Estavam falando em irlandês e ele usava o nome irlandês do bispo. — Você não teria confiado em Diarmait. O homem estava disposto a sacrificar o próprio filho para quebrar seu juramento. Está dizendo que Strongbow é melhor?
— Não gosto dele — retrucou OToole com franqueza —, mas é um homem honrado.
— Se é assim, Lorcan, então me diga uma coisa: como pode esse homem honrado estar disposto a jurar que sou seu chefe supremo se já fez esse juramento ao rei Henrique da Inglaterra? Não há uma contradição nisso?
O arcebispo pareceu desconcertado. Olhou para Gilpatrick.
— Creio — disse Gilpatrick — que posso explicar isso. Veja, tecnicamente, não acredito que Strongbow tenha realmente oferecido vassalagem ao rei Henrique, pelas suas terras irlandesas. Portanto, o senhor será seu chefe supremo por Leinster, e Henrique pelas terras dele na Inglaterra. — E percebendo que os outros dois homens tinham um ar inexpressivo, ele explicou: — Aqui, cada metro de terra tem um senhor e, portanto, muitos prestam vassalagem a diferentes senhores, por cada pedaço de terra que se possui. — Sorriu. — Muitos dos grandes lordes, como Strongbow, por exemplo, prestam vassalagem a Henrique pelas suas terras na Inglaterra, e ao rei da França pelas suas terras na França.
— E onde fica a lealdade deles? — quis saber o rei.
— Depende de onde estejam.
— Santo Deus, que espécie de gente são esses ingleses? Não admira que Diarmait gostasse deles.
— Para eles, um juramento não é tanto uma questão pessoal — disse Gilpatrick. — É mais uma questão de lei. — Procurou uma característica que desse uma idéia do espírito do feudalismo Plantageneta. — Poder-se-ia dizer, suponho, que eles estão mais interessados em terra do que em gente.
— Que Deus os perdoe — murmurou o arcebispo, ao mesmo tempo que ele e o rei o'Connor trocavam olhares horrorizados.
— Você acha que se ele tivesse Leinster e a capacidade de premiar todos os seus soldados e tantos outros que pudesse contratar, esse tal de Strongbow seria confiável a fim de não atacar as outras cidades da Irlanda? — indagou o rei o'Connor. E, antes que o piedoso arcebispo conseguisse ao menos formular uma resposta, continuou: — Nós o temos cercado em segurança lá em Dublin, Lorcan. Não há nada que ele possa fazer. Que ele permaneça lá até aceitar a nossa proposta de ficar só com os portos. É isso ou morrer de fome. Não precisamos barganhar com ele ou aceitar esses juramentos ingleses que não são feitos com o coração.
Para Fionnuala, as impetuosas semanas do verão tinham sido uma revelação. Ela nunca se dera conta de quanto sua vida fora aborrecida.
Sabia, é claro, que era aborrecida: aborrecida pelos pais, aborrecida pelos irmãos — não que ela os encontrasse muitas vezes, graças a Deus —, aborrecida pela sua vida em Dublin e no hospital. Aborrecida pelo bondoso Peregrino e sua esposa. Era até mesmo aborrecida por Una, que tinha boas intenções, mas sempre tentava reprimi-la. Na companhia de Una, sentia-se como um cavalo selvagem forçado a puxar uma pequena e pesada carroça.
Era isso que ela queria? Nem mesmo sabia. Algo mais: um céu maior, uma luz mais brilhante.
O que fazia uma garota quando estava aborrecida? Furtar maçãs não era muito divertido. Havia os rapazes do local para se namorar. Ela sabia que isso irritaria seus pais. A verdade, porém, era que os rapazes locais a aborreciam. E aqueles velhos do hospital tinham sido apenas uma brincadeira. Mais recentemente, houve os soldados ingleses para se pensar. Os homens, na sua maioria, pareciam vulgares; ela tinha mais medo de ser violentada do que seduzida. Alguns dos cavaleiros eram bem bonitos, mas pareciam velhos demais e ela os temia um pouco.
Contudo, quando o amigo de Gilpatrick, o cavaleiro do País de Gales, apareceu na casa deles, ela achou que era o jovem mais bonito que já vira em toda a sua vida. E soube de imediato que era ele quem poderia ser o tal para abrir os portões para a grande aventura da vida. O resultado fora além dos seus sonhos mais extravagantes.
“Galês”, era assim que ela o chamava, como seu pai havia feito. “Meu galês.” Conhecia cada cacho de seu cabelo, cada centímetro de seu vaidoso corpo jovem. Às vezes, quase se perdia em admiração por ser capaz de estar de posse de tal coisa.
Estaria ela apaixonada? Não exatamente. Sentia-se entusiasmada demais, satisfeita demais consigo mesma até para estar apaixonada. O despertar sexual, é claro, foi maravilhoso, simplesmente a melhor coisa, disse a si mesma, que já lhe acontecera. Mas a aventura, o jogo, era a maior das emoções. Era saber que estava enganando a todos o que aumentava sua empolgação enquanto seguia caminho em direção aos seus afazeres. Era saber que acabara de sair da cama dele, enquanto Una executava seu sério trabalho, o que fazia as manhãs no hospital parecerem repletas de luz e de vida. Era saber que o que fazia era perigoso e proibido o que lhe causava tremores por antecipação, enquanto seu jovem amante vinha até ela e dava um clímax à sua paixão.
Havia um outro risco além de o de ser descoberta. Mesmo no período medieval, as mulheres conheciam métodos anticoncepcionais, mas eram imperfeitos, permeáveis, inseguros. Ela sabia do risco, mas tentava não pensar. Não desistiria. E, assim, o caso continuou. Era amor, era paixão — era algo para fazer.
Três dias após a malsucedida missão de seu irmão junto ao rei supremo, Fionnuala, parada na entrada do hospital, viu Una vir correndo do portão ocidental da cidade. Era quase meio-dia. Fionnuala passara a noite anterior com Peter no cais e, como de hábito, chegara de manhã bem cedo ao hospital. Uma hora atrás, Una fora à cidade para uma incumbência. Agora, sua amiga voltava correndo, e Fionnuala achava que ela tinha sido picada por uma abelha. Não demorou muito para descobrir o motivo.
— Depois de ir à catedral, para rezar pelo meu pobre pai... e por você também, Fionnuala... me encontrei com o seu pai. — Arrastou Fionnuala para um canto do edifício onde não seriam ouvidas. — E ele me disse: “Que bom que Fionnuala está passando tanto tempo no hospital. Mas, como ela estava com você a noite passada, não pude lhe pedir para não deixar de voltar para casa esta tarde. Teremos visitas. Você diz isso a ela?” E ali fiquei eu, de pé como uma idiota, e falei: “Sim, padre, eu direi.” E quase minha boca disse sem querer que você não estava no hospital. — Ela agora encarava Fionnuala com um olhar arregalado de repreensão. — Já que não estava aqui e não estava lá, onde, em nome de Deus, você estava?
— Em outro lugar. — Fionnuala fitou enigmaticamente sua amiga. Ela estava adorando aquilo.
— Como assim em outro lugar?
— Bem, se eu não estava aqui e não estava lá...
— Não venha com brincadeiras comigo, Fionnuala. — Una agora enrubesceu de raiva. Olhou de modo penetrante para a amiga. — Não quer dizer que...? Oh, meu Deus, Fionnuala, você esteve com algum homem?
— Posso ter estado.
— Você está maluca? Em nome dos céus, quem?
— Não vou dizer.
O tapa que atingiu seu rosto pegou Fionnuala de surpresa e quase a fez cambalear. Ela revidou, mas Una estava preparada para ela e agarrou sua mão.
— Sua idiota imatura — berrou Una.
— Você está com ciúmes.
— É nisso que pensa? Não pensa no que vai ser de você? Não liga para a sua reputação e para a sua família?
Fionnuala enrubesceu. Agora sentiu que começava a se irritar.
— Se você não parar de gritar—disse contrariada —, toda a Dublin vai mesmo acabar sabendo.
— Precisa parar com isso, Fionnuala. — Una baixou a voz até quase um cochicho. — Precisa parar imediatamente. Antes que seja tarde demais.
— Talvez eu pare. Talvez não.
— Vou contar ao seu pai. Ele fará você parar.
— Eu pensei que você fosse minha amiga.
— E sou. É por isso que vou contar a ele. Para salvá-la de você mesma, sua menina estúpida.
Fionnuala ficou calada. Em particular, ela se ressentia do tom de voz complacente de sua amiga. Como ousava ela lhe dar ordens daquela maneira?
— Se contar, Una — falou lentamente —, eu mato você. — Isso foi dito tão mansamente e com tal força que Una empalideceu sem se dar conta. Fionnuala olhou-a fixamente. Teria ela falado sério? A própria Fionnuala não sabia dizer. Estaria prestes a destruir a amizade delas? De qualquer modo, deu-se conta, de nada adiantaria ameaçar Una.
— Lamento, Fionnuala. Preciso fazer isso.
Fionnuala fez uma pausa. Então baixou os olhos. Deu um suspiro. Depois olhou demoradamente na direção do portão oeste. Depois baixou os olhos e não se mexeu mais ou menos por um minuto. Daí gemeu: — Oh, é tão difícil, Una.
— Eu sei.
— Acha mesmo que tenho de fazer isso?
— Eu sei que precisa.
— Vou parar de me encontrar com ele, Una. Eu vou.
— Agora? Vai prometer? Fionnuala deu-lhe um sorriso irônico.
— Você vai contar ao meu pai, se eu não prometer. Lembra-se?
— Eu teria de fazer.
— Eu sei. — Suspirou novamente. — Eu prometo, Una. Vou desistir dele. Eu prometo.
Então elas se abraçaram e Una chorou e Fionnuala também chorou; e Una murmurou:
— Eu sei, eu sei — e Fionnuala pensou: você não sabe de nada, sua puritana mesquinha, e o acordo foi selado.
— Mas nunca deverá me denunciar, Una — disse Fionnuala. — Porque, mesmo se em toda a minha vida eu nunca mais olhasse para um homem novamente, você sabe o que o meu pai faria. Ele me açoitaria até eu não conseguir ficar de pé e depois me mandaria para o convento de Hoggen Green. Você sabe que ele já me ameaçou com isso. Você promete, Una? — Olhou-a suplicante. — Promete?
— Prometo — disse Una.
Fionnuala estava pensativa naquela tarde, quando foi para casa. Se quisesse continuar o romance sem a interferência de Una, teria de tomar novas precauções. Talvez numa manhã devesse ir para o hospital na companhia do pai ou do irmão, para mostrar que estivera em casa. Teria de se encontrar algumas vezes com Peter à tarde. Assim que afastasse as suspeitas de Una, o romance sem dúvida poderia voltar ao seu esquema anterior. Ficou tão ocupada pensando nessas providências que quase esqueceu o motivo pelo qual fora para casa mais cedo.
Chegou ao caminho de acesso à casa, que ficava logo ao lado da igrejinha. Notou os dois cavalos ali e lembrou-se dos visitantes, mas sem ficar curiosa. Tivera, porém, o bom senso de endireitar as roupas e passar a mão pelos cabelos antes de atravessar o portão. Como era verão, haviam instalado bancos e cavaletes sobre a grama. Seu pai e sua mãe estavam ambos ali e sorriam. O mesmo fazia seu irmão Gilpatrick. Viraram-se de um modo que sugeriu que tinham estado à espera dela, falando nela.
Sua mãe agora vinha em sua direção, ainda sorrindo, mas com uma estranha expressão no olhar.
—Venha, Fionnuala—disse ela. — Os nossos convidados já chegaram. Venha cumprimentar Brendan e Ruairi o'Byrne.
Uma semana após a ameaça de Una, Peter FitzDavid continuava se encontrando com Fionnuala. Eles vinham sendo cautelosos, encontrando-se durante as tardes ou à noitinha, sem passar a noite juntos. A chegada dos primos o'Byrne ajudara. Espertamente, Fionnuala incentivara o pai a convidá-los a visitá-la um dia, no hospital, enquanto estava trabalhando lá. Eles a tinham visto reservada e piedosa, trabalhando com Una e a esposa do Peregrino; e Una, por sua vez, vira que Fionnuala agora tinha em perspectiva um sério pretendente. “Ela nem mesmo consegue imaginar”, dissera Fionnuala a Peter, às gargalhadas, “que eu seja capaz de olhar para outro homem já que terei chance de me casar com um o'Byrne.”
Peter não encarou os recém-chegados tão frivolamente assim. Por intermédio de Gilpatrick, soube que Brendan o'Byrne era o tal que seus pais queriam para a filha; mas se ela agradaria a Brendan e se os nobres o'Byrne talvez achassem que Brendan poderia conseguir algo melhor, ainda estava para ser decidido. Seu primo Ruairi era outro assunto, e os pais de Gilpatrick não ficaram nem um pouco contentes em vê-lo. “Brendan é um excelente homem, honrado, mas Ruairi é o mais presunçoso dos dois.” Gilpatrick deu um olhar sombrio para Peter. “Não sei por que está aqui”, murmurou.
Peter achava que podia adivinhar. Provavelmente, Brendan trouxera o primo, a despeito de sua reputação, para lhe dar cobertura. Se tivesse vindo sozinho, pareceria óbvio demais; se decidisse não fazer uma proposta por Fionnuala, poderia decepcionar ou mesmo ofender o chefe; mas se os dois primos fizessem uma visita amigável e depois fossem embora, ninguém poderia dizer nada contra ele.
Deveria ficar com ciúmes desse jovem príncipe cauteloso? Peter perguntou-se. Provavelmente. o'Byrne tinha toda a riqueza e a posição que lhe faltavam. Ele era um excelente partido para Fionnuala. Se eu tivesse um pingo de decência, Pensou, devia me afastar e parar de fazer essa moça perder tempo. Você não é melhor, disse irritadamente a si mesmo, do que um ladrão na noite. Mas, então ela ia novamente ao seu alojamento e, contra sua vontade, ele cedia de imediato
Além de seu corpo, Fionnuala lhe levava também comida, pois a comida ficava cada vez mais escassa na cidade. Até mesmo Gilpatrick passava fome. “Meu pai tem fartura na igreja”, explicou. “E ninguém me impede de ir vê-lo. Mas a dificuldade é o arcebispo. Ele diz que devemos sofrer junto com a população da cidade. O problema é que, de qualquer modo, ele nunca come mais do que uma casca de pão.” Peter não podia contar-lhe que, quase todos os dias, Fionnuala contrabandeava comida da casa do pai para ele.
Certa manhã, após dispensar seus homens, ele voltava do serviço de sentinela na muralha e aguardava ansioso o encontro que teria com Fionnuala naquela tarde, quando, ao passar pela Igreja de Cristo, avistou Strongbow. O grande senhor estava sozinho, olhando para baixo na direção do rio, aparentemente perdido em pensamentos; e Peter, achando que ele não o havia percebido, passava direto e em silêncio quando ouviu o lorde chamar seu nome. Virou-se.
O rosto estava impassível, mas pareceu a Peter que Strongbow estava deprimido. Não era nenhuma surpresa. Embora os sitiantes estivessem confortavel-mente acampados bem longe da muralha, mantinham uma dura vigilância nos portões. Fora impossível enviar patrulhas. Dois dias atrás, Strongbow enviara um barco sob a proteção da escuridão para verificar se suprimentos podiam chegar sorrateiramente por água; no entanto, o inimigo o apanhou do outro lado de Clontarf e o enviou de volta, na subida da maré, incendiado. Entre os habitantes remanescentes de Dublin, como também entre os soldados ingleses, a conversa era a mesma: “O rei supremo o pegou.” Mas Strongbow era um comandante experiente; Peter não achava que tivesse desistido dele, ainda. Os olhos de Strongbow o examinavam como se ele estivesse cogitando algo.
— Sabe do que preciso neste momento, Peter FitzDavid? — perguntou calmamente.
— De outro nevoeiro — sugeriu Peter. — Aí, pelo menos, conseguiríamos sair sorrateiramente.
— Talvez. O que mais preciso, fora isso, é de informação. Preciso saber onde está o rei supremo e a exata distribuição de suas tropas.
Então ele está planejando uma fuga, pensou Peter. Não havia, de fato, outra opção. Mas, para haver qualquer esperança de sucesso, ele precisaria pegar os sitiantes de surpresa.
— Quer que eu vá lá esta noite e observe? — indagou. Se retornasse e fosse bem-sucedido, isso certamente o colocaria nas graças dele.
— Talvez. Não tenho certeza se conseguiria passar. — Seus olhos fixaram-se nos de Peter e depois baixaram. — O arcebispo e o jovem padre provavelmente sabem. Como é mesmo o nome dele? Padre Gilpatrick. Mas não posso perguntar a eles, é claro.
— Eu conheço Gilpatrick, mas ele jamais me diria.
— Não. Mas pode perguntar à irmã dele. — O olhar de Strongbow voltou na direção do rio. — Na próxima vez que se encontrar com ela.
Ele sabia. Peter sentiu-se empalidecer. Ele e mais quantos? Contudo, pior do que o fato de saber do romance ilícito era o que ele lhe pedia para fazer. Usar Fionnuala como espiã ou, pelo menos, enganá-la para que revelasse informações. Ela talvez nem soubesse de nada, pensou; mas essa não era bem a questão. Se ele quisesse ficar nas graças de Strongbow, era melhor que descobrisse algo.
Espantosamente, sua chance surgiu naquela mesma tarde e revelou-se ser mais fácil do que poderia ter imaginado. Eles fizeram amor na casa. Tinham uma hora antes de ela precisar ir embora. Conversavam por acaso sobre os o'Byrne, que deveriam vir novamente no dia seguinte, e sobre sua vida doméstica.
— Eu acho — comentou ele — que Strongbow terá de ceder em breve ao rei supremo. Não vejo isso durar outro mês, e não há chance de alguém vir nos ajudar. — Sorriu. — Ficarei contente quando isso acabar. Então poderei ir comer na sua casa, como seu pai prometeu. Isto é, se até lá você ainda não tiver se casado com Brendan o'Byrne — acrescentou vagamente.
— Não seja tolo. — Ela deu uma risada. — Não me casarei com Brendan. E o cerco está para acabar.
Foi a sua chance.
— Verdade? — Pareceu procurar se tranqüilizar. — Gilpatrick acha isso?
— Ah, acha sim. Ainda ontem, eu o ouvi dizer ao meu pai que o rei supremo está acampado a pouca distância rio acima. Ele tem tanta certeza de que os ingleses não têm a mínima chance que seus soldados vão se banhar todos os dias no Liffey.
— É mesmo?
— Com todos os grandes chefes. Não têm a menor preocupação neste mundo. Peter engoliu em seco. Seu rosto estava prestes a registrar seu prazer, mas ele se conteve, fez um ar abatido e murmurou: — Não temos mesmo a menor chance.
É bom que isso acabe logo. — Fez uma pausa. — É melhor não contar a ninguém o que eu disse, Fionnuala. Se Strongbow souber disso... ele duvidaria da minha lealdade.
— Não se preocupe — disse ela.
Mas a mente dele já trabalhava velozmente.
Na tarde seguinte, as sentinelas dos postos avançados irlandeses viram Fionnuala deixar o hospital e caminhar de volta, como sempre, ao portão ocidental da cidade. Visto que não conseguiam enxergar o portão do lado sul, não sabiam quanto tempo ela passou em Dublin antes de voltar para sua casa, e, assim, não faziam idéia de que tinha ido ao alojamento de Peter e ficado lá até quase anoitecer, quando o vigia do posto próximo à casa do pai dela a observou passar pelo portão sul e andar até em casa.
Estava quase escuro quando as sentinelas do lado oeste observaram Fionnuala, com seu xale cor de açafrão sobre a cabeça, retornar ao hospital. Era incomum ela ir e voltar no mesmo dia, mas foi vista atravessar o pátio do hospital e não ligaram mais para isso. Ficaram intrigados, portanto, na noite seguinte, quando a viram ir novamente ao hospital. “Você a viu voltar hoje a Dublin?”, perguntou uma das sentinelas ao seu companheiro. Este deu de ombros. “Não devo ter visto.” Ao amanhecer da manhã seguinte, ela passou rapidamente voltando do hospital em direção ao portão ocidental. Mas então, uma hora depois, ela fez novamente a mesma viagem. Isso era claramente impossível. As sentinelas concluíram que havia algo estranho. Resolveram ficar de olho.
Ao chegar ao hospital, na primeira noite, Peter atravessou o portão e depois aga-chou-se com as costas para a cerca. Ninguém podia vê-lo. Àquela hora, os pacientes estavam todos dentro do prédio. Desenrolou o xale da cabeça e esperou. A escuridão caiu lentamente. Naquele período do verão, haveria apenas cerca de três horas de escuridão de verdade. O céu estava repleto de nuvens passageiras, mas havia uma lua prateada. Isso era bom. Ele precisava de pouca luz, mas não muita. Esperou até muito depois da meia-noite para entrar em ação.
Do lado de fora do hospital, passava a larga pista da estrada antiga, a Slige Mhor, que levava na direção oeste. Havia um grande contingente de soldados a pouco mais de quilômetro e meio, bloqueando-a. Ele pretendia evitar a Slige Mhor. Sabia que, do lado do rio onde ficava o hospital, havia um pequeno portão. Indo até lá furtivamente, saiu. Diante dele estava o terreno a céu aberto, pontilhado com arbustos, que levava às margens pantanosas do rio. Com sorte, na escuridão, talvez conseguisse ir até lá sem que ninguém visse.
Levou uma hora, avançando cautelosamente, movendo-se apenas quando as nuvens cobriam a lua, para atravessar o campo irlandês que escarranchava a estrada. Depois disso, conseguiu avançar mais rapidamente, porém sempre com cautela, seguindo a linha do rio até chegar ao lado oposto onde achava que devia estar o acampamento do rei supremo. Então, após encontrar um esconderijo em meio a arbustos numa encosta, que lhe dava um pequena posição vantajosa, preparou-se para esperar o resto da noite.
Na manhã seguinte, conseguiu avistar o acampamento do rei supremo, distante a pouco menos de um quilômetro rio acima. De manhã bem cedo, viu patrulhas saírem. Poucas horas depois, retornaram. E, logo depois, observou pelo menos cem homens irem para a água. Permaneceram ali bastante tempo. Pareciam praticar uma espécie de jogo, pois arremessavam uma bola de um para o outro. Depois, voltaram todos novamente para a margem. Podia ver o sol relu-zindo em seus corpos molhados e nus.
Passou o resto da manhã em seu esconderijo. Trouxera consigo um pedaço de pão e um pequeno cantil de couro com água. Também tomou o cuidado de observar o terreno em volta. Isso seria essencial para o caso de ele ter de executar o resto de seu plano. No início da tarde, descobriu que precisaria fazer mais uma coisa naquele dia, que era perigosa. Uma hora depois, deixou o esconderijo e, muito cautelosamente, seguiu caminho através de um prado até um trecho de terreno mais alto arborizado. Só voltou para o esconderijo ao anoitecer; mas, no momento em que o fez, estava convencido de que seu plano poderia funcionar. Apenas quando estava bem escuro, ele fez novamente o caminho de volta ao hospital. Foi estranho esperar no portão do hospital, porque ele sabia que Fionnuala trabalhava ali naquela noite, a poucos metros dele; mas permaneceu lá até o amanhecer e, então, enrolado no xale, passou na volta, durante a alvorada, pelo posto avançado irlandês, onde as sentinelas o tomaram por Fionnuala. No meio da manhã, ele foi falar com Strongbow.
Contou-lhe tudo, como saíra para observar e descobrira o rei supremo se banhando, com uma pequena diferença: omitiu qualquer referência a Fionnuala.
Se Strongbow adivinhou a verdade, nada disse. Depois que ele acabou, Strongbow ficou pensativo.
— Para tirar o melhor proveito dessa informação — disse o lorde — precisamos pegá-los com a guarda baixa, quando estiveram se banhando. Mas como poderemos saber?
— Eu já tinha pensado nisso — disse Peter. E contou a Strongbow o resto de seu plano.
— Você conseguirá passar novamente pelas sentinelas e sair? — perguntou Strongbow e Peter fez que sim. — Como?
— Não me pergunte — retrucou Peter. — Amanhã de manhã, a maré estará baixa — acrescentou — e você poderá usar o vau, além da ponte, para atravessar seus homens para lá.
— E onde deveremos colocar os homens para esperar o seu sinal?
— Ah. — Peter sorriu. — No telhado da catedral da Igreja de Cristo.
— Bem — resumiu Strongbow —, o plano é arriscado. — Repassou os detalhes, passo a passo. — Mas se funcionar, você terá se saído bem. Isso, porém, está condicionado a uma outra coisa. Uma manhã de céu limpo e ensolarado.
— É verdade — admitiu Peter.
— Bem — concluiu Strongbow —, vale a pena tentar.
O sol se punha naquele dia quando os guardas do posto avançado viram uma figura deixar o portão ocidental e começar a andar na direção do hospital. Eles já haviam parado tanto Una, pela manhã, quanto Fionnuala, uma hora atrás, para se certificarem de quem eram. Mais uma vez, eles decidiram verificar e um deles cavalgou rapidamente adiante. A figura estava vestida de padre, mas o guarda desconfiou. Podia ser um disfarce. O sujeito usava um capuz sobre a cabeça.
— Quem é você e aonde está indo? — dirigiu-se a ele a sentinela, em irlandês.
— Padre Peter é meu nome, meu filho. — A resposta também foi dada num fluente irlandês. — Estou a caminho para visitar uma pobre alma ali no hospital. — Baixou para trás o capuz, revelou uma cabeça tonsurada e deu à sentinela um amável sorriso. — Creio que sou esperado lá.
Nesse momento, o portão do hospital abriu-se e Fionnuala apareceu. Fez ao padre um sinal de reconhecimento e esperou respeitosamente na entrada.
— Pode ir, padre — disse o guarda, um pouco embaraçado.
— Obrigado. Espero voltar só amanhã. Fique com Deus, meu filho. — Colocando de volta o capuz, o padre continuou seu caminho e a sentinela viu Fionnuala acompanhá-lo através do portão, que se fechou atrás deles.
— Um padre — informou ao sentinela. — Ele vai retornar amanhã. — E ninguém pensou mais naquilo.
No interior do hospital, enquanto isso, Fionnuala conduzia Peter ao quarto que iriam usar — um aposento separado, com acesso por uma porta externa, na extremidade do dormitório masculino, onde, a gentil e ingênua Una prometera que não seriam incomodados.
Ao entrarem e Peter baixar novamente o capuz, Fionnuala mal conseguiu conter uma gargalhada.
— Seu corte de cabelo é uma tonsura — cochichou —, exatamente como Gilpatrick.
— Ainda bem, ou talvez tivesse me enrascado com aquele guarda.
Até então, Peter congratulou-se, tudo funcionara perfeitamente. Seu pensamento rápido e sua previsão de dois dias atrás tornaram tudo possível. Só lamentava que isso significava ter de enganar Fionnuala, como fazia naquela ocasião, e usá-la; mas disse a si mesmo que era por uma causa maior.
Seus cálculos foram exatos. Ao descobrir que ela deveria estar no hospital nas duas noites seguintes, ele decidira que seria imprudente tentar duas vezes o disfarce de mulher. Pensando nisso, após seu retorno da expedição exploradora, como ele pretendia ir novamente lá fora, imaginou esse novo artifício.
— Depois de amanhã, passaremos a noite juntos — prometera ele.
— No cais? — Ela parecera insegura.
— Não, no hospital.
— No hospital? Você está maluco! — exclamara.
— Lá não existe um canto tranqüilo em qualquer lugar? — perguntara ele. Ela pensou e disse que talvez houvesse. — Então escute. — Ele dera um largo sorriso. — Eis o que vamos fazer.
E agora, enquanto o olhava maravilhada, Fionnuala concluiu que foi a coisa mais audaciosa que já fizera. Espantosamente, não tinha sido muito difícil. Assim que dissera a Una que sentia necessidade de orientação espiritual, recebera a solidariedade de sua amiga.
— Quero me confessar com um padre, Una — disse-lhe. — E preciso ter uma longa conversa com ele. — Sorriu sem jeito. — São os jovens o'Byrne. Não sei o que fazer. — Quando Una quis saber de que modo poderia ajudar, Fionnual explicou: — Não quero ser vista indo à casa de um padre. Sempre acho que pessoas em Dublin vivem me espionando. Por isso, pedi a um padre que viesse aqui.
O Peregrino e sua esposa sempre iam dormir cedo. O padre iria visitá-la encontrá-la a sós e partir o mais tarde que fosse necessário. Para seu alívio, Una concordou que era uma boa idéia. Foi ela quem sugeriu o quarto na extremidade do dormitório dos homens. Até mesmo propôs:
— Se alguém perguntar, direi que o padre veio me ver. — Segurou Fionnuala pelo braço e murmurou: — Eu entendo, Fionnuala. — E Fionnuala pensou: duvido.
Não havia ninguém por perto. Se Una estava observando de algum lugar, mantinha-se bem afastada. Entraram no quarto, no qual Fionnuala já acendera duas velas e colocara um pouco de comida. Ela ergueu a mão e alisou sua cabeça tonsurada. — Agora vou pensar — disse ela astuciosamente — que tenho um padre como amante. — Fitou-o intrigada. — Como explicará essa calva nos próximos dias?
— Vou cobri-la — disse ele.
— E fez isso por mim?
— Fiz — mentiu. — E faria novamente.
Conversaram por uns instantes. Antes de fazerem amor, Peter despiu a batina de padre. Fionnuala notou que ele também retirou uma almofada dura que se encontrava presa na parte inferior das costas.
— Dor nas costas — explicou, encabulado.
— Eu farei uma massagem — disse ela.
Quase amanhecia, quando ela acordou e descobriu que ele se fora.
Peter se movimentara cuidadosa, mas rapidamente. Após escapulir pelo portão do lado norte do hospital, seguiu a mesma rota de antes. Ao amanhecer, já se aproximava da pequena elevação arborizada que escolhera no dia anterior. Seu posto de observação já havia sido selecionado: uma árvore alta com uma vista dominante. Com a primeira luz do dia, subiu ao galho que selecionara. Dali, afastando as folhas, podia ver a ribanceira oposta do rio, pela qual viriam os homens do rei irlandês; também tinha uma perfeita vista para leste em direção a Dublin. A distância, podia ver o promontório sul da baía. A baixa cumeeira da cidade estava encoberta em sua maioria por mata cerrada. Era possível, porém, distinguir, com toda a clareza, o telhado da catedral da Igreja de Cristo. Então afrouxou as correias em volta da cintura e retirou a almofada das costas. Sem pressa, retirou o pano que a cobria e extraiu o objeto fino e duro de dentro. Examinou-o cuidadosamente. Nenhuma marca ou mancha.
Era uma placa de metal de aço polido. Ele a recebera de Strongbow. Era tão bem polida que se podia ver cada poro da pele no seu rosto refletido. O nobre usava-a como espelho. Peter segurou-a, virando a superfície polida em sua direção. Não queria correr o risco de denunciar sua posição. Olhou na direção leste e sorriu. O céu estava claro. O tempo passou. O céu a leste ficou mais luminoso, depois vermelho, depois dourado: começou a tremeluzir. Então, sobre a distante baía, ele viu a esfera flamejante do sol nascente.
Tudo estava pronto. Havia o risco, é claro, de ele se denunciar quando desse o sinal. Se os soldados irlandeses o pegassem, certamente o matariam. Em seu lugar, ele faria a mesma coisa. Era, porém, um pequeno risco comparado aos favores que poderia esperar de Strongbow se a operação fosse bem-sucedida. Estava agitado, mas esperou pacientemente. Esquentava. O sol se erguia sobre a baía.
As patrulhas do rei supremo logo deveriam estar de saída. Ele vira algumas deixando o acampamento real. A metade da manhã se foi e não houve sinal de atividade. As patrulhas saíram mais tarde do que ontem. Talvez, afinal de contas, não fossem tomar banho. Xingou baixinho. Outra hora se passou; era quase meio-dia. Então, finalmente, percebeu que algo acontecia no acampamento. Além da ribanceira, viu surgir um grupo de homens carregando um enorme objeto, mas não conseguiu distinguir o que era. Largaram sua carga no alto da ladeira. Depois vieram mais homens. Parecia que traziam baldes. Continuaram indo e vindo, en-xameando em torno do grande objeto. Então ele entendeu o que faziam. Era uma enorme banheira que enchiam. Ele sabia que os irlandeses gostavam de se banhar numa banheira cuja água fora aquecida com pedras quentes. A instalação daquela grande banheira, portanto, só podia significar uma coisa.
O rei supremo da Irlanda estava prestes a tomar um banho cerimonial.
Dito e feito. Antes de terminarem de encher a banheira, as primeiras patrulhas começaram a retornar. Dessa vez, parecia haver muito mais delas. Peter calculou que pelo menos duzentos desciam para o rio, enquanto outros ainda chegavam. Assim que estava tudo pronto em cima da ladeira, ele avistou uma única figura emergir do acampamento, acompanhada por cerca de uma dúzia de homens que o levaram para dentro da grande banheira. Enquanto seus homens patinhavam no rio, abaixo, o rei o'Connor, cercado pelos seus soldados, executava as abluções reais.
Era perfeito. Peter não conseguia acreditar na sua sorte. Virou o refletor de aço para cima, calculou cuidadosamente o ângulo. Passou a girá-lo, para lá ( para cá.
No telhado da Igreja de Cristo, o guarda que estava à espera viu o pequeno clarão de luz, esverdeado por causa da árvore, refletindo o brilho do sol ardente E, momentos depois, os portões sul e oeste da cidade abriram-se violentamente-uma centena de homens montados a cavalo portando armas leves, com mais quinhentos soldados de infantaria correndo atrás deles, seguiram para o vau, ao mesmo tempo que duzentos cavaleiros com armaduras atravessavam a ponte num galope trovejante.
A repentina fuga dos ingleses de sua armadilha em Dublin naquele dia de verão revelou-se o evento fundamental na história da Inglaterra e da Irlanda. Os sitiantes irlandeses, talvez complacentes após semanas de inatividade, foram apanhados completamente desprevenidos. Quando as tropas inglesas irromperam através das linhas irlandesas e arrojaram-se ao longo do Liffey em direção aonde o rei supremo se banhava, o rei o'Connor teve tempo apenas de recolher suas roupas e precipitar-se para um lugar seguro a fim de evitá-los. Os soldados de infantaria irlandeses, por todo o acampamento, foram massacrados. Em questão de horas, todas as tropas sitiantes souberam que o rei supremo fora humilhado e que o exército de Strongbow estava em campo aberto. Os veteranos de guerra ingleses agora movimentavam-se com extrema velocidade. Os acessos à cidade foram assegurados. Ataques com ponta de lança pela cavalaria armada devastou cada um dos acampamentos. Os irlandeses foram incapazes de enfrentar a máquina de guerra européia altamente treinada assim que esta ficou livre para agir em campo aberto. A oposição dissolveu-se. Por enquanto, pelo menos, o rei supremo recuara sabiamente. Leinster, sua rica terra cultivada, seu gado e sua grande colheita estavam nas mãos impiedosas e competentes de Strongbow.
Para Peter FitzDavid, parecia que o futuro seria brilhante. Naquela mesma noite, Strongbow o recompensara com um pequeno saco de ouro. Sem dúvida, coisas ainda melhores viriam. Ele não era um herói público. Afinal de contas, fora apenas um observador secreto. A corajosa fuga de Strongbow e a humilhação do rei supremo, apanhado de surpresa tomando banho no Liffey, é que seriam relatadas por toda a parte e ocupariam a atenção dos cronistas.
Se, porém, o papel de Peter FitzDavid foi rapidamente esquecido, o papel que Fionnuala desempenhou nesses importantes eventos jamais ficou conhecido. Peter jamais se referiu a isso uma só vez, nem mesmo a Strongbow. Somente no dia seguinte, quando ouviu boatos do papel de Peter, ela adivinhou parte do que acontecera. Após meia hora gasta em lágrimas, também concluiu que jamais poderia contar a alguém, nem mesmo a Una, sua vil conduta, visto que isso a comprometeria. De fato, Fionnuala deu-se conta, com terrível frieza, de que ele tinha o poder de lhe causar um terrível dano, se algum dia optasse por revelar o que ela fizera.
Dois dias depois, ela o avistou na feira. Ele veio sorrindo em sua direção, mas ela conseguiu ver o constrangimento em seus olhos. Deixou que ele se aproximasse e, então, reunindo toda a dignidade possível, ela disse com uma tranqüila frieza:
— Nunca mais quero ver seu rosto.
Peter pareceu querer dizer algo, mas ela virou as costas e foi embora. Ele teve o bom senso de não segui-la.
Em seus cálculos das prováveis recompensas que lhe caberiam por causa do triunfo de Strongbow, houve uma coisa que Peter FitzDavid esqueceu.
Um mês após a derrota do rei supremo, Peter passava por acaso pelo salão do rei quando viu Strongbow saindo de lá. Curvou a cabeça para o grande homem e sorriu, mas Strongbow não pareceu vê-lo. Parecia distante, um pouco perturbado. Peter ficou imaginando qual poderia ser o motivo. No dia seguinte, soube que Strongbow havia partido. Tomara um navio durante a noite. “Aonde ele foi?”,
erguntou Peter a um dos comandantes, que lhe lançou um olhar estranho.
Encontrar o rei Henrique, antes que seja tarde demais”, retrucou o homem.
Strongbow está enrascado.”
O rei Henrique Plantageneta era o mais dinâmico soberano do seu tempo.
Seu talento para explorar situações e tirar delas vantagens, seu sucesso em expandir o vasto império Plantageneta, sua administração altamente agressiva — tudo issso o tornava temido. Henrique também tinha outra habilidade devastadora.
Movimentava-se com incrível velocidade. Todos os reis medievais tinham cortes itinerantes que se movimentavam pelos seus domínios. Os itinerários de Henriqn porém, eram vertiginosos. Era capaz de se movimentar de um lado a outro do Canal da Mancha várias vezes em uma estação, raramente parando em um lugar mais de dois ou três dias. Podia correr de uma extremidade à outra de seu império, justamente quando menos se esperava. E sofreria um choque quem imaginasse que esse monarca impiedoso e mercurial toleraria que um de seus vassalos instalasse uma base de poder rival em qualquer lugar dentro de seu império.
Por algum tempo, Henrique estivera observando o progresso de Strongbow na Irlanda. Enquanto Diarmait estava vivo, o lorde inglês permanecia efetivamente um mercenário, não importava o que Diarmait lhe tivesse prometido. No duro rastro da morte de Diarmait, veio a notícia de que Strongbow estava preso em Dublin. Mas agora, de repente, Strongbow tinha um reino em Leinster e obviamente a possibilidade de conquistar a ilha toda. Era igualmente uma ameaça e uma oportunidade.
— Não dei permissão a Strongbow para se tornar um rei — anunciou. Já tivera problemas suficientes com um subordinado, após tornar Becket arcebispo de Cantuária. — Ele émeu vassalo. Se a Irlanda é dele, então é minha — decretou. E em pouco tempo a notícia chegou a Strongbow: — O rei Henrique não está nada satisfeito. Ele virá pessoalmente à Irlanda.
Com o fim do cerco, Una recebeu notícias de seu pai que a deixaram triste. O contínuo aborrecimento por causa da perda do cofre cobrava um preço de sua saúde; e ela sabia que ele não era muito sadio. O fato de se culpar e de estarem separados a deixava ainda mais angustiada. A mensagem, que ele enviara, mais uma vez pedia que ela ficasse onde estava. Una pensava em desobedecê-la e ir vê-lo em Rouen, mas o Peregrino disse-lhe não devia fazê-lo. O que fez, porém, foi enviar uma mensagem dizendo-lhe que, dependendo do desenrolar dos acontecimentos, talvez fosse possível, dentro de alguns meses, ele voltar, e que ela e o Peregrino certamente seriam capazes de ajudá-lo a recomeçar. E, assim, ela trabalhava arduamente no hospital e esperava para ver o que aconteceria.
Uma coisa que a agradava era a mudança em Fionnuala. Não havia dúvida, pensava, que a visita do padre lhe fizera bem. Nos dias que se seguiram, Fionnuala pareceu tão triste e pensativa. Uma nova quietude e seriedade pareciam ter tomado conta dela. “Você mudou, Fionnuala”, aventou certa vez com afável aprovação, “e creio que o motivo foi o longo tempo que passou com o padre.” E ela ficou muito feliz quando Fionnuala murmurou: “Pode ser.”
Foi durante essa época que duas novas pessoas entraram em sua vida. Ela ouvira de Fionnuala que os dois o'Byrne tinham feito uma segunda visita e foram falar com o seu pai, mas, de forma alguma, ela esperava que eles fossem aparecer no hospital. Contudo, apareceram, certa manhã, e foram conduzidos para uma volta pelo Peregrino, que mostrou grande respeito por Brendan o'Byrne e, pareceu a Una, um pouquinho menos pelo seu primo Ruairi. Ao final da visita, como estava na hora de saída de Fionnuala, os dois iam acompanhá-la, quando ela se dirigiu ao Peregrino e perguntou se Una podia ser dispensada por uns momentos para caminhar com eles. “Claro que pode”, bradou o bondoso homem. E, assim, os quatro partiram. Visto que fazia um lindo dia, decidiram seguir uma parte do caminho pela Slige Mhor.
Una teve a chance de observar todos eles. Fionnuala comportava-se maravilhosamente bem. Era reservada, séria, tinha a cabeça baixa, mas, de vez em quando, erguia a vista para sorrir amavelmente para Brendan. Una tinha tanto orgulho dela. O próprio Brendan lhe causou boa impressão. Cabelos negros, com um precoce toque de grisalho, bem-apessoado, ele tinha um ar de séria solidez do qual ela gostou imensamente. Falava baixo mas inteligível. Meditava antes de emitir uma opinião. Fez perguntas pertinentes sobre o hospital. Se ao menos Fionnuala pudesse tê-lo como marido, pensou, não seria um casal maravilhoso?
Seu primo Ruairi era muito diferente. Mais alto do que Brendan, mais ossudo. O cabelo era ligeiramente castanho e cortado curto. Tinha no rosto já há alguns dias uma leve barba por fazer, o que o fazia parecer viril, como um jovem guerreiro. Não aparentava ser tão grave e sério quanto Brendan; mas, em vez de fazer perguntas, enquanto visitavam o hospital, ele pareceu contente em ouvir e observar com um meio sorriso no rosto, de modo que, após algum tempo, era de se ficar curioso sobre o que ele estava pensando. Embora às vezes seus olhos claros parecessem estar fora de foco, como se ele estivesse envolvido em um diálogo interior consigo mesmo, Una também teve a sensação de que ele notara cada coisa que tinha visto. Ficou imaginando o que ele notara a respeito dela e de Fionnuala. A princípio caminharam como um grupo, lado a lado, pela rua, conversando desembaraçadamente. Ruairi disse algo sobre um dos pacientes que ele observara, o que fez com que todos dessem risadas. Então, separaram-se em dois casais, Brendan e Fionnuala caminhando à frente, e Ruairi e Una atrás.
Por algum tempo, Ruairi pareceu contente com o passeio, fazendo oportuno comentários ocasionais. Una, que ainda se sentia um pouco acanhada, sentia-se feliz por achar tudo tão agradável. Quando, porém, ela lhe fez algumas perguntas pessoais, ele começou a falar, e então falou bem.
Aparentemente, ele estivera em todos os lugares e fizera de tudo. Ela ficou maravilhada por alguém da idade dele — certamente não tinha vinte e cinco anos — ter feito tanta coisa, mesmo por pouco tempo. Ele contou-lhe sobre vendedores de cavalos e criadores de gado que conhecera em Ulster e Munster, e alguns de seus truques. Descreveu o litoral de Connacht e as ilhas de lá. Falou-lhe de suas viagens com os comerciantes “durante a época em que estive em Cork”. Estivera em Londres e Bristol, e também na França. Ela lhe perguntou ansiosamente se estivera em Rouen. Ele não estivera, mas lhe contou uma ótima história sobre um comerciante de lá que foi apanhado numa transação duvidosa.
— O seu primo Brendan também viaja muito? — indagou ela.
— Brendan? — Uma expressão, que ela não conseguiu interpretar, atravessou seu rosto. — Ele prefere ficar em casa e cuidar dos negócios.
— E você? Você não cuida dos negócios em casa?
— Cuido. — Olhou à frente como se, por um momento, pensasse em outra coisa. — Mas em breve terei uma viagem a fazer. Vou a Chester.
Por algum motivo, Una lamentou ouvir isso. Pareceu-lhe que, apesar de todas as maravilhas que pudesse ver em suas viagens, faltava algo na vida desse excelente jovem com sua alma irrequieta.
— Você devia era ficar em casa, perto de uma lareira aconchegante — disse ela. — Pelo menos uma parte do tempo.
— É verdade — concordou ele. — E talvez eu faça isso, quando voltar.
Brendan e Fionnuala agora faziam a volta. Aparentemente, queriam continuar caminhando juntos, e, como estava ansiosa para incentivar isso, Una também deu uma rápida meia-volta para que ela e Ruairi continuassem na frente deles no caminho de volta. Ruairi falou menos durante o retorno, mas ela não se importou. Ainda que mal o conhecesse, era estranho como ela se sentia à vontade em sua companhia. Nunca se sentira assim tão à vontade, nem mesmo com o Peregrino. E este era um bom homem, não havia outro melhor. Ela não conseguia entender por que se sentia assim. De vez em quando trocavam algumas palavras no caminho de volta ao hospital; e, apesar de ser uma distância considerável, ela não sentiu o tempo passar. Ao se separarem, não pôde evitar i desejar, embora soubesse que era tolice, que algum dia voltassem a se encontrar.
No décimo sétimo dia de outubro daquele ano de 1171, o rei Henrique II da Inglaterra chegou à Irlanda, o primeiro monarca inglês a fazê-lo. Desembarcou no sul, no porto de Waterford, com um enorme exército. Sua intenção ao chegar não era, em absoluto, conquistar a Irlanda, na qual tinha pouco interesse, mas tirar o poder de seu vassalo Strongbow e reduzi-lo à obediência. Até certo ponto, ele conseguira seu objetivo antes da chegada, pois um preocupado Strongbow já conseguira interceptá-lo na Inglaterra e lhe oferecera todos os seus ganhos irlandeses. Agora, porém, Henrique pretendia examinar o lugar e verificar se a submissão de Strongbow a ele era incontestável.
O exército que o rei Henrique trouxera consigo era realmente formidável: quinhentos cavaleiros e quase quatro mil arqueiros. Com isso, sem falar no acréscimo das já enormes tropas de Strongbow, o rei inglês poderia, se quisesse, ter varrido toda a ilha e devastado toda e qualquer oposição em um confronto direto. Henrique sabia disso muito bem. Mas, como seus atos subseqüentes mostraram, o implacável Plantageneta oportunista pretendia avançar cautelosamente e com objetivos limitados. Tentar subjugar uma ilha cuja população nativa está contra você? Ele era esperto demais para isso. Ficaria, porém, atento a sinais e situações que poderiam ser vantajosos para ele? Claro que sim.
Gilpatrick estava parado com seu pai fitando a extraordinária cena que se desenrolava à sua frente. Não sabia o que pensar. Ali, nos limites de Hoggen Green, entre o portão oriental da cidade e o Thingmount, onde seus ancestrais estavam enterrados, fora erigido um imenso salão com paredes de vime. Era do tipo de salão que teria sido montado para o rei supremo nos velhos tempos, só que maior. Faz Thingmount parecer uma espinha”, ouvira um trabalhador comentar. E, naquele imenso salão, estava o rei da Inglaterra.
Ele não perdera tempo. Vinte e cinco dias após desembarcar em Waterford, resolvera todos os assuntos na Leinster meridional e chegou a Dublin. Agora instalava ali a corte, com toda a segurança, cercada por um exército de milhares. Até mesmo o pai de Gilpatrick ficou apavorado.
— Eu não sabia — confessou discretamente — que havia tantos soldados no mundo.
E, desde que chegara à ilha, todos os reis e chefes da Irlanda tinham ido se submeter a ele. O rei supremo e os homens importantes de Connacht e do oeste mantiveram-se à distância, mas, de todas as outras províncias, de boa ou de má vontade, os chefes dos grandes clãs foram à sua procura.
O pai de Gilpatrick foi desdenhoso, mas fatalista.
— Eles agora foram à sua casa com muito mais rapidez do que foram com Brian Boru, porque ele tem um exército para obrigá-los. Mas, assim que ele se for, eles esquecerão rapidamente suas promessas.
Gilpatrick, contudo, notara um sutil processo em andamento. Henrique, ele se deu conta, era um estadista sagaz. Logo que chegara à Irlanda, anunciara que assumiria pessoalmente Dublin e todos os seus territórios, Wexford e Waterford. Strongbow teve a permissão de manter o resto de Leinster como seu ocupante feudal; mas outro grande ilustre inglês, lorde de Lacy, que Henrique trouxera consigo, ficaria encarregado de Dublin como representante pessoal de Henrique ou vice-rei. Portanto, aparentemente, qualquer chefe irlandês que olhasse a parte oriental da ilha veria a tradicional organização irlandesa: um rei de Leinster, um rei de Dublin e alguns portos parcialmente estrangeiros. Por trás deles, entretanto, haveria um rei supremo rival — muito mais poderoso até mesmo do que Brian Boru — um rei supremo do outro lado da água. E, se quisessem proteção contra o rei supremo o'Connor em Connacht, como seria possível, ou se Strongbow, ou mesmo de Lacy, começassem a se comportar como sempre fizeram e tentassem usurpar o território deles, não seria então aconselhável fazer parte da casa do rei Henrique e tê-lo como protetor contra seus vizinhos, irlandeses ou ingleses? Era assim que as coisas sempre foram feitas na ilha. Pagando tributo em gado, se recebia proteção. Ele usava seus próprios senhores para ficarem de olho uns nos outros e também, acreditava, para amedrontar os outros chefes em seu acampamento.
— Esse homem é muito esperto — murmurou Gilpatrick. — Está praticando o nosso jogo muito melhor do que nós.
Então houve a questão da cidade de Dublin. Aparentemente, seria entregue à comunidade mercantil de Bristol, mas ninguém tinha muita certeza do que isso significaria. Os homens de Bristol teriam os mesmos direitos de comércio em Dublin que tinham em casa. A poderosa cidade de Bristol possuía antigos privilégios,
feiras imensas, e era um dos grandes portões para o mercado inglês. Seus comerciantes eram ricos. Isso significaria que o porto de Dublin poderia desfrutar de uma posição semelhante? A informação era que o rei também queria que os comerciantes e os artesãos que tinham ido embora voltassem.
— É muito difícil saber na atual fase — comentara com ele o Peregrino, no dia anterior —, mas, se os homens de Bristol trouxerem consigo dinheiro e comércio, isso poderia realmente ser bom para Dublin.
O que, porém, realmente surpreendeu Gilpatrick foi a notícia que ele tivera naquela manhã. E agora, ao fitar o imenso acampamento real, ele a transmitiu a seu pai.
— Não pode falar sério.
— Soube por intermédio do arcebispo o'Toole esta manhã.
— O homem assassina um arcebispo e depois convoca os bispos para um concílio? Para discutir a reforma da Igreja? — Seu pai encarou-o estupefato. — O que OToole disse?
— Ele irá. Vai me levar com ele. Não se tem certeza que o rei Henrique seja o culpado da morte do arcebispo.
A questão se o rei Henrique ordenara a morte de Thomas Becket no Natal passado continuava causando arrebatados debates por toda a Europa. O sentimento geral era o de que, mesmo que não tivesse ordenado o assassinato, ele fora responsável pela ocorrência do fato e, portanto, culpado. O papa ainda não decidira sobre o assunto.
— E onde e quando será esse concílio? — perguntou seu pai.
— Neste inverno. Em Munster, creio. Em Cashel.
Durante os meses de outono, Una observou Fionnuala com interesse e com preocupação. Ruairi o'Byrne fora a Chester, mas nas semanas anteriores à chegada do rei Henrique, Brendan fizera duas visitas a Dublin. Em cada ocasião fora ver Fionnuala antes de partir, mas suas intenções permaneciam incertas. Fionnuala continuava a dedicar um tempo para ajudá-la no hospital, talvez para manter o pensamento longe da situação. Una não sabia dizer, Podia muito bem imaginar que Brendan tinha outras coisas em mente do que se casar numa época daquelas. Foi logo após a chegada do rei Henrique que o primo de Brendan reapareceu em Dublin. Não se encontraram a princípio, mas souberam que ele fora visto na cidade. Se estava ali apenas por alguns dias, antes de partir novamente, ou se tinha outros planos, ela não sabia.
— Eu o vi no cais — disse-lhe certa manhã a esposa do Peregrino.
— O que ele fazia lá? — perguntou ela.
— Não é que ele estava jogando dados com os soldados ingleses? — respondeu ela. — Como se todos fossem velhos amigos.
Una encontrou-o no dia seguinte. Embora os portões estivessem abertos e a feira mais movimentada do que nunca, com todas as tropas inglesas nas vizinhanças, Una em geral não sentia vontade de ir à cidade; e, quando ia, fazia questão de evitar a alameda onde ficava sua própria casa, pois ela lhe trazia lembranças dolorosas. Contudo, por alguma razão, ao vir à tardinha da Matadouro de Peixes, resolveu seguir por aquele caminho para dar uma olhada na casa. E ao passar pela frente do portão, viu o pequeno braseiro de seu pai e notou, bem à sua frente, alguém sentado no chão com as costas para a cerca. O sujeito encarava pensativo o chão diante de si, mas, quando ela ia passando, o modo como pendia a cabeça e o cheiro de cerveja revelaram a Una que ele estava bêbado. Ela não sentiu nem um pouco de medo, mas, ao se desviar para não tropeçar nele, olhou para seu rosto e percebeu com espanto que era Ruairi.
Ele a teria visto? Acreditava que não. Deveria falar com ele? Talvez não. Não ficou chocada. A maioria dos jovens se embriagava de vez em quando. Ela seguiu caminhando um pouco e, então, se deu conta de que ia na direção errada e, portanto, teve de voltar pelo mesmo caminho. Com a escuridão de novembro baixando, começou a esfriar e ela sentiu na pele um vento cortante. Ao se aproximar de Ruairi, notou que seus olhos estavam fechados. E se ele ficasse ali na escuridão e ninguém o visse ou tomasse conhecimento dele durante a noite? Morreria congelado. Ela parou e e chamou-o.
Ele pestanejou e olhou para cima. Na escuridão, ela supôs que ele não conseguisse ver direito seu rosto. Os olhos dele eram inexpressivos.
— É Una. Do hospital. Lembra-se de mim?
— Agh. — Seria o início de um sorriso? — Una.
Em seguida, ele tombou de lado e permaneceu totalmente imóvel.
Ela ficou vários minutos ali para ver se ele voltava a si. Não voltou. Então surgiu na alameda um homem empurrando um carrinho de mão, vindo da Matadouro de Peixes. Era hora de agir. — Eu sou do hospital — disse-lhe ela. — Esse é um dos nossos pacientes. Podia me ajudar a levá-lo em casa?
— Nós o levaremos em casa num piscar de olhos. Abra os olhos, belezinha
gritou no ouvido de Ruairi. Como não fez efeito, ele o jogou, não sem alguns desagradáveis trancos, no carrinho e partiu atrás de Una, que mostrava o caminho.
O padre Gilpatrick ficou bastante surpreso, no final de novembro, ao encontrar Brendan o'Byrne à sua porta. Perguntou-se por um momento se, por algum motivo, ele queria conversar sobre sua irmã e tentou imaginar o que poderia dizer em favor dela que não fosse uma discrepância da verdade.
Parecia, porém, que Brendan tinha um assunto mais importante a tratar. Quando explicou que precisava de conselhos, Brendan deu a entender, depois, que viera vê-lo em particular por causa de sua discrição e de seu conhecimento da Inglaterra após ter residido lá.
— O senhor deve saber — continuou — que os o'Byrne, como os o'Toole, com seus territórios ao sul e a oeste de Dublin, sempre precisaram prestar muita atenção aos acontecimentos tanto em Dublin quanto em Leinster. Agora, ao que parece, teremos reis ingleses em ambas. Os o'Byrne andam pensando no que devem fazer.
Gilpatrick gostava de Brendan o'Byrne. Com sua calma e precisão, tinha o raciocínio de um erudito. Pelo que Gilpatrick sabia, o chefe dos o'Byrne ainda não fora procurar o rei Henrique em seu palácio de vime. Portanto, disse a Brendan exatamente qual era o jogo que achava que Henrique estava fazendo ao induzir os reis irlandeses a lhe prestar homenagem, ameaçando-os com Strongbow. — E note que o homem é esperto — acrescentou —, pois, enquanto mantém de Lacy em Dublin como contrapeso, Henrique tem as outras terras de Strongbow na Inglaterra e na Normandia, as quais pode ameaçar a qualquer momento que Strongbow lhe causar qualquer problema.
O'Byrne ouviu atentamente. Gilpatrick percebeu que ele refletira sobre todos os detalhes da avaliação. Sua pergunta seguinte, porém, foi ainda mais extraordinária.
— Estive pensando, padre Gilpatrick, sobre o que exatamente estão jurando os chefes irlandeses. Quando um rei irlandês vai à casa de um rei mais poderoso, isso significa proteção e pagamento de tributo. Mas, do outro lado do mar, na Inglaterra, pode significar algo diferente. Sabe me dizer o que isso significa?
— Ah. É uma boa pergunta. — Gilpatrick olhou-o com admiração. Eis um homem que procurava causas mais profundas. Não fora essa exatamente a conversa que ele iniciara com o rei supremo o'Connor e com o arcebispo, mas nenhum dos dois entendera realmente o que ele tentava lhes dizer? Ele então esboçou para Brendan como funcionava o sistema feudal na Inglaterra e na França.
— Um vassalo do rei Henrique jura lealdade a ele e promete cumprir o serviço militar a cada ano. Se um cavaleiro, por conta própria, não consegue apresentar-se totalmente equipado e armado, ele, em vez disso, paga por um mercenário. Portanto, pode-se dizer que isso é semelhante ao tributo de gado que um rei irlandês receberia. Um vassalo também recorre ao seu senhor por justiça, exatamente como nós fazemos. Mas as semelhanças param por aí. A Irlanda, desde tempos imemoriais, tem sido dividida em territórios tribais. Quando um chefe presta um juramento, também o faz em seu nome, no nome do clã que governa e de sua tribo. Mas lá as tribos já desapareceram há muito tempo. A terra é organizada em povoados de pequenos agricultores e servos, que são quase como escravos ou utensílios. Vêm junto com a terra. E lá, quando um vassalo presta uma homenagem a um rei, não oferece lealdade em troca de proteção, ele confirma seu direito de ocupar aquela terra e os pagamentos feitos dependerão do valor da terra.
— Esse sistema não é desconhecido na Irlanda — observou Brendan.
— É verdade — concordou Gilpatrick. — Pelo menos desde a época de Brian Boru, temos visto reis irlandeses concederem propriedades a seus seguidores no que antigamente teria sido considerado como terras tribais. Mas são exceções; ao passo que, do outro lado do mar, todo mundo tem de conseguir sua terra dessa maneira. E também isso não é tudo. Quando um vassalo morre, seu herdeiro precisa pagar uma grande soma ao rei para herdá-la... é chamada de multa reparatória. Também há outras inúmeras obrigações.
“E, na Inglaterra em particular, funciona um sistema ainda mais severo, pois, quando Guilherme, o normando, tomou a Inglaterra dos saxões, ele declarou que toda ela pertencia a ele por direito de conquista. Mandou avaliar cada metro quadrado do país, para saber o que podia render, e tudo foi anotado num enorme livro. Seus vassalos só ocupavam suas terras por condescendência. Se alguém causasse problema, ele não castigava e cobrava tributo apenas. Tomava a terra e a transferia para qualquer outro de sua escolha. São poderes muito além do que qualquer rei supremo irlandês jamais sonhou.
— Esses ingleses são uma gente cruel.
— Os normandos é que são, para ser exato. Pois alguns deles tratam os ingleses saxões como cães. Um irlandês é um homem livre, dentro de sua tribo. O camponês saxão não o é. Sempre me pareceu. — confessou Gilpatrick — que os normandos se importam mais com as propriedades do que com as pessoas. Aqui na Irlanda, nós disputamos, brigamos, às vezes matamos, mas, a não ser que estejamos realmente furiosos, há bondade e consideração entre nós. — Suspirou. — Talvez seja apenas uma questão de conquista. Afinal, nós mesmos ficamos contentes de possuir escravos ingleses.
— O senhor acha que algum dos nossos príncipes irlandeses imagina que pode estar assumindo esses compromissos ingleses quando vai à casa de Henrique? — perguntou Brendan.
— Creio que não.
— Henrique os coloca a par?
— Certamente não.
— Então acho que entendo — disse Brendan refletidamente — como vai funcionar. Acontecerá que os ingleses... não Henrique, que claramente não é honesto... mas os senhores de terras ingleses acreditarão verdadeiramente que os irlandeses juraram uma coisa, e os irlandeses acharão que juraram outra, e ambos os lados vão desconfiar um do outro. — Suspirou. — Esse rei Plantageneta nasceu do demônio.
— É o que se diz de toda a família dele também. O que pretende fazer?
— Não sei. Mas lhe agradeço, padre, pelo seu conselho. A propósito — disse sorrindo —, não tive a oportunidade de ver sua família e sua irmã. Transmita-lhes meus cumprimentos. Especialmente a Fionnuala, é claro.
— Eu o farei — prometeu Gilpatrick e Brendan se foi. E seria muito bom para essa família, pensou ele, se você se casasse com ela. Mas você é bom demais para ela, Brendan o'Byrne. Bom demais.
Não demorou muito para Una enxergar algo bom no jovem Ruairi o'Byrne. Após a primeira noite de sono no hospital, ele pareceu bem o bastante na manhã seguinte, e ela achou que iria embora. Na metade do dia, porém, ele continuava lá. Aliás, aparentava estar bem contente em conversar com os pacientes, que pareciam gostar de sua companhia. Fionnuala não estava presente e, vendo que Una precisava de ajuda, ele mais de uma vez apresentou-se para ajudá-la em suas tarefas. A esposa do Peregrino achou-o um rapaz muito agradável. O próprio Peregrino, embora não hostilmente, murmurou que um jovem com aquela idade devia ter coisas melhores a fazer, o que motivou uma repreensão de sua mulher.
Ruairi não demonstrou desejo de ir embora naquele dia, e disse que teria prazer em dormir no dormitório dos homens. Na manhã seguinte, disse a Una que precisava comprar um cavalo em Dublin para poder voltar à casa dos o'Byrne. Fionnuala estava de serviço, mas ele saiu cedo, antes de ela chegar, e só retornou após sua saída. Ao voltar, parecia um pouco pálido. O comerciante com quem havia negociado tentara lhe vender um cavalo doente, mas ele descobrira bem a tempo. Demonstrava irritação por não conseguir ir embora e dormiu outra noite no hospital.
Na manhã seguinte, Ruairi parecia deprimido. Ficou sentado no pátio, com expressão melancólica, e não parecia claro que ele pretendesse ir a qualquer lugar. Quando conseguiu um tempo livre de seus afazeres, Una foi se sentar a seu lado. Por algum tempo, ele não falou muita coisa, mas quando ela lhe perguntou delicadamente por que estava triste, Ruairi confessou que tentava tomar uma difícil decisão.
— Eu deveria voltar. — Apontou para o sul em direção ao vale do Liffey e as montanhas de Wicklow, e ela deduziu que ele quis dizer voltar para os o'Byrne. — Mas tenho outros planos.
— Outra viagem que pretende fazer? — perguntou ela, pensando consigo mesma que ele acabara de retornar de uma.
— Talvez. — Hesitou e então falou calmamente: — Ou uma viagem maior.
— Aonde iria?
— Estou pensando em fazer uma peregrinação — confessou. — Talvez a Compostela ou à Terra Santa.
— Com todos os santos! — exclamou ela. — É demorado e perigoso sair andando pelo mundo. — Olhou-o para ver se estava falando sério. — Você faria mesmo, igual ao Peregrino, o caminho todo até Jerusalém?
— Seria melhor — murmurou — do que voltar para lá. — E, mais uma vez, apontou na direção em que sua família vivia.
Ela não pôde evitar de sentir pena dele e ficou imaginando por que ele estaria com tanta má vontade com a sua família.
— Você devia ficar aqui alguns dias — aconselhou ela. — É um lugar tranqüilo onde poderá descansar a mente como também o corpo. Você tem rezado por isso?
perguntou, e quando ele pareceu indeciso, ela suplicou: — Reze e suas orações certamente serão atendidas. — Secretamente, ela já pretendia rezar por ele.
Então ele ficou mais um dia. Quando Una contou ao Peregrino os problemas do pobre Ruairi e seus planos, ele apenas lançou-lhe um olhar torto e comentou:
— Você está perdendo seu tempo com um rapaz como esse.
Ela ficou surpresa por um homem bom e, além disso, um peregrino, dizer uma coisa dessas, e pôde apenas concluir que ele não entendera. Também fez restrição ao seu tom de voz, que ela achou paternalista. O Peregrino, ao perceber que ela se aborrecera, acrescentou calmamente: — Ele me lembra o rapaz que eu costumava ser.
— E talvez — disse ela irritada — também não conheça tão bem esse rapaz. — Ela nunca falara naquele tom com o Peregrino e perguntou-se se não teria ido longe demais. Para sua surpresa, porém, ele não demonstrou sinal de irritação.
— Talvez — disse ele, com súbita tristeza para a qual ela não viu explicação.
Na manhã seguinte, Fionnuala estava de volta. Cumprimentou Ruairi educadamente, mas não pareceu interessada em conversar com ele. Quando Una comentou isso, Fionnuala fitou-a e disse calmamente:
— É em Brendan que estou interessada, Una. — E não discutiram mais o assunto.
Entretanto, de tarde, enquanto Fionnuala conversava com um dos pacientes, Una foi até Ruairi, que estava sentado melancólico no pátio. Desde a conversa anterior, ocorrera-lhe que devia ser diferente fazer parte de uma família principesca como a dos o'Byrne, principalmente quando você tinha de se comparar com um homem com a reputação de Brendan. Uma peregrinação à Terra Santa certamente teria o efeito de tornar Ruairi numa figura notável. Mas seria isso, perguntou-se ela, o que ele desejava realmente fazer?
— Eles me atormentam! Me desprezam! — explodiu de repente. Então retornou à melancolia. — Ruairi é um pobre coitado! E isso que dizem. “Brendan é o tal.” E é. É verdade. E o que eu andei fazendo toda a minha vida?
— Deve ter paciência, Ruairi — recomendou. — Deus tem um desígnio para você, assim como para todos nós. Se rezasse e escutasse, Ruairi, você descobriria qual é. Tenho certeza de que fará coisas importantes. É isso que deseja? — perguntou, e ele respondeu que sim.
Una sentiu-se honrada e comovida por ele ter compartilhado um desejo tão íntimo com ela. Naquele momento, com seu longo corpo curvado e seu belo rosto jovem mergulhado em tristeza, Ruairi pareceu-lhe tão nobre e tão distinto q seu coração acelerou com o pensamento do que ele poderia se tornar. Se ao menos conseguisse se encontrar, pensou, ele faria coisas mais importantes do que pessoas imaginam. Sem sequer pensar no que fazia, ela abrigou as mãos dele nas suas por um momento. Então ouviu Fionnuala chamá-la e teve de ir.
Se ao menos ela não tivesse falado para Fionnuala. Se ao menos tivesse mantido para si mesma a confissão de Ruairi, como aliás deveria ter feito. Jamais poderia se perdoar, depois disso, pela sua tolice. Mas estava feito. Como as duas trabalhavam juntas, ela não quis que um idiota contasse a Fionnuala que o jovem Ruairi pensava em ir à Terra Santa, e que isso a deixou preocupada.
Contudo, perguntou a si mesma o que poderia ter levado aquela garota estúpida a perguntar-lhe naquela mesma noite:
— Então é para Jerusalém que você vai, Ruairi? Será que há muita bebida no caminho? — E deu uma risada, e Ruairi nada disse a Fionnuala, mas deu um olhar de reprovação para Una, que quase despedaça seu coração. Na manhã seguinte, ele se foi.
E como se tudo isso não tivesse sido ruim o bastante, quem jamais poderia supor a reação de Fionnuala quando Una, corretamente, a repreendeu por ter tratado o pobre Ruairi tão vergonhosamente. Ela riu na cara de Una.
— Está apaixonada por ele, Una — bradou ela. — Não percebe?
— Mentira! Você está maluca?
— Não mais do que você, Una, por estar apaixonada por um pobre sujeito inútil.
— Ele não é. Eu não estou. — Una estava tão enrubescida e furiosa que mal conseguia falar. E Fionnuala continuava rindo, o que fazia Una odiá-la ainda mais. Então a moça tola saiu correndo e Una pôde apenas imaginar, em sua fúria, como era possível uma pessoa se equivocar tanto.
Só voltou a ver Ruairi novamente em dezembro. Era o dia seguinte à ida do padre Gilpatrick a Cashel para o grande concílio que havia lá. Grande parte do acampamento real também havia partido e Dublin estava mais tranqüila do que estivera recentemente. A esposa do Peregrino tinha ido à feira. Pouco antes de Fionnuala ter de voltar para casa, ela e Una ficaram surpresas ao verem a esposa do Peregrino retornar na companhia de um jovem. Era Ruairi.
— Encontrei-o na feira — explicou. — Não ia deixar este belo jovem ir embora sem que viesse aqui visitar as nossas duas garotas.
Se Ruairi tivesse ido a contragosto, ele teve a boa virtude de não demonstrar. Foi cumprimentar alguns dos pacientes, o que lhes deu grande prazer; e explicou que estivera recentemente com sua família. Una quis perguntar pelos seus planos de peregrinação, mas não o fez. Foi Fionnuala, após alguns instantes de uma desajeitada pausa, quem entabulou a conversa.
-—Tem visto o seu primo Brendan? — perguntou. — Não apareceu por aqui nas últimas semanas.
— Tenho, — Será que ele parecia um pouco constrangido? Una achava que sim; e quando olhou de relance para Fionnuala, parecia que ela também achava a mesma coisa.
— Então ele está bem, não? — insistiu Fionnuala.
— Oh. Ah, sim, de fato. Sempre tudo está bem com Brendan.
— Ele já se casou? — continuou atrevidamente Fionnuala. E agora ficou óbvio que Ruairi estava realmente pouco à vontade.
— Há conversas a respeito, creio eu. Uma das OToole. Mas não sei dizer se a coisa é definitiva. Sem dúvida — acrescentou com a cara amarrada — eu serei o último a saber.
Não, pensou Una, Fionnuala será a última a saber; e olhou para a amiga com compaixão. Mas, pela cara de Fionnuala, ela reagira bem à notícia.
— Bem, ele é certamente um excelente homem — disse ela. — Sua esposa talvez não tenha motivos para rir com freqüência; mas, desde que ela tenha tendência à seriedade, tenho certeza de que será feliz. — Sorriu radiante. — Vai voltar a Dublin, Ruairi?
— Vou.
— Então poderá caminhar comigo, estou indo para casa.
Depois disso, Fionnuala nunca mais falou em Brendan. Quanto a Ruairi, Una nunca mais o viu. Ouviu dizer uma ou duas vezes que estivera em Dublin e perguntou a Fionnuala se ela o tinha visto ou ouvido falar nele; mas Fionnuala respondeu que não.
A rocha de Cashel
Já fazia setenta anos que o rei o'Brien ofertara a antiga fortaleza de Munster, com sua vista dominante da paisagem rural, à Igreja para o uso do arcebispo. Era certamente um local magnífico para se realizar um concílio, e também apropriado, pensou Gilpatrick: pois um grande número dos clérigos de Munster, que ele conhecia, eram tão ardorosos reformistas quanto ele. Deveria ser uma grande reunião. A maioria dos bispos, muitos abades e um núncio papal deviam estar presentes. Mesmo assim, ao se aproximar do cume de sua pedra cinzenta, ele teve uma sensação de inquietude.
Fora interessante observar o rei Henrique.
Embora tivesse convocado o concílio, o rei pedira ao núncio apostólico papal que assumisse a presidência, aparentemente submetendo-se a ele em tudo e permanecendo sentado, calado, a um canto do grande salão da reunião. Na maioria dos dias vestira-se sem cerimônia, com a simples túnica verde de caça de que gostava. Seu cabelo, que cortava curto, tinha um leve matiz avermelhado, o que lembrava um dos seus ancestrais vikings normandos. O rosto, porém, era atento, astuto, vigilante; e Gilpatrick não pôde deixar de imaginar que ele era como uma raposa observando tantas galinhas eclesiásticas.
Além do núncio apostólico, estavam presentes vários clérigos ingleses ilustres, e foi um deles, no primeiro dia dos trabalhos, quem forneceu a Gilpatrick e Lawrence OToole algumas informações interessantes.
— Vocês têm de entender — disse-lhes calmamente durante uma pausa nos trabalhos — que o rei Henrique está ansioso para dar uma boa impressão. Essa morte do Becket... — Aqui, baixou a voz: — Há bispos na Inglaterra que acham Becket tão culpado quanto Henrique. E posso lhes dizer que, no mínimo por razões de estado, é inconcebível que Henrique tenha ordenado o assassinato. Seja como for, o rei está ansioso para mostrar sua compaixão...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades