



Biblio "SEBO"




A defesa da testa de ponte de PARIS é duma importância vital no plano militar e político. A perda da cidade provocaria a ruptura de toda a frente do litoral ao norte do Sena e privar-nos-ia das nossas bases de lançamento para o combate remoto contra a Inglaterra.
É da História que a perda de PARIS arrastou sempre consigo, até hoje, a perda de toda a França.
O Fuhrer reitera portanto a sua ordem: PARIS tem de ser defendida na posição-chave que antecede a cidade. Ele manda que sejam chamados para esse efeito os reforços destinados ao comandante-chefe a Oeste.
No interior da cidade, é necessário intervir com os meios mais enérgicos quando surgirem os primeiros sintomas de rebelião, destruindo quarteirões, procedendo à execução pública dos cabecilhas, fazendo evacuar os bairros ameaçados. É desta forma que melhor se conseguirá impedir o alastramento dos movimentos rebeldes.
A destruição das pontes sobre o Sena deve ser preparada. PARIS não pode cair nas mãos do inimigo, ou então o inimigo não deverá aí encontrar mais do que um campo de ruínas.
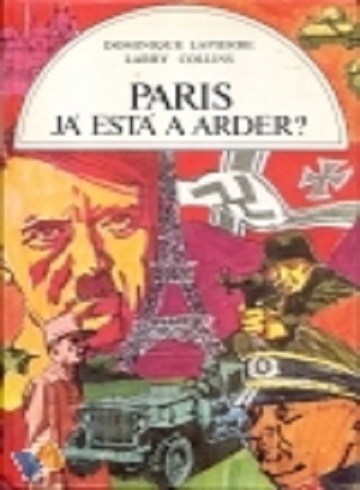
Capitulo primeiro
Nunca estava atrasado. Todas as tardes, quando ele chegava transportando a sua velha Mauser, o binóculo no estojo usado e a sua marmita, os habitantes de May-en-Multien diziam: ”6 horas! Lá vem o alemão.” E invariavelmente, enquanto ele atravessava o largo da vila, os primeiros toques das ave-marias ressoavam no campanário da pequena igreja do século XII, consagrada a Nossa Senhora da Assunção, debruçada do pequeno monte que dominava o Ourcq.
Como todas as tardes, o alemão dirigia-se para a igreja. Era um sargento da Luftwaffe, de cabelos já grisalhos nas fontes. Descobriu-se antes de entrar e, de bivaque na mão, subiu lentamente os degraus da escada de caracol que levava ao campanário. Lá em cima havia uma mesa, um calorífero a petróleo e uma cadeira cujo assento de palha podia ser retirado e que servia de genuflexório. Sobre a mesa estava um mapa de estado-maior, um calendário dos Correios franceses e um telefone de campanha. O campanário da igreja de Nossa Senhora da Assunção era um observatório da Luftwaffe.
Dali, o alemão podia vigiar toda a região com a ajuda do binóculo. Desde as agulhas da catedral de Meaux, ao sul, até às muralhas medievais do castelo de La Ferté-Milon, a 17 quilómetros para o norte, o seu olhar podia abarcar uma vasta área do Marne, a grande povoação de Lizy, com as suas casas caiadas de branco, e as encostas verdejantes do vale do Ourcq bordejado de choupos.
Dentro de poucas horas, a noite cairia sobre esta paisagem repleta de doçura. Escutando o céu, perscrutando as trevas que o rodeariam, o Feldwebel do campanário de May-en-Multien daria então início a mais uma noite de vigília, a quinquagésima oitava desde a invasão. Depois, às primeiras horas da manhã, pegaria no seu telefone de campanha e faria o seu relatório ao quartel-general regional da Luftwaffe, em Soissons. Desde a última Lua-cheia, doze dias antes, os relatórios do Feldwebel haviam sido sempre os mesmos: ”Nada a assinalar no meu sector.”
Os alemães sabiam que os Aliados esperavam sempre pela Lua-cheia para efectuar os seus lançamentos em pára-quedas à Resistência francesa. Sobre a mesa do campanário, o calendário indicava que não haveria Lua-cheia antes de dezasseis noites, antes da noite de 18 de Agosto.
O alemão estava certo de que, no minúsculo sector da França ocupada que naquela noite ele guardava, nada se passaria. Nessa noite de 2 de Agosto de 1944 ele poderia portanto passar pelo sono, sem receio, sentado no genuflexório das paroquianas de May-en-Multien. Mas estava enganado.
Durante o seu sono, a menos de três quilómetros em linha recta do campanário, dois homens e uma mulher ’ da Resistência balizavam uma área destinada aos lançamentos de pára-quedas no campo de trigo do fazendeiro Rousseau. Pouco passava das onze horas quando ouviram o ruido que aguardavam, o ronronar surdo de um bombardeiro Lancaster que sobrevoava a baixa altitude o vale do Ourcq. Então acenderam as suas lanternas.
Lá em cima, depois de ter conseguido descobrir o minúsculo triângulo luminoso que buscava no meio das trevas, o piloto do bombardeiro premiu um botão e, no interior da carlinga, uma luz vermelha passou a verde. Era o sinal que um homem esperava para se lançar na noite.
Enquanto caia e se balançava em silêncio na noite morna, o pára-quedista
- um jovem estudante de Medicina chamado Alain Perpezat- sentia roçar contra o ventre o cinto especial que trazia, o qual continha cinco milhões de francos. Mas não era para levar essa pequena fortuna que Alain tinha acabado de saltar: dissimulado na sola do sapato esquerdo encontrava-se um pedaço de seda no qual estava inscrita uma mensagem de dezoito grupos de letras em cifra. Os chefes dele consideravam essa mensagem tão importante e urgente que, contra todos os antecedentes, tinham decidido efectuar o lançamento em pára-quedas numa noite sem Lua.
O próprio Perpezat desconhecia o teor da mensagem. Tudo o que sabia era que devia entregá-la o mais depressa possível ao chefe do Intelligence Service em França. Este chamava-se ”Jade Amicol” e tinha o seu quartel-general em Paris.
Eram 7 horas da manhã seguinte quando Perpezat saiu da meda de palha na qual os três membros da Resistência o tinham escondido após a sua aterragem. O pára-quedas e o fato que utilizara para o salto estavam já cuidadosamente enterrados sob um monte de estrume. Através dos campos, Alain dirigiu-se então para a estrada nacional n.o 3. Para alcançar Paris, a 80 quilómetros de distância, não tinha senão um recurso: o auto-stop.
Diversos veículos passaram por ele. Por fim, uma camioneta parou. Aterrado, Alain reconheceu - mas já era tarde - a placa mineralógica ostentando o distintivo vermelho, amarelo e preto da Luftwaffe. Na caixa da camioneta havia uma metralhadora antiaérea, junto da qual se encontravam quatro soldados alemães com capacetes de aço. A porta da cabina abriu-se e o motorista perguntou: ”Nach Paris?” Dominando o medo, Alain sorriu e ocupou o lugar ao lado do alemão, um ”praça velha” das forças territoriais. Ao sentar-se, o pára-quedista sentiu de novo o cinto recheado de notas roçar pelas suas costelas. Pareceu-lhe de repente que ele pesava como chumbo e perguntou a si próprio se a barriga que ele lhe fazia não iria atrair as atenções do alemão. Mas este embraiou sem uma palavra e a camioneta arrancou. A pesada Mercedes retomava a sua marcha em direcção a Paris.
Ajoelhados na penumbra da capela, as nove
irmãs da Ordem da Santa Agonia rezavam em coro o terceiro rosário do dia quando três prolongados toques de campainha, seguidos dum outro mais curto, ressoaram no silêncio do convento. Imediatamente duas delas ergueram-se, benzeram-se e saíram da capela. Para a
1 Tratava-se de Jean Laire, hoje director da Cooperativa Agrícola de Lizy-sur-Ourcq, do comerciante de cereais René Body e de sua mulher, Odette.
irmã Jean, madre-superiora, e para a irmã Jean-Marie Vianney, sua assistente, esses toques de campainha eram um sinal. Significavam: ”Visita importante.”
Durante quatro anos, os alemães tinham incessantemente procurado esse convento parisiense, situado na Rua da Glacière, n.o 127. No parlatório dessa edificação semiarruinada, construída no ângulo dum terreno baldio, junto às muralhas sinistras do hospital psiquiátrico de Santa Ana, ocultava-se o quartel-general de ”Jade Amicol”, o chefe do Intelligence Service na França ocupada.
Protegido por essas velhas pedras e pela coragem tranquila dum punhado de freiras, o quartel-general de ”Jade Amicol” conseguira sobreviver aos terríveis golpes desferidos pela Gestapo na Resistência francesa, a todas as armadilhas, a todas as denúncias e a todas as investigações.
Através do postigo da estreita porta do convento a irmã Jean descortinou a face dum jovem.
’’ O meu nome é Alain - disse ele -, sou o portador duma mensagem para o coronel.”
A irmã Jean abria a porta e avançou para o limiar, a fim de se certificar de que o jovem estava só e não fora seguido. Depois, fez-lhe sinal para entrar.
No parlatório, sob o retrato austero do lazarista desconhecido que fundara a Ordem da Santa Agonia, Alain Perpezat descalçou o sapato esquerdo. Em seguida separou, com a lâmina duma faca, as diferentes camadas de sola. Um pedaço de seda surgiu. Alain estendeu-o a um homem, um indivíduo enorme, calvo, de olhos azuis, que calmamente aguardava, sentado numa cadeira. Esse homem era o coronel Claude Ollivier - aliás ”Jade Amicol”.
o coronel examinou as letras misteriosas inscritas no pedaço de seda e fez um sinal à irmã Jean, que imediatamente se afastou com passos miúdos. Instantes depois, a freira regressou trazendo uma espécie de lenço. Era a rede que ”Jade Amicol” utilizava para decifrar as suas mensagens codificadas. O tecido, da espessura duma lâmina de barba, era feito duma matéria solúvel que podia ser instantaneamente engolida em caso de emergência. A irmã Jean guardava esse objecto na capela, escondido sob o tabernáculo do altar do Bom Ladrão.
Ollivier ajustou a rede sobre a mensagem que o recém-chegado acabara de lhe trazer. Quando já decifrava as últimas linhas, a sua expressão tornou-se apreensiva. O Alto Comando Aliado, dizia a mensagem, tomou a decisão de contornar Paris e de retardar tanto quanto possível a sua libertação. Prevenimo-lo de que este
plano não será alterado sob qualquer pretexto.” A mensagem era assinada por ”General”2.
O coronel ergueu a cabeça para Alain.
”Meu Deus -exclamou -, isto é uma catástrofe!”
Na sala anexa, o carrilhão dum relógio Luís XIII fazia ressoar no silêncio do convento as primeiras badaladas do meio-dia.
Capítulo segundo
Naquela manhã de Agosto, Paris vivia o seu 1503.o dia de ocupação. Às 12 horas precisas, o soldado de 2.a classe Fritz Gottschalk, bem como os 250 homens do Sicherungsregiment’ ao qual ele pertencia, descia a Avenida dos Campos Elíseos. Mas nesse dia poucos parisienses havia nos passeios da avenida triunfal para assistir ao desfile diário do soldado Gottschalk e dos seus camaradas. Há muito que os Parisienses tinham aprendido a evitar semelhantes humilhações. Desde o dia 15 de Junho de 1940 que as únicas bandeiras tricolores que eles podiam livremente contemplar se encontravam nos Inválidos, encerradas nos armários vidrados, cobertos de pó, do Museu Militar.
As cores encarnada e preta que flutuavam no cimo da Torre Eiffel eram as do pavilhão nazi, com a cruz gamada. E essas mesmas cores ornavam centenas de hotéis, de monumentos, de edifícios de todas as espécies requisitados pelos conquistadores de Paris.
Sob as arcadas da Rua de Rivoli, à volta da Praça da Concórdia, em frente do Palácio do Luxemburgo, da Câmara dos Deputados e do Quai d’Orsay, as guaritas negras, brancas e vermelhas da Wehrmacht impediam o trânsito dos Parisienses pelos passeios da sua própria cidade.
Diante do n.o 74 da Avenida Foch, do n.o 9 da Rua de Saussaies, e junto doutros edifícios mais discretos mas não menos conhecidos, outros homens estavam de sentinela. Nos ombros ostentavam a insígnia das S. S. Os seus vizinhos dormiam mal. Porque, de noite, das janelas desses edifícios, escapavam-se gritos medonhos, impossíveis de abafar.
Os alemães tinham modificado o próprio aspecto da cidade, melhor, a sua expressão. Mais de uma centena de estátuas tinham sido desmontadas e apeadas, entre elas o gigantesco bronze de Vítor Hugo, que em tempos se erguera, imponente, junto do prédio onde morrera o apóstolo da Liberdade. Levadas para a Alemanha, tinham depois sido fundidas e transformadas em canhões.
Os arquitectos da organização Todt haviam-nas substituído por monumentos menos significativos, menos evocadores, mas muito mais eficazes: dezenas de pequenos blockhaus2, cujas armas podiam facilmente varrer os principais cruzamentos e praças de Paris.
Uma floresta de letreiros indicadores de direcção brotara na Praça da Ópera, defronte das cadeiras de verga do Café de la Paix. As direcções que indicavam tinham nomes estranhos: ”Der Militarbefehlshaber in Frankreich”, ”General der Luftwaffe” e ”Hauptverkehrsdirektion Paris” 3. Nesse Verão, um novo letreiro aparecera junto dos outros: Para a frente da Normandia.
1 Regimento de Segurança. (N. do T.)
2 Pequenas casamatas. (N, do T.)
3 ”Comandante-chefe em França”, ”Comandante da Força Aérea”, ”Comandante do Tráfego de Paris’’. (N. do T.)
Nunca, até então, as largas avenidas da cidade tinham
tido um aspecto tão abandonado. Não havia autocarros. Os táxis tinham desaparecido desde 1940. Os poucos veículos que possuíam um ausweis alemão para circular utilizavam o gás de carvão de madeira como carburante, a cujo dispositivo de funcionamento se chamava gasogénio, o qual espalhava uma fumarada negra e acre pelas ruas.
As bicicletas e os carros puxados a cavalos eram senhores do trânsito. Os Parisienses tratavam e cuidavam deles com os mesmos carinhos que anteriormente tinham dispensado aos seus automóveis. Alguns motoristas de táxi tinham transformado os seus carros em trens. Outros inventaram os ”velotáxis”, e muitos destes curiosos veículos passaram a ser rebocados por antigos corredores da Volta à França. Um elevado número de ”velotáxis” trazia letreiros: ”Tempos Modernos” ou ”Século XX”, o que exprimia o humor carregado de troça característico dos Parisienses e cujo alcance o Alemão jamais conseguira apreender totalmente.
Nos dias úteis, o metropolitano fechava das 11 às 15 horas, não funcionando nos fins de semana. À noite, parava às 11 horas. O recolher obrigatório era à meia-noite. Quando os alemães apanhavam um parisiense nas ruas depois da hora do recolher, levavam-no para a Feldgendarmerie e, normalmente, obrigavam-no a engraxar as suas botas ou a coser botões nos uniformes durante toda a noite. Mas também, muitas vezes, apenas pelo crime de terem perdido o último ”metro”, homens e mulheres tornavam-se em reféns, que os alemães fuzilavam cobardemente quando algum membro da Wehrmacht2 era abatido pela Resistência.
Três dias por semana, os bares e os cafés deixavam de servir bebidas alcoólicas. Nas esplanadas dos seus cafés preferidos, os Parisienses saboreavam, o melhor que podiam, um líquido escuro feito à base de bolotas, a que chamavam ”café nacional...”
A capital estava praticamente privada de gás e de electricidade. As donas de casa tinham aprendido a cozinhar fazendo arder pequenas bolas de papel que introduziam em pequenos e rudimentares fogões feitos de latas de conserva.
Mas, sobretudo, Paris tinha fome. Transformada numa grande aldeia, Paris acordava todas as manhãs com o cantar dos galos. Os Parisienses tinham metamorfoseado as suas banheiras, os roupeiros e os quartos anteriormente destinados aos hóspedes em capoeiras. As crianças criavam coelhos nos quartos de dormir, em caixas e nas arcas onde costumavam guardar os seus brinquedos. Para alimentar a criação, iam todas as manhãs, antes das aulas, colher molhos de erva nos jardins públicos, o que era proibido.
Com as suas senhas de racionamento, os Parisienses teriam possibilidade de obter apenas dois ovos, 100 g de azeite e 80 g de margarina para todo esse mês de Agosto. A ração de carne era tão reduzida que os chansonniers afirmavam que ela podia ser embrulhada num bilhete de metropolitano
- contanto que este não tivesse ainda sido perfurado, pois nesse caso havia o perigo de a carne cair pelo buraco. O que provava que, apesar das circunstâncias, Paris se esforçava ainda por sorrir.
Nas paredes havia cartazes convidando os operários parisienses a ”unirem-se aos operários alemães” ou a alistarem-se na ”Legião contra o Bolchevismo’’. As
1 Carta de identificação e de autorização. (N. A)
2 Nome dado ao conjunto das diferentes armas infantaria. (N. do T.)
primeiras páginas dos jornais ”colaboracionistas”, como o ”Petit Parisien”, ”L’Oeuvre” e o semanário ”Je Suis Partout”, proclamavam que ”o trabalho na Alemanha não significava deportação’’ e afirmavam com orgulho que ’jamais o Alto Comando Alemão estivera tão confiante no futuro”. Nas páginas interiores, pequenos anúncios ofereciam ao leitor a possibilidade de efectuarem ”todo o género de mudanças por meio de carros puxados a cavalos’’.
Na Rua Auber, n.° 13, os escritórios da Waffen S. S. continuaram a recrutar voluntários para o III Reich até 16 de Agosto.
Mas Paris, mesmo assim, conseguia manter bem viva a sua alma. As suas mulheres nunca tinham sido mais belas. Quatro anos de restrições e de bicicleta diária tinham tornado mais rijos os corpos delas, mais finas e elegantes as suas pernas. E, apesar da falta de tecidos, que tanto se fazia sentir, elas ostentavam, nesse Verão, grandes chapéus com flores, como nos quadros de Renoir.
Em Julho, Madeleine de Rauch, Lucien Lelong e Jacques Path tinham lançado a ”moda marcial’’: ombros quadrados, cinturas largas e saias curtas.
Alguns dos tecidos eram de fibra de madeira -e assim, quando chovia, gracejavam os Parisienses, pequenos ramos começavam a brotar deles.
Nesse mês de Agosto, os Parisienses não tinham ido para fora. A guerra avassalava o solo da França e ninguém pudera transferir-se para a praia ou para o campo. As escolas mantinham-se abertas. Milhares de pessoas bronzeavam os corpos nas margens do Sena. Nesse Verão, as águas do rio transformaram-se na maior piscina do Mundo.
Para os ”colaboracionistas” e para os alemães das suas relações, bem como para os novos-ricos do mercado negro, ainda havia champanhe e caviar no ”Maxim’s’’, no ”Lido’’ e nalguns cabarets, como o ”Shéhérazade’’ e o ”Suzy Solidor”. Nessa semana, o Francês que fosse o feliz possuidor do bilhete n.º 174184 da 28.a extracção da Lotaria Nacional receberia seis milhões de francos - mais do que Alain Perpezat trouxera para Paris no seu cinto especial.
Aos sábados, domingos e segundas-feiras havia corridas de cavalos em Longchamp e em Auteuil. Os cavalos eram um pouco mais magros do que antes da guerra, mas o turf atraía a mesma legião de fanáticos de então, e estes contavam-se por milhares. O ”Luna Park” exibia cartazes publicitários que pretendiam consolar os Parisienses ”de não terem partido para férias. Com algumas pedaladas, poderão gozar aqui ar puro e sol!”
Yves Montand e Edith Piaff cantavam juntos no ”Moulin Rouge”. Serge Lifar fazia o balanço da última temporada de bailado e enviava felicitações a dois jovens desconhecidos, Zizi Jeanmaire e Roland Petit.
Uns poucos cinemas mantinham-se abertos, graças aos geradores eléctricos accionados pelas pedaladas vigorosas de briosos (e parados) ciclistas. O ”Gaumont Palace’’ anunciava ”um parque de estacionamento gratuito para 300 bicicletas”.
Os teatros funcionavam em sessões contínuas. Abriam às 3 horas da tarde. Nas colunas publicitárias Moriss viam-se cartazes anunciando mais de trinta peças diferentes. O ”Vieux Colombier” apresentava Huis Cios, cujo autor, Jean-Paul Sartre, vivia escondido numas águas-furtadas das vizinhanças e escrevia textos para a Resistência.
Mas havia, sobretudo, um hábito sagrado que mantinha os Parisienses no interior dos seus lares todas as noites desse Verão memorável. Naquela curta meia hora em que havia electricidade, de ouvidos colados aos receptores de rádio, procurando distinguir as palavras através das interferências propositadamente provocadas pelos postos emissores alemães, a cidade inteira ouvia, em silêncio, as notícias proibidas que a B.B.C, transmitia. Nessa noite de 3 de Agosto, ao findar um belo dia de Verão, milhões de parisienses iriam tomar conhecimento duma notícia que, pouco depois, se tornaria num autêntico pesadelo. Varsóvia, nessa noite, estava em chamas. Enquanto os ”libertadores’’ soviéticos sustinham o seu avanço às portas da cidade, a guarnição alemã que a ocupava esmagava uma prematura insurreição dos seus habitantes. Em breve, a capital polaca estaria transformada num montão de escombros fumegantes, nos quais teriam perdido a vida duzentos mil polacos.
Mas Paris estava intacta. De qualquer janela da cidade, os Parisienses poderiam contemplar nessa noite, como sempre, um dos mais extraordinários milagres da guerra: Notre-Dame, a Sainte Chapelle, o Louvre, o Sacré Coeur, o Arco do Triunfo, os Inválidos, todos os monumentos, enfim, que faziam desta cidade o facho da civilização humana, emergiam, sem uma arranhadura, de cinco anos do conflito mais devastador da História.
E agora aproximava-se o momento da libertação. Muito em breve o terrível destino de Varsóvia ameaçaria por sua vez Paris. Três milhões e meio de parisienses, orgulhosos de serem os guardiães dum tesouro inestimável, sentiam-se cada vez mais conscientes da ameaça e da calamidade que iria talvez cair sobre eles. E da mesma forma, por todo o Mundo, milhões de pessoas, para quem Paris era o símbolo dos valores para a integridade dos quais o mundo livre se batia contra a Alemanha nazi.
Mas, para três homens separados uns dos outros por milhares de quilómetros, Paris, naquela noite, significava outra coisa. Para eles, Paris era agora um objectivo.
Capítulo terceiro
Para o americano que irá libertar Paris, Paris é um dilema. No interior do carro de campanha atrelado no qual instalara o seu P. C. operacional, dissimulado num bosque encharcado pela chuva, a dois quilómetros da praia normanda de Granville, o general Dwight Eisenhower tomara finalmente uma decisão. Era, talvez, a decisão mais importante desde o desembarque: Paris seria libertada o mais tarde possível. Os exércitos que ele comandava não marchariam sobre a capital francesa.
Contornariam a cidade e, mais tarde, cercariam então o seu objectivo. Assim, Paris não seria libertada antes de dois meses, nunca antes de meados de Setembro.
O comandante supremo não tomara esta decisão levianamente. Eisenhower sabia melhor do que ninguém a enorme retumbância emocional que a libertação de Paris iria ter sobre os Franceses, sobre os seus próprios soldados, no Mundo inteiro. E estava bem consciente da impaciência cada vez maior dos três milhões e meio de parisienses.
Mas, no seu espírito, algo pesara mais do que a palavra mágica ”Paris”: a ma argumentação dum relatório militar de vinte e quatro páginas dactilografadas.
A capa azul que envolvia este documento trazia a indicação: Ultra-Secreto Operação Post-Neptuno ’ - Travessia do Sena e Tomada de Paris. Os seus autores eram os conselheiros militares do S. H. A. E.F. 2, três oficiais cuja missão consistia em fornecer ao comandante-chefe informações e recomendações que permitissem a este elaborar a sua estratégia própria.
Eisenhower sabia já que os alemães defenderiam Paris com a maior energia: ”Todas as razões geográficas e estratégicas - diria ele mais tarde - , os levavam a isso.”
Ora Paris era precisamente uma batalha que o general não queria travar. O relatório de 24 páginas colocado sobre a mesa de madeira que lhe servia de secretária explicava porquê.
”Se os alemães decidem defender Paris por todos os meios ao seu dispor-preveniam os conselheiros do S.H.A.E.F. -, para os desalojar será necessário travar uma prolongada e ruinosa batalha de ruas, tal como sucedeu em Estalinegrado, batalha essa que conduziria à destruição da capital francesa.”
Eisenhower recusava-se a correr esse risco. E negava-se por isso a enviar para o vespeiro de Paris os seus blindados que, àquela hora, corriam desenfreada e quase livremente através dos campos franceses.
Mas, ainda e sobretudo, uma consideração primordial determinara a sua decisão. Continha-a um parágrafo do relatório colocado sobre a sua secretária.
”A libertação prematura de Paris levantaria às nossas próprias forças uma série de graves problemas de abastecimento e de transporte. As obrigações civis que ela nos forçaria a assumir corresponderiam à utilização de oito divisões de combate.’’3
Por outras palavras: para Eisenhower, a tomada de Paris faria com que a quarta parte do seu Exército caísse numa estagnação inútil. Jamais ele aceitaria esse risco. A gasolina era, nesse Verão, o que de mais valioso havia no Mundo. ”A perda dum único litro de gasolina - dirá ele mais tarde -, era-me insuportável. ’’ E Paris custar-lhe-ia centenas de milhares de litros.
Porque o libertador de Paris teria por obrigação moral socorrer e ajudar três milhões e meio de parisienses. ”Apenas no que diz respeito ao fornecimento de mantimentos e medicamentos - dizia o relatório do S.H.A.E.F.-, as necessidades da população civiLde Paris elevam-se a setenta e cinco mil toneladas para os dois primeiros meses. A acrescentar, mais mil e quinhentas toneladas de carvão por dia para os serviços públicos.”
Os caminhos de ferro eram inutilizáveis; seria pois necessário desviar milhares de camionetas para transportar, dos únicos portos disponíveis e já saturados - Cherburgo e as praias de desembarque- até Paris, ou sejam
650 quilómetros, ida e volta, a enorme tonelagem necessária para satisfazer as primeiras necessidades dos Parisienses. Avoid that commitment - and liberating Paris. ”Evitar tomar semelhante responsabilidade - e evitar tomar Paris,
1 Primeiramente chamada ”Operação Overlord”, a invasão tomara, após o desembarque, o nome de ”Operação Neptuno’’.
2 Supreme Headquarters of A Hied Expeditionary Forces - Grande Quartel-General do Corpo Expedicionário Aliado.
3 Nesse dia, 1 de Agosto, tinham desembarcado em frança trinta e sete divisões.
O PLANO INICIAL DE EISENHOWER: CERCO DE PARIS
O 21.ºgrupo de exércitos britânico, avançando para N e NE, em direcção a Soissons, e o 12.ºgrupo de exército dos E. U. A., dirigindo-se para Reims, têm por missão rodear Paris pelo Norte e pelo Sul, cercando os 1.º, 7,º e 15.º exércitos alemães.
Durante tanto tempo quanto for possível”, recomendavam os conselheiros do S.H.A.E.F.
Estes tinham sugerido e apresentado ao comandante supremo um plano diferente. Consistia este em executar um largo movimento em tenaz a norte e a sul de Paris, através das vastas planícies que tão bem se prestavam à evolução maciça dos carros de assalto e ao uso intensivo da aviação.
Dum único golpe, os Aliados poderiam apoderar-se das rampas de lançamento de VI e de V2 situadas no Norte da França. A destruição dessas bases, consideravam-na os peritos de Eisenhower tão urgente e necessária que, só por ela, se justificava ’’ que fosse tomado um conjunto de riscos superior ao normal’’.
O XXI Grupo de Exércitos inglês, comandado por Montgomery, atacaria no Baixo Sena, entre o Oise e o mar. Depois de conquistar o Havre e de se apoderar das rampas de lançamento de VI e de V2, Montgomery avançaria para o norte, até Amiens, situada a 138 quilómetros de Paris. Depois de Amiens, lançaria dois corpos de exército para leste, a caminho de Reims. Enquanto isso, ao sul de Paris, o XII Grupo de Exércitos americano transporia o Sena por alturas de Melun e arrancaria para nordeste, na direcção de Reims. Ingleses e americanos encontrar-se-iam então, envolvendo assim numa gigantesca tenaz os 1.º, 7.º e 15.º Exércitos alemães. Segundo as previsões feitas, a própria cidade de Paris acabaria por cair entre 15 de Setembro e 1 de Outubro.
Para Eisenhower, este plano apresentava uma tripla vantagem. Salvaria Paris da destruição, poupando-a a uma batalha de ruas; permitiria o aniquilamento de consideráveis forças alemãs; e, sobretudo, economizaria todas as preciosas gotas de gasolina, tendo em vista este objectivo primordial: uma brecha na linha Siegfried e uma testa de ponte do outro lado do Reno, antes do Inverno.
Numa noite de nevoeiro, na Normandia, Dwight Eisenhower decidira-se finalmente por este plano. Então, imediatamente, a máquina perfeita que ele comandava pôs todas as suas engrenagens em movimento para a sua execução.
E, contudo, bastaria um pequeno grão de areia para desarranjar essa máquina. Por exemplo, um levantamento da população parisiense. Mas, quanto a isso, Eisenhower estava tranquilo. As instruções ”rigorosas” que tinha enviado ao general Koenig, chefe das Forças Francesas do interior (F.F.L), determinavam que nenhuma acção armada se deveria verificar em Paris, ou em qualquer outro ponto, sem o seu expresso consentimento. Era essencial, recomendara ele a Koenig, ”que nenhum acontecimento susceptível de transtornar os nossos planos se desse em Paris”.
Para os Parisienses, impacientes por serem libertados, esta seria uma bem dura prova, bem difícil de suportar, e Eisenhower não o ignorava. Mas se eles pudessem viver ”mais alguns dias com os alemães, o seu sacrifício - confidenciara Eisenhower ao general Walter Bedell
Smith, o seu notável chefe de estado-maior -, permitir-nos-á, possivelmente, acabar mais cedo com a guerra’’.
Fora para encorajar os Franceses e para os levar a aceitar este derradeiro sacrifício que um agente do Intelligence Service, chamado Alain Perpezat, saltara de pára-quedas, numa noite sem lua, sobre a França ocupada.
Capítulo quarto
Para um francês chamado Charles de Gaulle, o destino da França e o seu próprio seriam jogados em Paris. Imerso no calor húmido do palácio mouro de Argel, onde momento a momento mais se impacientava, o chefe da França Livre estava seguro de que o único local onde poderia ganhar, ou perder, a aposta audaciosa que fizera quatro anos antes, era Paris. Todos os acontecimentos que dissessem respeito à capital francesa no decorrer das próximas semanas teriam, na sua opinião, um alcance extraordinário. Eles decidiriam a quem iriam pertencer o poder e a autoridade que seriam estabelecidos na França do pós-guerra.
Charles de Gaulle estava resolvido a que essa autoridade fosse a sua. Mas não ignorava que no caminho do poder havia, nesse Verão, homens que conspiravam contra ele. Uns, eram os seus adversários políticos, os comunistas franceses; os outros, os seus aliados militares, em especial os americanos.
Depois duma breve lua-de-mel, em 1940, as relações entre os Estados Unidos e De Gaulle tinham-se progressivamente deteriorado. O reconhecimento do governo de Vichy pelos Americanos, o acordo estabelecido por Washington com o almirante Darlan ’, o facto de Roosevelt não ter considerado conveniente informar De Gaulle acerca do desembarque na África do Norte, enfim, um certo antagonismo pessoal entre o general francês e o presidente americano, tudo isto criara os motivos de desconfiança recíproca que envenenariam as relações franco-americanas nesse Verão de 1944.
Nada irritava tanto De Gaulle como a recusa persistente de Roosevelt em reconhecer o seu Comité Français de Liberation Rationale (C. F. L. N.) como governo provisório da França. De Gaulle via nisso uma recusa pública e oficial da América em reconhecer a autoridade da sua pessoa sobre a França. Num memorial dirigido ao general George Marshall, em 14 de Junho de 1944, Roosevelt definira a posição dos Estados Unidos quanto a De Gaulle. ”Devemos
- escrevera o presidente americano -, utilizar integralmente em proveito do nosso esforço militar a organização ou a influência de De Gaulle, quaisquer que elas sejam, esclarecendo-se evidentemente que nós jamais poderíamos impor pela força o seu governo ao povo francês.” Roosevelt advertira igualmente Eisenhower que ao S.H.A.E.F. seria permitido colaborar com o Comité Français de Liberation Nationale ”na condição de não se tratar de reconhecer este como o governo provisório da França”.
Muito mais animadoras eram as relações que De Gaulle mantinha com Eisenhower. Mas este, no entanto, fazia notar que De Gaulle procura constantemente obrigar-nos a modificar isto e aquilo, com o fim de satisfazer os seus propósitos políticos”. Numa nota redigida em Junho de 1944, o general Walter Bedell Smith, chefe de estado-maior de Eisenhower, escrevia: ”Teria a maior satisfação em pô-lo (a De Gaulle) ao corrente, se ao menos alguém me pudesse
1 A fim de evitar qualquer espécie de resistência militar francesa ao desembarque aliado na África do Norte, os americanos tinham contactado secretamente com Darlan, o qual agia em nome do general Pétain. Quando em 8 de Novembro de 1942 o general De Gaulle, ao acordar foi informado pelo seu ajudante-de-campo do desembarque dos Aliados, teve esta reacção: ’ ’Espero bem que Vichy os atire de novo para o mar.’’
esclarecer a sua posição em face deste Q.-G. Tanto quanto eu saiba, ele não tem qualquer.’’
Entre os diversos antagonismos que nesse Verão separavam De Gaulle dos seus aliados, um havia em que os chefe da França Livre jamais faria qualquer concessão. Ele estava firmemente decidido a nunca permitir que os Aliados instalassem em solo francês um único funcionário do governo militar que tinham criado para administrar os territórios libertados. Em Julho, Charles de Gaulle, ao visitar Washington pela primeira vez, levantara esse problema ao próprio Roosevelt. Os dois homens tinham por fim estabelecido que a França libertada seria dividida em duas zonas. Na zona dita ”do interior”, a autoridade pertenceria aos elementos designados pelo general De Gaulle. Na zona chamada ”de operações”, o S.H. A.E.F. seria soberano. A definição geográfica destas duas zonas seria deixada ao critério do próprio general Eisenhower.
Era um acordo de alcance limitado. De resto, ao sair da Casa Branca, De Gaulle comentara para o embaixador Murphy: ”Qualquer acordo que estabeleçamos caducará no dia em que terminar a guerra.” O acordo não incluía qualquer cláusula referente a Paris. Washington era da opinião de que a cidade e a região à sua volta deveriam ser consideradas como ainda fazendo parte da zona de operações durante algum tempo após a libertação. De qualquer forma, Roosevelt não tinha a menor intenção de permitir o estabelecimento de um governo que ele nem sequer tinha reconhecido.
Mas Roosevelt esquecia-se duma coisa: da determinação intransigente e inflexível em que Charles de Gaulle se encontrava de se instalar, a si próprio e ao seu governo, em Paris o mais cedo possível. O seu futuro, e o da própria França, disso dependiam.
Nesses dias críticos do princípio de Agosto de 1944, De Gaulle estava convencido de que Roosevelt faria ainda uma derradeira tentativa para lhe impedir o acesso ao poder2. Ao mesmo tempo que os agentes do Departamento de Estado procurariam destroçar qualquer combinação política, o presidente americano esforçar-se-ia por impedir Charles deGaulle de entrar em Paris. Estes projectos não poderiam concretizar-se, De Gaulle estava certo disso. Mas podiam, sim, e ele receava-o bem, demorar o seu regresso o bastante para permitir aos seus verdadeiros adversários, os comunistas franceses, conquistarem o poder. De Gaulle sabia que uma corrida implacável iria travar-se entre os comunistas e ele próprio. O objectivo imediato dessa corrida era Paris. O trofeu para o vencedor: a França inteira.
De Gaulle preparava-se para esta corrida havia longa data. Já a partir de Janeiro de 1943 proibira o responsável pelos lançamentos em pára-quedas, o coronel ”Passy”, de enviar pára-quedas com armas directamente aos comunistas. Em 14 de Junho de 1944, tornava extensiva essa proibição a todos os lançamentos de pára-quedas a efectuar sobre a região parisiense. E, no próprio dia
1 De Gaulle indignava-se sobretudo por os Aliados vigiarem as suas radiocomumicações. Estas, por razões técnicas, eram encaminhadas através das instalações inglesas e americanas. De Gaulle também se opusera violentamente à pretensão que os Aliados tinham de pôr em circulação uma moeda militar, logo após o desembarque.
2 As suspeitas do general DeGaulle estavam longe de não ter fundamento. Em Julho de 1944, Roosevelt revelara ao embaixador Murphy que estava ”absolutamente disposto a aceitar qualquer solução que não seja De Gaulle, contanto que possamos encontrar outra’’.
do desembarque, DeGaulle punha em acção o plano que elaborara, com o fim de impedir os comunistas de se apossarem do poder nas regiões libertadas.
A medida que decorria a libertação do território nacional, o poder civil era entregue nas mãos de um comissário da República, nomeado pelo próprio DeGaulle, responsável única e exclusivamente perante o governo deste. A estes comissários da República foram dadas as instruções mais rigorosas, no respeitante às suas relações com as comissões locais de libertação, as quais, segundo De Gaulle, eram dominadas pelos comunistas. Essas comissões não deveriam exercer qualquer autoridade directa sobre as regiões libertadas. E sob nenhum pretexto deveriam arvorar-se em Comissões de Salvação Pública, no modelo das comissões estabelecidas no advento da Revolução Francesa.
De Gaulle recebera diversos relatórios alarmantes. Todos eles eram unânimes em afirmar que os comunistas estavam mais bem organizados, mais fortes e mais decididos do que nunca a tomar as rédeas do poder.
De Gaulle estava convencido de que a prova decisiva se efectuaria em Paris, onde já havia vinte e cinco mil comunistas armados. O Partido Comunista tentaria provocar um levantamento popular, que imediatamente aproveitaria para se apoderar das alavancas do comando. Quando ele, De Gaulle, e os seus ministros fizessem a sua entrada, encontrariam na sua frente uma Comuna’’, a qual ”proclamaria a República, responderia pela manutenção da ordem, zelaria pela aplicação da justiça...”
Nos primeiros tempos, era de crer que De Gaulle visse concederem-lhe qualquer cargo honorífico, naturalmente desprovido de toda a autoridade real. Mais tarde, quando os comunistas tivessem consolidado as suas posições, chegaria o momento em que ele seria pura e simplesmente eliminado da vida política francesa.
Tais eram, no pensamento de Charles de Gaulle, os objectivos dos seus adversários políticos, nesse início do mês de Agosto de 1944.
Alexandre Parodi, o alto funcionário que representava em Paris o chefe da França Livre, sabia que De Gaulle estava certo de que, para alcançarem nesse Verão os seus objectivos, os comunistas não hesitariam em opor-se pela força à concretização dos propósitos dele. 1
1 O Partido Comunista e muitos não comunistas virão a negar, sem dúvida, que fossem estas as intenções comunistas em Agosto de 1944. Jamais se saberá, provavelmente, até onde os comunistas
estavam dispostos e preparados para levar as coisas. Parece no entanto evidente que estavam decididos a apossar-se das alavancas do comando que lhes permitissem, como mais tarde em Praga, assenhorear-se do poder propriamente dito. Talvez seja a opinião dum chefe resistente búlgaro a que melhor define os verdadeiros sentimentos dos comunistas acerca de De Gaulle. Para Yvan Kaleff, chefe dum ”maquis” no Sul da França, De Gaulle era ”naquele momento um mal necessário. Mas quem pode dizer que após a guerra a França esteja interessada num De Gaulle... ? ”
Quaisquer que fossem os objectivos comunistas, os acontecimentos internos que se seguiram à libertação da França mostraram bem que as desconfianças dos gaulistas não eram de modo algum exageradas. No Sudoeste, onde a infiltração comunista era considerável, foram necessários vários meses ao poder legal do general De Gaulle para dominar a região. Em 26 de Outubro de 1944, o relatório dos serviços secretos americanos sobre a situação interna francesa e as intenções comunistas” revelava aos Aliados que ”se a situação interna francesa se mantém tão má como é hoje... devemos esperar que se produza uma revolução comunista’’. O relatório do Office of Strategic Services fazia ainda notar que em face destas ameaças, a táctica do general De Gaulle era simples. Apoderar-se-ia dos órgãos e dos instrumentos da autoridade antes dos comunistas. Fosse qual fosse o preço, quaisquer que fossem os meios a utilizar, estava decidido a ser o primeiro a alcançar o poder.
Exactamente na mesma altura em que, no seu quartel-general da Normandia, Dwight Eisenhower decidira finalmente demorar o mais possível a libertação de Paris, Charles de Gaulle enviava ao general Koenig, chefe das F.F.L, um memorando secreto. ”Quer os Aliados queiram quer não - dizia De Gaulle -, é indispensável que Paris seja libertada o mais cedo possível.” Logo após a libertação, ele faria a sua entrada na cidade e procuraria imediatamente impor a sua autoridade e a do seu governo.
De Gaulle tomara já as primeiras providências. Para ele, como para Eisenhower, um levantamento armado em Paris constituiria tamanho desastre que ele próprio tinha também dado ordens terminantes para impedir que tal se verificasse. O homem encarregado de fazer cumprir essas instruções escondia-se numa água-furtada. E as suas ordens eram precisas. Sob nenhum pretexto Paris se revoltaria contra o invasor sem a autorização expressa de De Gaulle.
brecha aberta em Avranches. Hitler sabia que a batalha da França começara. Se a erdesse apenas lhe restaria travar mais uma: a batalha da Alemanha.
E tal como Charles de Gaulle, Hitler não ignorava que Paris era o eixo à volta do qual girava a França. Por duas vezes no decorrer da sua curta vida, Adolf Hitler atacara Paris. Pouco depois, a ironia do destino iria obrigá-lo a desempenhar o papel inverso: Hitler iria ser forçado a defender Paris. Os estrategas aliados sabiam que ele tinha todas as razões para querer agarrar-se ao formidável centro de resistência que constituía, sobre o Sena, o aglomerado parisiense. Perder Paris, seria perder as bases de lançamento dessas armas milagrosas que decidiriam do desfecho da guerra. Seria permitir aos exércitos aliados que atingissem as portas do Reich. Por conseguinte, Hitler iria bater-se por Paris como antes se batera por Estalinegrado e por Monte Cassino. Dentro de poucos dias, no interior do seu bunker da Prussia Oriental, o senhor do III Reich tomaria a decisão de defender Paris até ao último homem. Nesse dia, desferindo um murro violento sobre a sua secretária de carvalho, bradaria aos seus generais: ”Aquele que possui Paris, tem a França!”
Capítulo quinto
Para o alemão que, do fundo de um abrigo de betão e aço em Rastenburgo, na Prussia Oriental, comandava os exércitos do in Reich, Paris significava talvez mais.
Durante quatro anos, de 1914 a 1918, seis milhões de alemães idênticos ao cabo Adolf Hitler tinham-se batido nas trincheiras da frente Oeste, ao brado mágico de Nacht Paris, Dois milhões deles tinham morrido. Mas vinte e dois anos mais tarde Hitler, em quatro
semanas de guerra-relâmpago, obtivera a vitória que, em quatro anos de luta, eles não tinham logrado alcançar.
Numa segunda-feira, em 24 de Junho de 1940, às 7 horas da manhã, o cabo Adolf Hitler tivera o seu encontro com Paris. Poucos parisienses tinham visto, nessa manhã, o seu Mercedes negro estacionado na Esplanada do Trocadero. Durante largos minutos, o conquistador contemplara a admirável perspectiva que se espraiava perante os seus olhos: o Sena, a Torre Eiffel, os jardins do Champ de Mars, a cúpula dourada da necrópole de Napoleão, nos Inválidos, e ao longe, à esquerda, as torres quase milenárias de Notre-Dame.
Após cinco anos de guerra, Paris era, dentre todas as suas conquistas, a única jóia que lhe restava. Havia cinco dias que Adolf Hitler seguia, nos mapas do seu bunker de Rastenburgo, os avanços dos exércitos aliados que jorravam pela Rua. todos os dias 50 pessoas eram arbitrária e ilegalmente presas em Tolosa e que 40000 F. T. P. armados estavam na iminência de ser enviados clandestinamente para Paris ’ ’dada a eventualidade próxima dum golpe de estado”. Segundo o O.S.S., 10000 homens já aí se encontrariam. O golpe de estado teria lugar em Janeiro. Os comunistas estavam certos de conseguir apoderar-se das rédeas do poder em 8 ou 10 dias, e acreditavam igualmente que os Aliados não interviriam, dado que esse era um assunto exclusivamente francês.
Capítulo sexto
A 2000 quilómetros de Rastenburgo, perto da vila normanda de La Lucerne, um general alemão desconhecido contemplava o cair da noite. Para lá das altas grades de ferro forjado que se erguiam ao fundo da álea principal do castelo onde ele instalara o seu posto de comando, Dietrich von Choltitz distinguia a torre gótica do mosteiro medieval de La Lucerne e, logo depois, dominando um renque de choupos, a pequena colina que o separava da encruzilhada de La Haye-Pesnel. Com os olhos fixos no alto dessa colina, Choltitz contemplava os clarões intermitentes dos disparos de artilharia. Sabia que eram os canhões do seu 84.º Corpo de Exército fazendo fogo. Para lá da colina, os obuses rebentavam sobre os carros de assalto americanos que se infiltravam pela brecha de 15 quilómetros que tinham aberto.
Esgotado de fadiga, Choltitz nem sequer ouviu bater à porta. Mas o seu impedido, o cabo Helmut Mayer, estava habituado a entrar sem esperar que o mandassem. Mayer tinha na mão um sobrescrito. Choltitz abriu-o e desdobrou a folha de papel nele contida. Pela cor azulada do papel reconheceu logo tratar-se dum telegrama.
Aproximou-se então da lamparina que ardia sobre a sua mesa de trabalho, ajustou o monóculo e começou a ler. O telegrama ordenava ao general de Corpo de Exército Von Choltitz que se apresentasse imediatamente no quartel-general do Oberkommando West do marechal Gunther von Kluge, em
Saint-Germain-en-Laye, a fim de tomar conhecimento ”duma comunicação da mais alta importância”.
Sem deixar transparecer a sua emoção, dobrou lentamente a folha de papel e entregou-a a Mayer.
”É, talvez, o meu Brõtchengeber (o meu ganha-pão) que me chama”, disse ao impedido, enquanto lhe piscava um olho com familiaridade. Era aquela uma expressão de que os dois homens se serviam por brincadeira. Em calão militar, o Bròtchengeber significava, na realidade, Hitler. No entanto, não parecia haver qualquer razão para que o roliço general fosse convocado pelo Fiihrer. Desde o atentado de 20 de Julho que um único motivo podia conduzir um general perante Hitler. Mas no quartel-general ninguém punha em dúvida a indestrutível lealdade de Choltitz. Com efeito, nesse mesmo dia, falando dele, um oficial superior dissera: Jamais hesitou no cumprimento duma ordem, por mais dura que ela fosse.’’
Choltitz observava o seu impedido e notou-lhe a expressão dominada pelo cansaço. ”Vai deitar-te, Mayer - disse-lhe então - , porque temos de partir às cinco horas.” E, pensando proporcionar-lhe uma alegria, acrescentou:
”Talvez possamos ficar algum tempo em Paris...”
No quinto andar dum palacete de Auteuil, outro homem, nessa noite, contemplava o crepúsculo da janela das suas águas-furtadas. Na penumbra, não distinguia senão um intricado jogo de linhas quebradas, prolongando-se até ao horizonte: os telhados de Paris. Chamava-se Jacques Chaban-Delmas. Embora apenas tivesse vinte e nove anos, também ele era general. E também ele, naquela noite, recebera uma mensagem.
Não fora o seu impedido quem lha trouxera. O general Chaban-Delmas não tinha impedido. Havia sido um homem que, na esquina duma rua de Paris, lhe murmurara ao ouvido algumas palavras enquanto fingia encher a câmara-de-ar da sua bicicleta. A mensagem era a mesma que ”Jade Amicol” decifrara nesse próprio dia, às 12 horas, no parlatório do Convento das Irmãzinhas da Santa Agonia.
Para Jacques Chaban-Delmas a notícia contida no sapato esquerdo de Alain Perpezat constituía um verdadeiro desastre. Charles de Gaulle colocara sobre os seus possantes ombros, que pareciam os de um jogador de rugby, um fardo esmagador: o jovem general era, na França ocupada, o seu representante pessoal clandestino para todos os assuntos de natureza militar. Chaban-Delmas sabia que, dentre todas as missões que lhe tinham sido confiadas, nenhuma preocupava tanto De Gaulle como a que dizia respeito a Paris. As instruções precisas que recebera secretamente de Londres, onde se encontrava o estado-maior militar de De Gaulle, e de Argel, onde se fixara o seu governo provisório, tinham um duplo objectivo. Jacques Chaban-Delmas devia, por um lado, conservar sob o domínio e uma vigilância absolutos a actividade dos elementos clandestinos armados que se encontravam em Paris. E, por outro lado, não devia permitir que, sob qualquer pretexto, estalasse uma revolta na capital sem a autorização expressa de De Gaulle.
Chaban-Delmas tinha a certeza de que tais ordens eram impossíveis de executar. General sem tropas, não tinha possibilidade de exercer uma vigilância autêntica sobre todos os elementos armados que se encontravam dispersos por Paris. Ele não duvidava de que a maioria destes apenas obedecia aos comunistas.
O chefe de estado-maior das F. F. I. era um general comunista chamado Alfred Malleret-Joinville. Para a região de Ile-de-France, essas funções eram desempenhadas por um pequeno bretão comunista chamado Rol-Tanguy. O mais directo e enérgico adjunto deste era um comunista de nome Fabien, que, dois anos antes, abatera na estação do metropolitano de Barbes o primeiro alemão morto em Paris desde a ocupação.
O Partido dominava os sindicatos e uma grande parte da imprensa clandestina. Tinha sob as suas ordens dois dos três comités de libertação e neutralizara o terceiro ’. Por meio duma audaciosa operação, um comando comunista conseguira apoderar-se de fundos consideráveis, que o Estado-Maior das F.F.I, de Londres destinava a Chaban-Delmas. Havia meses que os comunistas vinham reforçando as suas posições, pois instalavam os seus homens em todas as posições-chave da capital. Dia após dia, ansiosos e impotentes, Chaban-Delmas e os seus adjuntos tinham visto homens alistarem-se nas fileiras das milícias comunistas que se organizavam na sombra.
No entanto, talvez nenhuma organização se tivesse batido mais e pago maior tributo à causa da Libertação da França do que o Partido Comunista Francês. Se bem que os comunistas tivessem esperado que Hitler invadisse a Rússia para se lançarem no combate clandestino contra os nazis, no qual já inúmeras outras organizações os tinham precedido, eles constituíam, nesse Verão, em virtude do seu número e da sua disciplina, um dos grupos armados mais poderosos da Resistência Francesa 2. Através dos seus postos de rádio clandestinos e dos seus agentes instalados na Suíça, o Partido jamais deixara de receber ajuda e instruções de Moscovo.
E nunca, como nesse Verão, o prestígio do Partido fora maior.
Mas todos os sacrifícios que os comunistas tinham aceitado fazer durante três anos de luta clandestina deveriam agora produzir os seus frutos. E esses frutos iriam eles colhê-los primeiro em Paris.
Jacques Chaban-Delmas sabia que os comunistas se preparavam para desencadear um grande levantamento popular, com o fim de expulsar os alemães e tornarem-se em seguida senhores do solo de Paris. Eu estava convencido - dirá ele - que os comunistas não desdenhariam correr o risco da destruição da mais bela cidade do Mundo para agarrarem essa oportunidade única, que fazia antever a possibilidade duma nova Comuna.”
Durante semanas, esforçou-se por convencê-los a renunciarem aos seus propósitos. Mas falhara. Como Paris inteira, Chaban-Delmas ouvira na B. B. C. as notícias referentes à insurreição de Varsóvia. Para que Paris escapasse ao destino trágico da capital polaca, não havia, pensava, senão uma única esperança: a entrada imediata dos Aliados na cidade, o que impediria os comunistas de completarem os seus preparativos. Mas a mensagem que Alain Perpezat trouxera escondida no sapato
acabava de varrer para longe essa derradeira esperança. E, assim, a insurreição estalaria.
Duas terríveis ameaças pesariam então sobre Paris. Ou a Wehrmacht esmagava o levantamento como o tinha feito em Varsóvia, reduzindo a cidade a um
1 Tratava-se do Comité Parisiense de Libertação (C. P. L.), do Comité Militar de Acção (C. O.M. A.C.), que o Partido Comunista dominava e do Conselho Nacional de Resistência, no qual o Partido se encontrava representado por uma minoria influente. Fundado em 1943 por De Gaulle, o C. N.R. era, em teoria, a assembleia na qual se reuniam todas as tendências políticas da Resistência. Em Agosto de 1944, o C.N.R., na realidade completamento manietado pelos comunistas, perdera a confiança de De Gaulle.
2 Em 6 de Setembro de 1944, o general Koenig diria a Eisenhower que avaliava as forças do Partido Comunista em cerca de 250000 homens armados e 200000 homens susceptíveis de o serem. O exército regular da França era constituído, nesse momento, por menos de 500 000 homens.
monte de escombros, ou os comunistas conseguiam tomar conta do poder. E, neste caso, seria uma capital na posse dos comunistas que receberia Charles de Gaulle e lhe ditaria as suas próprias vontades, como Chaban-Delmas estava convencido. Receava este que a França do pós-guerra mergulhasse inteira em nova tragédia.
Nessa noite, para o jovem general e para alguns homens do Exército Secreto que representavam De Gaulle nessa Paris que as botas alemãs ainda calcavam, não restava mais do que uma possibilidade para libertar a cidade daquele dilema. Chaban-Delmas teria de efectuar a mesma viagem de Alain Perpezat, mas em sentido inverso. Procuraria chegar a Londres. Tentaria pôr de sobreaviso De Gaulle, Churchill e Roosevelt. Com a energia que vem do desespero, suplicaria a Eisenhower que alterasse os seus planos e lançasse sem demora os seus carros blindados sobre Paris.
Capítulo sétimo
Largado a 120 quilómetros por hora, o Horch descoberto atravessava a Champagne. De ambos os lados da estrada, os cachos de uvas avermelhadas amadureciam ao sol quente desse princípio de tarde. Confortavelmente instalado no fundo do seu automóvel, Dietrich von Choltitz ia comendo o pão trigueiro e as salsichas que o seu motorista Alfred Priez lhe preparara. Choltitz não conseguira arranjar tempo para se deter em Paris nessa manhã.
Mal tinha acabado de chegar defronte da vivenda com telhas vermelhas que abrigava, em Saint-Germain-en-Laye, o quartel-general do O. B. West, quando um coronel alagado em suor se precipitara para ele, saltando do seu cavalo.
”As minhas felicitações, meu general - dissera-lhe o coronel Heinz Abey, chefe do pessoal do O. B. West - , tem um novo cargo. Acaba de ser nomeado comandante do Gross Paris ’.
Abey acrescentara que o general devia apresentar-se imediatamente em Berlim, a fim de receber as últimas instruções antes de ocupar o seu posto. Choltitz pusera-se imediatamente a caminho pela estrada do Leste, desdenhando fazer o pequeno desvio que lhe permitiria atravessar a cidade cujo destino estaria em breve entre as suas mãos. Queria ganhar tempo e, além disso, já estivera em Paris por duas vezes. Para Choltitz, depois duma carreira militar de 28 anos, Paris não era mais do que um novo posto.
E também quando, dentro de uma semana, os jornais parisienses anunciassem a sua chegada, o oficial que naquele momento trincava uma salsicha não seria, para os três milhões e meio de parisienses, senão mais um general alemão.
Mas para um tal Burgdorf que, nessa tarde, se encontrava no quartel-general de Hitler, Choltitz não era ”um general a mais”. O general Wilhelm Burgdorf desempenhava as funções de chefe do pessoal dos oficiais-generais do Exército de terra. Ele próprio escolhera Choltitz para comandante do Gross Paris.
1 A extensão geográfica do Gross Paris
compreendia a cidade propriamente dita, o departamento do Sena e extensas regiões dos departamentos do Sena-e-Oise e do Sena-Marne.
Três dias antes, Burgdorf retirara três processos secretos do classificador metálico que guardava no seu cofre. Um deles referia-se ao general Dietrich von Choltitz.
Ao examinar o processo, Burgdorf ficara impressionado com uma coisa: a lealdade desse oficial parecia estar acima de qualquer suspeita. Burgdorf precisava de homens dessa têmpera. O derrotismo começava a gangrenar o corpo de generais alemães e nenhum outro sector parecia mais atingido do que o dos oficiais da guarnição de Paris. O comandante-chefe em França, general Karl von Stúlpnagel, tinha sido um dos principais comparsas da conspiração de 20 de Julho. Cego e agonizante, depois da sua tentativa de suicídio, ele jazia, nessa tarde, numa enxerga da prisão berlinense de Ploetzensee. Pouco depois, por ordem de Hitler, seria estrangulado. O actual comandante do Gross Paris, o velho general Wilhelm von Boineburg, não inspirava mais confiança a Burgdorf. Este considerava-o como também tendo sido tocado pelas asas da conspiração.
Burgdorf sabia que a O.K.W., para enfrentar os dias difíceis que se avizinhavam de Paris, iria precisar dum homem cuja obediência e lealdade fossem indiscutíveis. Choltitz parecia-lhe ser o homem indicado. Burgdorf submetera o processo à apreciação do próprio Fúhrer, e recomendara a sua nomeação.
”Jamais - dissera ele a Hitler - Choltitz discutiu uma ordem, por mais dura que ela fosse.”
Para este oficial irrepreensível que os nazis enviavam para Paris, a guerra no Oeste começara às 5 horas e 30 da manhã do dia 10 de Maio de 1940. Saltando com ímpeto do primeiro Junker 52 que aterrara no aeroporto de Roterdão, o tenente-coronel Von Choltitz, à testa do 3.º Batalhão do 16.º Regimento de Infantaria Aerotransportada, fora, de facto, o primeiro invasor alemão da guerra do Oeste ’. A sua missão era tomar as pontes sobre a Nieuwe Mass, ao sul da cidade.
Mais tarde, interrogado sobre se o comando duma operação que tão manifestamente violava a neutralidade de um país nunca preocupara a sua consciência, ele respondera apenas: ”Porquê?”
Choltitz aprendera a não fazer perguntas a si próprio. No dia em que nascera, na propriedade florestal da sua família, na Silésia, o seu destino estava já traçado. Antes dele, três gerações tinham abandonado a velha mansão, coberta de ar-
’ As divisões Panzer dos generais Heinz Guderian e Erwin Rommel só transpuseram a fronteira, nessa manhã, hora e meia depois do desembarque de Choltitz em Roterdão.
2 Após quatro dias e quatro noites de combates desesperados, os homens do coronel holandês Scaro resistiam ainda aos assaltos de Choltitz. Pelo meio-dia de 14 de Maio, Choltitz ordenava a um pastor protestante e a um leiteiro holandeses, que residiam perto da
ponte que ele não conseguia transpor, que se dirigissem às linhas holandesas, a fim de procurarem convencer o coronel Scaro a render-se, ”pois, caso contrário, Roterdão seria impecavelmente bombardeada”. Duas horas depois, os dois plenipotenciários regressaram acompanhados pelo adjunto do coronel Scaro, e declararam não terem podido entrar em contacto com este. A Luftwaffe começou então a bombardear a cidade. Choltitz revelou aos autores deste livro que, quando achou que o bombardeamento já causara uma destruição suficiente, disparara um foguete luminoso destinado a suspendê-lo. Mas, nesse momento as labaredas dum paquete em chamas junto à ponte provocaram colunas de fumo tão densas que os aviadores da terceira vaga de assalto não descortinaram o sinal. Segundo os números
fornecidos pelos holandeses em Nuremberga este bombardeamento causou 800 mortos e 78000 feridos e desalojados. Todo o centro de Roterdão ficou destruído dósias, e partido a alistar-se no Exército. Formado na dura disciplina do Batalhão de Cadetes de Saxe, Dietrich von Choltitz revelara um entusiasmo e uma dedicação tais que tinha sido nomeado para prestar serviço na corte da rainha de Saxe, como pajem.
Os momentos mais gloriosos da sua carreira vivera-os Choltitz durante o cerco de Sebastopol. Fora aí que conquistara as suas estrelas de general. Quando principiou o cerco ao grande porto do Mar Negro, o seu regimento contava 4800 homens. Em 27 de Julho de 1942 restavam 347 sobreviventes. Mas Dietrich von Choltitz, com um braço atravessado por uma bala, conquistara Sebastopol.
Para alcançar essa vitória, não hesitara em obrigar os prisioneiros russos a transportarem as munições para junto dos seus canhões e a carregarem as suas baterias. Recordaria muitas vezes a ”boa partida” que pregara aos russos, mandando-os alimentar os canhões alemães com os obuses que iriam estoirar com as suas próprias casas.
Adstrita depois ao Grupo de Exércitos do Centro, à divisão de Dietrich von Choltitz competiram missões de combate à retaguarda das fileiras. Como era seu hábito, o general executou pontualmente e na íntegra as ordens que recebera. E as ordens tinham sido, nesse ano de 1943, nada deixar à retaguarda do Exército alemão que não fosse apenas terra calcinada.
Esta reputação de destruidor acompanharia para Paris o general desconhecido que, naquela tarde, rolava através dos campos de vinhedos da Champagne. E, acrescente-se, ela não era totalmente imerecida.
Capítulo oitavo
Ao longo do cais da estação, cansados e resignados, os homens que tinham vindo de licença aguardavam a sua vez de embarcar. Dentro de poucos minutos, cuspindo fumo negro, o ’ ’Fronturlauberzug’’ de Berlim deixaria a gare da Silésia e levá-los-ia para a frente Leste.
Dietrich von Choltitz tomara bastas vezes esse comboio. Mas, nessa noite, seria outro o que ele apanharia. Na parede exterior da grande carruagem em que lhe fora reservado um compartimento com cama, algumas palavras em francês, quase apagadas, recordaram a Choltitz tempos passados. A antiga carruagem da Companhia Internacional das Carruagens-Cama e dos Grandes Expressos Europeus pertencia ao Offizier General Fiihrersonderzug D2, o comboio que conduziria o general a Rastenburgo, na Prussia Oriental, onde, na manhã seguinte, se realizaria a sua primeira entrevista com Hitler.
Dietrich von Choltitz começou a desabotoar o casaco da farda. Sobre a pequena prateleira de mogno por cima do lavatório, o fiel Priez colocara o seu sabonete, a sua velha ”Gillette” e o tubo de comprimidos de Rivonal, que o general não dispensava para poder adormecer.
Choltitz gostava de dar grandes passeios de automóvel, mas nessa noite sentia-se fatigado. Tendo deixado a Normandia às 5 horas da manhã, chegara a Berlim às
9 da noite. Mal se instalara num quarto do Hotel Adlon, o telefone tocara. Era Burgdorf que o mandava apresentar-se imediatamente em Rastenburgo. Hitler, disse-lhe ele, queria fazer-lhe entrega pessoalmente do seu novo comando. A entrevista estava marcada para o dia seguinte de manhã, às 11 horas e 30.
Aquela convocação preocupava-o. Eram raros os marechais que Hitler mandava vir até ele. E mais raros ainda os generais aos quais ele se dignava conceder uns momentos do seu precioso tempo. Qual seria pois, perguntava Choltitz a si próprio, a razão dessa honra? Quando finalmente o comboio começou a mover-se, decidiu deixar de se preocupar. Pôs-se então a folhear as páginas do volumoso livro encadernado que requisitara na biblioteca do Hotel Adlon. Era a História Militar da Guerra Franco-Prussiana.
A 1500 quilómetros dessa estação de caminho de ferro berlinense, sob as vidraças da gare de Lião, em Paris, outro comboio partia também nessa mesma noite. Dentre todos os passageiros que o tinham tomado de assalto, Jacques Chaban-Delmas era o único a saber que essa composição estava sujeita, antes da chegada a Lião, a imobilizar-se por duas vezes, devido aos descarrilamentos provocados pelo plano de sabotagens, destinado a desorganizar as comunicações alemãs. Ele próprio, Chaban-Delmas, tomara parte na elaboração desse plano. Mas, horas antes, tinham ordenado que se deixasse passar, a título excepcional, o ”Paris-Lião” da tarde, porque ele próprio se encontraria nesse comboio. Imerso nas trevas do seu compartimento sem luz, Jacques Chaban-Delmas nada mais podia fazer do que esperar e fazer votos por que as suas ordens tivessem conseguido chegar ao conhecimento daqueles poucos homens que, por duas vezes nessa noite, deveriam escorregar ao longo dos taludes para fazerem saltar a via férrea.
O general Chaban-Delmas tinha um encontro na noite seguinte, num campo perto de Mâcon, com um Lysander. Como todos os aviões que aterravam na França ocupada, esse Lysander tinha ordem de aguardar o passageiro apenas durante três minutos. Em seguida, com ele ou sem ele, levantaria voo e regressaria a Inglaterra. Da exactidão desse encontro dependia, na opinião de Chaban-Delmas, a salvação de Paris.
Capítulo nono
No decorrer dos treze anos em que já prestara serviço nas armas do III Reich, Dietrich von Choltitz apenas tinha estado uma única vez com Hitler. Fora no Verão de 1943, por ocasião dum almoço no quartel-general do general Von Manstein, perto de Dnepropetrovsk, que Choltitz estivera sentado face a face com Hitler. Enquanto se fazia o silêncio religioso que acompanharia o monólogo habitual do Fuhrer, Choltitz pôde examinar à vontade o senhor do III Reich. Três coisas o tinham impressionado: o optimismo contagioso que se libertava do seu corpo nervoso, a ausência absoluta de sorriso na sua expressão e por fim ”as maneiras de camponês silesiano que tinha enquanto comia”.
Um ano depois, nesse fim de manhã ameaçadora de trovoadas do dia 7 de Agosto de 1944, Dietrich von Choltitz ia portanto encontrar-se pela segunda vez com Hitler. Mas agora as circunstâncias eram diferentes. As previsões optimistas do almoço das margens do Dnieper não se tinham realizado. As guardas-avançadas do exército vermelho estavam a menos de 100 quilómetros do ”Covil do Lobo” e a Oeste, Choltitz sabia-o melhor que ninguém, a Wehrmacht já começara a perder a batalha da Normandia.
Mas o oficial-general que desembarcara do comboio especial da O. K. W. estava ainda, ele próprio o reconheceria mais tarde, disposto a ”deixar-se inchar” de novo por Hitler. Choltitz acreditava na missão histórica da Alemanha. E acreditava também ainda na sua vitória. Mas, como todos os crentes, sentia por vezes a sua fé vacilar sob os golpes do destino que se abatiam sobre o seu país. Essa entrevista com Hitler seria portanto uma espécie de peregrinação, da qual ele esperava regressar com novo ânimo e novas forças, ”confiante e convencido de que ainda havia possibilidade de fazer mudar o resultado da guerra”.
O homem que o aguardava à chegada do comboio era o ajudante-de-campo pessoal de Hitler, o general Rudolf Schmundt. O Mercedes de Schmundt largou imediatamente e mergulhou na floresta espessa tomando a estrada do Wolfsschanze - o ’ ’Covil do Lobo”. No primeiro posto de sentinelas dos três Sperrkreis - cinturas de protecção - , Schmundt explicou, pedindo desculpa, que as medidas excepcionais de segurança em vigor desde o atentado de 20 de Julho exigiam a inspecção das bagagens de todos os visitantes. Terminada esta formalidade, o automóvel atravessou sucessivamente as três cinturas de protecção compostas de arame farpado, campos de minas e ninhos de metralhadoras antiaéreas. Choltitz chegou por fim a uma última barreira constituída por um emaranhado de fios de arame electrificados que protegiam o santuário, no interior do qual, guardado por sete companhias do regimento de elite Gross Deutchlands, viviam o ditador nazi e os seus principais colaboradores.
O general Burgdorf esperava o visitante para imediatamente o conduzir à presença do Fiihrer. No caminho para o bunker, enquanto Burgdorf indicava com o dedo os destroços dos abarracamentos onde explodira a bomba de 20 de Julho, Dietrich von Choltitz exprimiu a sua gratidão pela confiança com que era distinguido e perguntou a que era devido tal honra.
”Nós sabemos -respondeu Burgdorf prontamente- que você resolverá o assunto de Paris.”
Os dois jovens oficiais S. S. que guardavam a porta do bunker de Hitler revistaram os dois homens para se certificarem de que nenhum deles trazia qualquer arma consigo. Em seguida, desapareceram. Com os dedos crispados na pala do boné, Choltitz avançou para o centro da sala sem janelas, sentindo atrás dele a respiração contida de Burgdorf. Quando chegou a meio caminho o homem que se encontrava de pé, atrás duma simples secretária de madeira, estacou. Depois, tomando a posição de sentido e batendo com os calcanhares, ergueu o braço direito e exclamou:
- Às vossas ordens, meu Fiihrer!1
Mas o homem que o visitante encarava nesse momento era bem diferente daquele que encontrara um ano antes. Era ’um velho’’, dirá ele mais tarde. Tinha a face acinzentada e uma expressão cansada, os olhos salientes, sem qualquer vida, e os ombros curvados. Choltitz reparou mesmo que a mão esquerda de Hitler tremia e que ele procurava esconder esse tremor com a outra mão2. Mas o que mais impressionou o visitante foi a voz de Hitler. Os uivos roucos que haviam galvanizado e aterrorizado milhões de homens não passavam agora,
1 A partir de 20 de Julho, a saudação nazi tornara-se obrigatória para todos os membros das forças armadas.
2 Alguns médicos supunham nessa altura que Hitler estava atacado da doença de Parkinson.
no fundo desse bunker iluminado a néon, dum vago resmungar. Um ano antes, a voz do Fiihrer bastara para dar nova confiança ao próprio Choltitz.
No entanto, Hitler reservava para o novo comandante do Gross Paris o crescendo habitual das grandes cenas do seu reportório. Com uma voz cansada que mal se ouvia, evocou primeiro o passado, as circunstâncias em que criara o Partido Nacional Socialista, o instrumento perfeito em que ele o tornara para conduzir o povo alemão ao seu destino histórico.
Pouco depois, o murmúrio surdo foi-se tornando num rimbombar forte e distinto. Hitler começava a divagar. Falava da vitória que estava preparando, de armas secretas, da Normandia. Agora já brotavam rugidos da sua boca, que se ia deformando à medida que ele falava. Mal saíra do bunker, Choltitz anotara algumas das palavras que Hitler pronunciara nessa manhã. Quando evocara o atentado de 20 de Julho, Hitler berrara subitamente: ”Dezenas de generais, senhor general, balançam os seus corpos na extremidade duma corda por terem pretendido impedir-me de prosseguir a minha obra. Mas esta obra, que é a de conduzir o povo alemão à vitória, ninguém conseguirá evitar que eu a leve ao seu termo...”
”A baba escorria dos cantos dos beiços de Hitler à medida que ele pronunciava estas palavras - diz Choltitz. - Como um diabo saltando duma caixa, o Fiihrer levantava-se, gesticulava, deixava-se cair na cadeira e então o seu olhar incendiava-se de clarões ferozes.”
Com o corpo sacudido por espasmos, a cara convulsionada, os olhos em chamas, Hitler vituperou ainda durante bastante tempo contra ”a quadrilha de generais prussianos” que tinham tentado assassiná-lo. Depois acalmou-se. Após um prolongado silêncio, ergueu os olhos para o general que atravessara metade da Europa para ter aquela entrevista. As poucas frases que saíram então da boca do Fiihrer, Dietrich von Choltitz havia de relê-las tantas vezes no seu canhenho que em breve as saberia de cor: ”O senhor vai portanto para Paris - exclamara Hitler. - Para Paris onde, segundo parece, as únicas batalhas que se travam têm por objectivo os melhores lugares nas messes dos oficiais (...) Que vergonha para os nossos soldados que travam na Normandia o maior combate da História! O senhor começará portanto, Herr general, por pôr tudo isso em ordem (...) Em seguida, fará de Paris uma cidade da ”frente’’ e providenciará no sentido de ela se tornar no terror dos fugitivos, dos rebeldes, dos que vivem clandestinamente. Para tal, nomeio-o, Herr general, comandante-chefe do Gross Paris e os seus poderes serão os mais vastos de que jamais algum general pôde dispor (...) Concedo-lhe todas as prerrogativas dum comandante numa fortaleza sitiada...”
Hitler deixou então entender que dias difíceis e duros se preparavam em Paris e que ordens implacáveis poderiam ter de ser dadas. Esperava-se de Choltitz que ele as executasse sem vacilar.
”O senhor esmagará qualquer tentativa de revolta da população civil- acrescentara Hitler - e reprimirá sem piedade a menor manifestação de terrorismo, qualquer sabotagem, contra as Forças Armadas Alemãs. Esteja certo de que, para tanto, Herr general, receberá de mim todo o apoio de que necessitar. ’’
Choltitz lembrar-se-ia sempre do ”olhar cruel, inumano, demente” que acompanhara estas últimas palavras. Nesse mesmo dia, ele diria num murmúrio ao seu motorista: ’ ’Reze, o que me espera em Paris é terrível...”
Dietrich von Choltitz viera a Rastenburgo para ver um chefe. Em seu lugar encontrara um doente. Dessa decepção muitas coisas viriam a depender.
Capítulo décimo
Pelo contrário, para os dois homens extenuados que naquele instante transpunham o Sena pela ponte de Saint-Cloud, no seu Horcb habilmente dissimulado sob uma camada de folhas e ramos de arbustos, os telhados de Paris surgiram como se fossem a Terra Prometida. O jovem e brilhante general Walter Warlimont e o major Helmut Perponcher, seu ajudante-de-campo, não poderiam jamais esquecer os dois dias que acabavam de passar na frente da Normandia.
Warlimont, chefe-adjunto do estado-maior da Wehrmacht, tinha sido mandado por Hitler para a Normandia com a finalidade de superintender o contra-ataque de Avranches. Era a operação ”Liège”, cujo objectivo era estrangular o gargalo pelo qual jorravam, em direcção à Bretanha, os carros de assalto de Patton. Essa operação fracassara. No decorrer das poucas horas que passara na frente, Warlimont vira desmoronar-se a última esperança que a Alemanha ainda tinha de rechaçar os Aliados para o mar. As divisões alemãs tinham sido imobilizadas nas suas posições pela aviação anglo-americana. Ele próprio e o ajudante-de-campo só tinham conseguido salvar-se graças à extraordinária habilidade do seu motorista.
Seguindo ao longo do Sena, o automóvel coberto de lama em breve parava no pátio do Palácio do Luxemburgo. Walter Warlimont, antes de regressar a Rastenburgo, faria uma curta paragem em Paris: iria jantar com o homem cujos aviões tinham tão tragicamente faltado com o seu apoio aos soldados da Normandia, o marechal Hugo Sperrle, comandante-chefe da Luftwaffe na frente Oeste.
Impecavelmente cingido pelo casaco do seu uniforme, duma brancura imaculada, o peito coberto de condecorações, o obeso marechal surgiu perante os olhos do jovem general como ”a imagem autêntica da serenidade quase inconsciente que parecia reinar, no princípio de Agosto de 1944, no seio dos estados-maiores alemães instalados em Paris” ’.
Nos sumptuosos salões onde tantas vezes tinham decorrido as festas e os bailes de Maria de Médicis, de Luís XVI, de Napoleão, nesse Palácio do Luxemburgo carregado de História, onde a República Francesa instalara a assembleia dos justos, o marechal alemão e o seu estado-maior eram provavelmente, nesse Verão, os últimos oficiais do HI Reich que ainda usavam o casaco branco do uniforme. Indicando ao seu hóspede o lugar onde David desenhara o primeiro esboço do Rapto das Sabinas, Sperrle ergueu a sua taça de champanhe e brindou ”a esta cidade de Paris sobre a qual a cruz gamada deverá pairar ainda mil anos’’.
1 O general Jodl, de regresso duma inspecção no Oeste, escrevia no seu diário, em 9 de Janeiro de 1944: ”Existem mais de 52000 militares em Paris, dos quais apenas cerca de
12000 são combatentes.
” Jodl ficara surpreendido e inquieto com o número de estados-maiores instalados em Paris, com a abundância dos seus efectivos e com a falta de disciplina que parecia imperar. Para o austero Jodl, nenhuma dúvida lhe ficou de que Paris ”tragara e digerira’’ a combatividade dos oficiais com quem se encontrara.
Só os oficiais superiores da Wehrmacht poderiam acreditar ainda, nesses primeiros dias de Agosto, que a cruz gamada flutuaria mais mil anos sobre Paris. Para centenas de modestos oficiais e para inúmeros simples soldados, os anos de guerra em Paris eram os melhores da sua vida. Grande amador de música, o Sonderfuhrer berlinense Alfred Schlenker, intérprete do Tribunal Militar que diariamente condenava parisienses à morte, não faltara uma única vez, durante três anos, aos espectáculos nocturnos da Ópera. Nessa noite, como todas as terças-feiras, esperava a chegada do seu camarada Eugen Hommens, que fora tomar banho para Nogent-sobre-o-Marne com a sua amiguinha francesa, a fim de com ele saborear, na sala de jantar do palácio, o seu prato preferido, tripas à moda de Koenigsberg.
Na outra extremidade de Paris, numa elegante moradia em Neuilly que requisitara, o aristocrático coronel Hans Jay, vedeta dos concursos hípicos internacionais de antes da guerra, penetrava nesse momento na sua casa de banho. Em frente do espelho ajustou o monóculo durante longos minutos, imaginando talvez a cara da jovem que contava seduzir à noite, na penumbra cúmplice do cabaret’ ’Shéhérazade’’. Desde a sua chegada a Paris em 1943, este homenzinho de boas maneiras tinho sido sempre uma das personagens mais assíduas de Paris nocturna. E nada parecia haver, nesses primeiros dias de Agosto, que viesse a obrigá-lo a alterar os seus hábitos.
No lado oposto do Bosque de Bolonha, no n.º 26 da elegante Avenida Raphael, em pleno coração de Passy, uma bela loura de 24 anos chamada Anabela Waldner acendia, como todas as noites havia quatro anos, os candelabros de prata maciça do palacete que tinha sido a residência do perfumista milionário Francois Coty. De facto, havia quatro anos que Anabela era a anfitriã oficial dessa bela moradia, residência oficial do governador militar de Paris.
Pelos seus salões, ela vira desfilar a nata da Alemanha nazi, da Itália fascista, da França de Vichy. As caves e despensas em que ela reinava abrigavam os vinhos de França mais raros, o caviar da Rússia, o melhor foie-gras do Périgord. Para esta jovem e bonita mulher, aqueles quatro anos tinham sido um autêntico sonho da Gata-Borralheira. Tinha um automóvel ao seu dispor, um motorista pessoal e até, regalia suprema, um camarote na Ópera, o do general.
Mas pessoas como os alemães Hans Jay e Anabela Waldner não eram as únicas, nessa noite, a desejar que a cruz gamada drapejasse ainda mil anos sobre a capital francesa. Havia muitos parisienses que partilhavam da mesma esperança. Para Antoinette Charbonnier, uma morena de 25 anos, filha dum respeitável industrial parisiense que perdera um braço em Verdun, nada havia no Mundo que lhe parecesse mais horrível que a perspectiva da libertação de Paris. Antoinette Charbonnier estava apaixonada por um oficial alemão. Os semivitoriosos de Junho de 1940, confessará ela, tinham-na subjugado. ”Com o seu olhar de aço, as suas botas negras, a face queimada pelo sol, os cabelos louros, eles encarnavam - recorda ela - um mundo onde subitamente tive desejo de viver. Um mundo de força, de beleza, de virilidade.” Durante quatro anos, ela vivera nesse mundo. Pelo braço do capitão Hans Werner, desafiara os pais, os amigos, o seu mero. Juntos, tinham vivido a bela época do III Reich em Paris. Tinham sido vistos de braço dado no cinema, no teatro, nos dancings. À passagem de Antoinette havia patriotas indignados que cuspiam para o chão e cartas anónimas tinnam-na ameaçado. Mas, apaixonada por Hans Werner, desorientada pela propaganda colaboracionista, a parisiense Antoinette Charbonnier acabara por acreditar nos milagres de Hitler. Ela não podia imaginar que um dia o seu sonho chegaria ao fim. Nessa noite, os violinos do ”Monseigneur” fá-la-iam uma vez mais rodopiar nos braços do capitão Hans Werner. Nesse abraço, o corpete do seu vestido colar-se-ia à Cruz de Ferro do belo oficial.
Mas nenhum homem apreciava tanto Paris como o impedido do general Von Choltitz, o cabo Helmut Mayer. Durante as primeiras noites, no seu pequeno quarto do Ritz, Mayer tivera pesadelos. Vira infernais aviões picarem sobre ele. Para Helmut Mayer, como para muitos alemães, o milagre que continuava a poupar Paris à sorte de Berlim, de Hamburgo, de Munique, de Colónia era na verdade a coisa mais incompreensível que se podia imaginar.
Nessa noite Helmut Mayer foi ao cinema, pela primeira vez em dez meses. Assistiu ao primeiro episódio da Família Bucholz, uma comédia alemã em exibição no cinema Vendôme. Mayer supunha que o general não regressasse muito depressa a casa. O segundo episódio não seria apresentado antes de uma semana. Helmut Mayer não queria, por nada deste mundo, deixar de o ver.
Capítulo décimo primeiro
Mas o cabo Helmut Mayer iria sofrer uma desilusão. À hora a que ele entrava no cinema Vendôme, Choltitz encontrava-se já a caminho de Paris. As oito da noite desse dia 7 de Agosto, o general partira de Rastenburgo no comboio especial do G. Q.-G. de Hitler, acompanhado pelo seu motorista Alfred Priez. O mesmo Mercedes preto que viera buscá-lo de manhã levara-o junto da grande carruagem dos caminhos de ferro azul e amarela. Mas, desta vez, um jovem tenente do Regimento Gross Deutschland ocupara o lugar ao lado do motorista. Quando o automóvel estacou junto do comboio, o jovem oficial estendera a mão a Dietrich von Choltitz e murmurara: ”Felicidades, meu general, como eu o invejo por ir para Paris!” Choltitz viria a recordar o extraordinário conforto moral que essa confidência lhe trouxera. ”Eu não supunha que pudesse haver nessa noite um único ser humano no Mundo que me invejasse por eu ter de ir para Paris!” A entrevista que tivera nessa tarde com o chefe do Estado-Maior da Wehrmacht, o coronel-general Alfred Jodl, não lhe deixara qualquer dúvida acerca da natureza da missão que estava encarregado de levar a cabo em Paris. Essa missão, resumida por Jodl numa ordem de cinco parágrafos, tinha Choltitz o pressentimento de que viria um dia a enlamear o seu próprio nome e a sua honra, com o sangue e as cinzas da mais bela cidade do Mundo.
Lentamente, o general via desaparecer pela vidraça da janela os abetos de Rastenburgo. Em breve fez-se noite, e o ”Fiihrer Sonderzug” obliquou na direcção das grandes planícies de trigo, uniformes e monótonas, de Brandeburgo. Choltitz tirou um charuto da algibeira da camisola, o mesmo que o marechal Keitel
lhe oferecera nesse próprio dia, no fim do almoço. Com pequenas dentadas, metodicamente, furou-lhe a extremidade. Depois, como não tivesse fósforos, pôs-se de pé e abriu a porta do corredor. Viu um passageiro, de cabelos grisalhos, com os cotovelos apoiados no parapeito duma janela aberta. Este tinha sobre o peito a insígnia com a cruz gamada dos Reichsleiter e fumava tranquilamente. Pareceu ao general ser o mesmo Reichsleiter ao lado de quem tinha estado, de manhã, à mesa do general Keitel. O nome, recordava-se, era Robert Ley. O alto dignitário nazi parecia estar de excelente disposição. Apressou-se a acender o charuto do oficial e ambos se embrenharam imediatamente numa animada conversa. Expirando pequenas fumaças do charuto, Choltitz contou ao Reichsleiter que acabara de ser nomeado governador militar de Paris. Descreveu a entrevista que tivera com Hitler e a missão particular de que este o encarregara. O Reichsleiter felicitou-o calorosamente e exprimiu-lhe a sua convicção de que um soldado tão brioso como ele conseguiria sem dúvida levar a bom termo qualquer empreendimento em que se metesse. E sugeriu, a propósito irem brindar pelo êxito dessa missão. Aquelas Franzõsiche Schweinw produziam, disse ele, vinhos maravilhosos. O despenseiro de Hitler fizera-lhe até a oferta duma garrafa de Bordéus, que teria o maior prazer em partilhar ali mesmo com o novo comandante do Gross Paris.
Os dois homens instalaram-se no compartimento do general e pouco tardaram em trocar animados brindes, tocando repetidas vezes com as taças uma na outra.
Confidência puxa confidência, o alto dignitário nazi confidenciou ao general Von Choltitz que também ele tinha estado com Hitler. O motivo desse encontro dizia respeito ao texto duma nova lei que ele preparara e para a qual obtivera o acordo final do Fúhrer. Lei essa que seria promulgada em Berlim, já no dia seguinte. Desenhando no ar finos arabescos com o fumo do seu Koriazzi de ponta dourada, o Reichsleiter revelou ainda que a lei se chamaria a Sippenhaft. | ”A Sippenhaft?” - repetiu Choltitz, surpreendido.
Exprimindo-se com a pronúncia pura da região de Hanôver, donde era [originário, o Reichsleiter começou a explicar que a Alemanha atravessava naquele momento um período dos mais difíceis da sua história. Os generais, e Choltitz estaria certamente ao corrente disso, traíam diariamente. Uns rendiam-se ao inimigo sem combater, outros revelavam-se incapazes de estar à altura da sua missão; outros, ainda, procuravam até eliminar o próprio Fúhrer. Fraquezas dessas eram intoleráveis, não seria verdade? Os generais alemães, era evidente, não deviam ter senão uma ambição: executar à letra as ordens do Fúhrer.
”A Sippenhaft ’, caro general, zelaria precisamente por isso.”
Numa voz tranquila, sem indicar a menor emoção, o Reichsleiter revelou então ao general Von Choltitz que a partir do dia seguinte, 8 de Agosto de 1944, ”as mulheres e os filhos dos oficiais alemães seriam considerados como reféns. As famílias responderiam pela conduta dos homens. Em determinados casos, os reféns poderiam ser condenados à morte e executados”.
”Ao ouvir estas palavras - diria Choltitz mais tarde -senti um demorado arrepio percorrer a minha velha carcaça de soldado.” Contemplando fixamente o líquido carmesim que restava ainda no fundo do seu copo, teve subitamente vontade de vomitar. Escolhendo cuidadosamente as palavras, balbuciou que se a Sippenhaft era verdadeiramente isso, significava então que a Alemanha regressava pura e simplesmente aos costumes da Idade Média. O Reichsleiter suspirou, e insistiu que Choltitz, e ele próprio, deviam infeliz mas necessariamente compreender que a actual situação exigia que fossem tomadas semelhantes medidas.
1 A palavra Sippenhaft significa: detenção e encarceramento de membros duma mesma família.
Proferidas estas palavras, o Reichsleiter esvaziou dum trago o seu copo e levantou-se. Os dois homens deram-se boas noites e separaram-se. Nunca mais se veriam ’.
Nessa noite, o comandante do Gross Paris levou várias horas para adormecer. Apavorado pelas revelações inesperadas do seu companheiro de viagem, pensava na sorte que essa lei demoníaca reservaria à sua família se, por desgraça, um dia ele não pudesse executar as ordens daquele que no próprio dia o recebera na atmosfera glacial do seu bunker.
Dois dias mais tarde, e após uma curta paragem em Berlim, no caminho para Paris, pararia em Baden-Baden para beijar as suas duas filhas, Maria-Angelika, de catorze anos, e Anna-Barbara, de oito. Uberta, sua mulher, tiraria do berço o pequeno Timo, que o general faria saltitar sobre os joelhos. Seria talvez a última vez que o severo general alemão veria esses quatro entes que ele mais amava no mundo, e com quem tinha estado tão poucas vezes no decurso daqueles cinco anos de guerra.
Às três horas da manhã Choltitz não conseguira ainda adormecer. Fez então o que jamais tinha feito na sua vida: engoliu duma só vez três pílulas de Rivonal, e imediatamente mergulhou num sono profundo.
Capítulo décimo segundo
Envolta num manto de névoa, a pequena cidade despertava a custo no fundo do seu vale. Na extremidade da Viktoriatrasse, para lá das cúpulas da igreja russa, uma velhota descerrava as portas da sua loja. Era a Frau Gerber, padeira. Tempos atrás, àquela hora, era possível que aparecesse ainda um Duisenberg, um Rolls ou um Bugatti que parassem em frente da loja. Para os noctívagos de casaca ou de vestidos compridos era tradição acabar a noite com os bretzels da Frau Gerber. Mas em Baden-Baden, nesse quinto ano de guerra, já não havia noctívagos. No fundo do parque, por detrás das suas colunas brancas, o casino da época dourada estava fechado. A primeira cliente da Frau Berger seria, nesse dia, a criadita duma família de refugiados do bairro. Para Dietrich von Choltitz, os bretzels que Johanna Fischer iria comprar seriam os últimos que ele comeria durante a guerra.
Entre Rastenburgo e Baden-Baden o general só tinha feito uma breve escala em Berlim: o tempo para Priez se precipitar para uma loja da Ptsdamerstrasse a fim de comprar as novas dragonas que o uniforme do seu patrão passaria a ostentar dali por diante. De facto, ao sair da O.K. W. Zug., Choltitz tinha um telegrama à sua espera. Assinado pelo general Burdorf, anunciava ao comandante do Gross Paris a sua promoção ao posto de general de exército ”por especial decisão do Fúhrer”.
1 Choltitz declarou aos autores deste livro que supusera durante muito tempo que o seu encontro com o Reichsleiter Ley não tinha sido uma coincidência, mas sim, que fora propositadamente preparado pela O.K. W. Os autores nunca
encontraram qualquer prova que pudesse apoiar esta afirmação. O general Warlimont, embora não se encontrasse nesse dia em Rastenburgo, estava ao corrente da visita do Reichsleiter. Segundo ele, esta visita fora prevista ainda antes da convocação de Choltitz por Hitler.
Durante toda a noite, no interior do automóvel que o conduzia a Baden-Baden, Dietrich von Choltitz perguntou a si próprio quais seriam os obscuros desígnios que aquela súbita promoção poderia esconder. Ele bem sabia que a O.K. W. jamais entregara o governo duma cidade, mesmo tratando-se duma capital a um general de exército. Na própria Paris, jamais qualquer governador tivera posto superior a general de divisão.
Quando o Horch preto passou pelas primeiras casas de Baden, Dietrich von Choltitz resolveu no entanto deixar finalmente de se atormentar. Ele sabia que para Uberta von Choltitz, neta e filha de oficiais, não haveria alegria maior, nessa manhã, do que admirar os novos galões do seu marido.
Maria-Angelika e Anna-Barbara lembram-se ainda do pantagruélico pequeno almoço com que nessa manhã se festejou a passagem do seu pai. Ele trouxera de Rastenburgo - contam elas -, um grande e misterioso embrulho, a que chamava o Purer Packet’. Era o presente que Hitler mandava entregar às visitas do ”Covil do Lobo”. Continha pumpernickel, doces, chocolate, empadas, bombons eatéumstollen, o suculento pão de especiarias, com gengibre.”
Mas Maria-Angelika e Anna-Barbara apenas veriam o pai de relance. Às 10 horas, barbeado de fresco, o general Von Choltitz despediu-se da família e subiu para o seu automóvel. Nenhuma emoção aparente caracterizava as breves horas daquele encontro. Desde que tinham começado a suceder-se, através de gerações, sob as bandeiras da Alemanha, que os Choltitz desconheciam a dor das separações. Uberta von Choltitz já se habituara, em dezoito anos de casada, a essas ausências do marido. Para ela, Paris era apenas um novo destino na carreira deste, e nada mais. E se, contudo, nesse instante, ela sentia uma apreensão fora do vulgar, tratava-se dum sentimento puramente pessoal, que apenas dizia respeito a si própria e à ideia que ela fazia de Paris. Poucos minutos antes do Horch preto transportar para Oeste o seu marido, Uberta von Choltitz reparou que Alfred Priez subira bruscamente as escadas para ir ao quarto do general buscar uma pesada mala de que este se tinha esquecido. Uberta sabia que essa mala continha vários fatos civis.
Capitulo décimo terceiro
Nessa manhã, um homem curvado sobre o guiador da sua bicicleta pedalava pela Rua Saint-Martin, cantarolando alegremente. Era o sindicalista Yvon Morandat. Tinha todas as razões para se sentir feliz. Era jovem. Estava apaixonado. E em breve veria triunfar a causa à qual tão devotadamente se dedicara: a hora da libertação aproximava-se.
Naquele momento, Morandat sentia-se até em segurança. Apenas três pessoas sabiam que ele passaria naquela rua antes das 10 horas da manhã, os três pavens comunistas com os quais precisamente se ia encontrar na Rua Saint-Martin.
Para Yvon Morandat, a aventura tinha começado em certa manhã de Junho de 1940. Nesse dia, no Trentham Park de Manchester, cinco caçadores alpinos tinham abandonado as fileiras do seu regimento para se juntarem a um general chamado De Gaulle. Morandat era um deles’. O seu instinto e a sua fé tinham sido depois recompensados: Yvon Morandat era hoje um dos poucos parisienses em quem Charles de Gaulle depositava uma confiança total. Juntamente com Jacques Chaban-Delmas, pertencia a esse pequeno grupo de homens escolhidos a dedo, que eram os responsáveis gaulistas.
Yvon Morandat pedalou com mais força. Pouco depois, a beira do passeio que seguia ao longo da rua deu lugar a um pequeno muro. O ciclista soube então que estava prestes a chegar ao seu destino. Foi nessa altura que reparou noutro ciclista que tentava ultrapassá-lo pela esquerda. Quando este conseguiu colocar-se ao seu lado, Morandat viu um pé atirar-se bruscamente para o lado e atingir a sua roda dianteira. Brutalmente desequilibrado pelo empurrão, largou o guiador e, mergulhando de cabeça, caiu desamparado para a frente, num autêntico voo. Nesse instante, Yvon Morandat ouviu o ruído dum motor de automóvel acelerando bruscamente. Voltou-se e viu uma massa enorme avançar sobre ele, como um touro numa arena. Com um golpe de rins, procurou endireitar-se e agarrar-se às pedras superiores do muro para subir por ele e transpô-lo. Mas o muro era muito alto. No espaço dum relâmpago, Morandat resolveu então achatar-se contra a parede. Sentiu nesse instante o guarda-lama do automóvel roçar por si, enquanto as rodas do carro esmagavam a bicicleta. O automóvel, sem suspender a marcha, prosseguiu o seu caminho e desapareceu rapidamente no boulevard Saint-Denis.
Morandat ainda tremia quando o primeiro transeunte o ajudou a levantar-se. ”Meu Deus - exclamou o homem -, queriam matá-lo...”
Morandat abandonou então sobre a calçada o esqueleto desmantelado da sua bicicleta e pôs-se a caminho, disposto a juntar-se aos três camaradas comunistas, percorrendo a pé o trajecto que faltava. O espanto que leu nas expressões deles, quando todos se encontraram, reforçou a convicção que já nesse momento tinha. Yvon Morandat manter-se-á eternamente persuadido de que nessa manhã os comunistas tinham tentado assassiná-lo2.
1 Os outros 144 componentes da unidade, todos eles evacuados de Narvik, preferiram a conselho dos seus oficiais, o regresso a França.
2 Morandat estava igualmente certo de saber por que os comunistas tinham tentado eliminá-lo. Uns dias antes, sobre a ponte Mirabeau, um seu amigo comunista tinha-lhe apresentado um homem que falava o francês com pronúncia eslava muito acentuada. Esse desconhecido explicara ao socialista Morandat que o Partido Comunista o considerava havia muito como um puro e um idealista. O grande perigo que ameaçava agora a Europa, explicara ele, era a colonização e a exploração económica pelos Estados Unidos. O único país com que a Europa podia contar para escapar a essa tirania era a Rússia Soviética. O homem propusera então a Morandat que trabalhasse para o Partido. O que esperavam dele, precisou, era apenas que informasse um agente de ligação do Partido acerca das instruções que Londres enviava à delegação gaulista em Paris. Em contrapartida, afirmava, Morandat podia contar com o apoio incondicional do Partido na carreira política que pensasse seguir no pós-guerra. Morandat recusara a proposta, secamente. Uns dias mais tarde, conheceu a identidade do seu misterioso interlocutor. Chamava-se Kaganovitch, era primo de Lázaro Kaganovitch e fazia frequentes viagens da Suíça para a França ocupada, a fim de levar ao Partido Comunista Francês as instruções de Moscovo.
Curvadas sobre os seus genuflexórios, algumas velhotas vestidas de preto terminavam o seu terço, envoltas na penumbra do coro. A missa das 8 horas tinha findado, na igreja Saint-Germain-rAuxerrois, junto do campanário onde tinham soado os sinos, havia quatro séculos, para o Saint-Barthélemy. Na sacristia, onde o cura dobrava e arrumava os seus paramentos, surgiu subitamente um homem. ”Senhor cura, queria confessar-me.”
Muitos anos mais tarde, pouco antes de morrer e quando ele próprio se tornara também no pároco duma pequena vila do Périgord, o austero coronel Henri de Marguerite explicaria porque tinha desejado confessar-se naquela manhã.
Convencido de que, nas fileiras da Resistência parisiense, da qual ele próprio era um dos chefes, existia uma ameaça para o futuro da França, viera, no segredo dum confessionário, pedir a um padre autorização para cometer um crime.
o homem que Henri de Marguerite queria matar chamava-se Rol. Esse homem tinha sido nomeado para o lugar do engenheiro Pierre Lefaucheux, após a prisão deste à testa de elementos armados da Resistência parisiense. Era comunista. Escondido no seu P.C. dos subúrbios a leste de Paris, Rol, nessa manhã, via-se a braços com inúmeras preocupações. Preparava o que seria o acontecimento decisivo dos seus trinta e seis anos de existência. Preparava uma insurreição em Paris. Quando essa revolta estalasse, seria ele o chefe. Rol não se poupara, nem aos seus homens, desde que tinha sido nomeado chefe regional das Forças Francesas do Interior para a região da Ile-de-France, para ensaiar devidamente esse momento.
Filho de um marinheiro fluvial bretão, Rol dedicara mais de metade da sua jovem existência ao serviço do Partido Comunista francês. Aos treze anos fora obrigado a abandonar a escola para ganhar a vida. Matriculara-se então num curso nocturno e inscrevera-se no Partido Comunista. Tornado num sindicalista militante, Rol entrara para a fábrica Renault, com o fim de manobrar a massa operária. Mas em breve tanto a Renault como, sucessivamente, a Citroen e a Bréguet expulsavam dos seus quadros de pessoal esse operário organizador de greves. Em 1936, Rol alistara-se nas Brigadas Internacionais e combatera
em Espanha. Oito anos mais tarde, adoptaria como nome de guerra na Resistência esse nome Rol, que tinha sido o de um dos seus camaradas mortos na serra Caballes’. Quando, três anos depois, estalou a guerra mundial, Rol, por muito comunista que fosse2, não procurou subtrair-se aos deveres militares dos seus compatriotas. Cumprira as suas obrigações e fora ferido quando prestava serviço num regimento de atiradores senegaleses. Assim que se vira restabelecido dos seus ferimentos, entrara para as fileiras da Resistência e, desde então, não cessara de se bater. A sua coragem tranquila, a sua obstinação e o seu patriotismo causavam a admiração, e sobretudo o espanto, até dos seus inimigos políticos mais encarniçados.
Que um católico fervoroso, chamado Henri de Marguerite, quisesse assassinar este homem, que um socialista chamado Morandat pudesse suspeitar de que os comunistas procuravam matá-lo, eram sintomas de como, nessa manhã, as paixões políticas ameaçavam esfacelar a Resistência parisiense, no momento exacto em que a sua hora de glória ia soar.
1 O chefe das F. F. I. da Ile-de-France chamava-se na realidade Henri Taneuv
2 Em 1939 a Alemanha era aliada da U.R.S.S.
Desde que tinham terminado os lançamentos de armas em pára-quedas na região parisiense, em Junho, que o fosso que separava comunistas e gaulistas não cessara de se alargar. Dali em diante, os comunistas seguiriam o seu próprio caminho. E a sua vitória, eles bem o sabiam, dependeria da sua capacidade para mobilizar e manobrar as massas populares parisienses. Estas estavam longe de se encontrar submetidas aos comunistas, mais longe ainda de partilhar a sua ”fé” ideológica e de dar à política estaliniana um apoio incondicional. Mas a população de Paris, mostrando-se nisso igual à de toda a França, não estava mais rendida ao gaulismo militante. Na realidade, as massas populares, da mesma forma que a resistência organizada, eram constituídas na sua maioria por franceses patriotas, ansiosos por expulsar o invasor. Acontecia que esse desejo de acção imediata se integrava mais na táctica preconizada pelos comunistas do que na sugerida pelos gaulistas. Este facto era facilmente comprovado no seio do Conselho Nacional da Resistência, onde os comunistas apenas dispunham duma minoria de lugares correspondente à sua influência e aos seus verdadeiros efectivos, mas onde sempre conseguiam a unanimidade quando se tratava de escolher entre o imobilismo e a acção.
Dentro de poucos dias os comunistas provocariam a vaga de greves que inevitavelmente arrastaria a cidade para um levantamento armado contra os alemães. Para Paris, para os seus habitantes, para a França, essa seria uma decisão que traria consigo riscos incalculáveis. Mas os comunistas estavam prontos a pagar o preço mais elevado.
Pouco depois, o robusto bretão chamado Rol, que o coronel Henri de Marguerite queria nesse dia assassinar, exclamaria, deixando cair com violência o punho fechado sobre uma mesa: Paris vale bem 200 000 mortos!’’
Capítulo décimo quarto
Na escadaria exterior do palacete da Avenida Raphael, n.o 26, o general Wilhelm von Boineburg Lengsfeld conversava tranquilamente com o seu ajudante-de-campo, o alferes conde Dankvart von Arnim, enquanto esperava a chegada do seu convidado. Havia muitos elos que uniam o velho oficial de monóculo ao jovem fidalgo provinciano brandeburguês, criados e fortalecidos no decorrer de dezoito meses, e os seus contactos mútuos eram desprovidos de qualquer protocolo. Cruelmente mutilado por um tanque soviético na frente de Estalinegrado, onde comandava a 23.a Divisão Blindada, Boineburg tinha sido nomeado governador de Paris em Fevereiro de 1943. Até à Primavera do ano seguinte, nenhum território fora tão fácil de administrar em toda a Europa ocupada pelos nazis como os 55 quilómetros quadrados da capital francesa ’.
A reunião que todas as manhãs, às 11 horas, se efectuava no Hotel Meurice entre o governador de Paris e os oficiais comandantes das unidades da guarnição,
1 Em dezassete meses, os homens do 1.° Regimento
de Segurança comandado por um velho amigo de Boineburg, o coronel barão Kurt von Kraewel, apenas tiveram de se ocupar, segundo esse coronel, de cinco casos em que havia franceses implicados. E ainda, também segundo Kraewel, tratava-se de delitos de direito comum.
não passara, até ao dia 14 de Março de 1944, duma mera formalidade. Mas nesse dia, um oficial enviado por Berlim apresentara-se ao general Von Boineburg e reclamara-lhe a entrega de um processo poeirento em cuja capa se lia: Medidas de defesa no caso do inimigo efectuar uma operação aerotransportada sobre Paris, Elaborado em Agosto de 1942, após o desembarque de Dieppe, esse dossier dormia, desde então, nos arquivos do governador militar de Paris.
Dez dias mais tarde o mesmo oficial regressou de Berlim, onde os especialistas da O.K.W. tinham considerado o plano ”grosseiramente insuficiente”. Fizeram-lhe várias modificações, introduzindo-lhe, entre outras, a lista das destruições que se deveriam efectuar na cidade no caso de esta se tornar também um campo de batalha.
Mas Boineburg considerou essas destruições inúteis e criminosas, e propôs que se constituísse uma linha de defesa anterior a Paris. Constituída por 25 000 homens da 325.a Divisão de Segurança, com artilharia poderosa, essa linha seria um obstáculo fundamental no caminho para Paris. Assim se formou um novo processo, a que se deu o nome de Linha Boineburg.
Os preparativos tão activamente começados logo após a invasão afrouxaram bruscamente de intensidade no princípio de Julho. A causa residia numa notícia extraordinária que se espalhara nos círculos mais chegados ao general Von Boineburg: em Berlim, um grupo de oficiais preparava-se para suprimir Hitler. Embora nunca deixasse transparecer os seus verdadeiros sentimentos, Boineburg apoiava de facto as ideias dos conjurados. Em 20 de Julho, quando a palavra em cifra ”Uebung” foi recebida no estado-maior do general Von Stúlpnagel, comandante militar em França, Boineburg não hesitara. Na sua presença, às 22 horas e 30 desse mesmo dia, o seu amigo tenente-coronel Von Kraewel, à frente dum batalhão do 1.° Regimento de Segurança, dava ordem de prisão a 1200 S.S. e agentes da Gestapo. Mas mais tarde, nessa mesma noite, Boineburg, nos salões do Hotel Meurice, ouvira a voz de Hitler anunciar a derrota da conspiração e a implacável repressão que se iria seguir contra os conjurados.
Resignado, Boineburg esperara então, dia após dia, o seu próprio castigo. Este chegou na noite de 3 de Agosto, sob a forma dum telegrama da O. B. West que participava simplesmente que o general Wilhelm von Boineburg era ”suspenso das suas funções como governador militar de Paris, cargo em que é substituído pelo general Dietrich von Choltitz”.
O governador ficara primeiramente surpreendido pela relativa clemência dessa destituição de poderes.
Depois procurou saber quem era esse general desconhecido que ia suceder-lhe. Consultou o anuário do exército: ”Roterdão... Sebastopol...”, leu ele.
Para o velho general, o homem que, às 8 da noite desse dia 9 de Agosto de 1944, desceu do seuHorcb e exclamou, num guincho, ”Heil Hitler!” na base da escadaria da entrada do n.º 26 da Avenida Raphael, não podia deixar de ser, nas circunstâncias do momento, um nazi incondicional. Vendo-o subir, rígido, os degraus da entrada, Boineburg murmurou ao seu ajudante-de-campo: Acredite, Arnim, é com certeza einganz barter, um ”duro”, em toda a acepção da palavra.”
Dez olhares perscrutadores esperavam o novo comandante do Gross Paris numa pequena sala onde predominava o veludo verde. Para o austero e arrogante coronel Von Unger, chefe do Estado-Maior, para o chefe da contra-espionagem, o enigmático coronel Hagen, para o elegante e cínico coronel Jay, chefe da 3.a Repartição, e para mais alguns oficiais aquele ”era -conta Dankvart von Arnim -, um momento patético”. Uns dentre eles tinham tomado parte activa na fase parisiense da conjura de 20 de Julho. Mas entre os outros havia alguns nazis temíveis. Qualquer que fosse a política que ele viesse a adoptar em Paris, Choltitz teria portanto de proceder a uma escolha entre esses homens. Mas já nesse momento, no meio das caras desconhecidas que o rodeavam no ambiente requintado daquela reunião, ele começava a sofrer as primeiras angústias dessa solidão que o acompanharia até ao desenlace final, 16 dias mais tarde.
Entre os petiscos preparados pelo ”chefe” Gourguilev, no silêncio religioso do jantar que se seguiu, Boineburg e os seus oficiais ouviram o seu convidado descrever, numa voz grave e firme, a entrevista que tivera com Hitler.
Quando, a terminar o seu longo monólogo, Choltitz falou do seu encontro com o Reichsleiter Robert Ley e contou as revelações deste a respeito da Sippenhaft, ouviu-se, diz Arnim, ”um rumor de mal-estar entre os convivas”. Dessa vez, dissipava-se a última dúvida que ainda houvesse acerca das intenções de Hitler quanto ao papel estratégico a que destinava Paris. No entanto, uma dúvida subsistia: de que maneira iria Choltitz executar as ordens que directamente recebera do Fúhrer? Iria ele retomar os preparativos da Linha Boineburg e assegurar a defesa eventual de Paris no exterior da capital? Ou, pelo contrário, iria tornar a própria cidade num autêntico reduto entrincheirado?
No decorrer dum encontro a sós que teve com Choltitz um pouco mais tarde nessa noite, Boineburg, impressionado ainda pela recordação aterradora de Estalinegrado, conjurou o seu sucessor ”a nada tentar que pudesse causar destruições irreparáveis em Paris”. Mas, recorda Arnim, ao ouvir estas palavras a expressão de Dietrich von Choltitz mantivera-se tão impenetrável como a do Buda de bojudo ventre que dominava a sala do alto da lareira de mármore, não longe de um grande retrato de Hitler.
Pouco antes da meia-noite, ao encontrar no vestíbulo o cabo Helmut Mayer, o seu fiel impedido, Dietrich von Choltitz deu a primeira ordem do seu novo comando: ”Mayer -ordenou -, mande preparar o meu quarto no Hotel Meurice!” Depois, voltando-se para Boineburg para se despedir, acrescentou, com uma sombra de sarcasmo na voz: ”Para os dias que me esperam, general, é de um posto de comando que vou precisar e não de um palacete...”
Quando o ruído do Horch desapareceu na noite, Wilhelm von Boineburg tomou o braço do seu jovem ajudante-de-campo e murmurou num suspiro: ”Os belos dias de Paris, conde Von Arnim, terminaram para sempre...”
Capítulo décimo quinto
Para o engenheiro Pierre Lefaucheux, de 45 anos de idade, o drama começara no dia 7 de Junho às 6 horas da tarde, quando a porta do seu apartamento, no quarto andar da Rua Lecourbe, n.º 88, tinha sido forçada e aberta. Nessa noite, num único golpe, a Gestapo prendera Lefaucheux, chefe da Resistência em Paris, e sete dos seus colaboradores. Era a sua melhor presa, em quatro anos.
Agora, com o corpo martirizado por dias e dias de torturas, Pierre Lefaucheux jazia na escuridão sobre a enxerga duma cela da prisão de Fresnes e apurava o ouvido. Aguardava que o barulho metálico da carrinha que traria o café chegasse até ele. O ranger das velhas rodas desse carro, saltitando sobre o pavimento irregular do pátio, cinco andares abaixo, teria nesse dia um significado especial para Pierre e para os outros 2980 prisioneiros da cadeia de Fresnes.
Se o pequeno carro viesse, isso significaria que um novo comboio de prisioneiros deixaria nesse dia a prisão a caminho dos campos de concentração alemães. Pierre Lefaucheux ouviria então as pesadas portas das celas abrirem-se umas após outras para deixar sair aqueles que partiriam. Na pálida madrugada, a carrinha trar-lhes-ia o último café que tomariam em solo francês. Inteiriçado, Pierre aguardaria então, cheio de angústia, que ela passasse em frente da sua cela. Quando o rangido das rodas se afastasse e desaparecesse no fundo do corredor, Pierre poderia finalmente soltar um suspiro de alívio.
Pela trapeira da cela chegavam até Pierre as primeiras claridades da manhã. Estava satisfeito e tranquilo. Com o nascer da manhã, podia agora estar seguro de que nesse dia, 10 de Agosto de 1944, a carrinha do café não viria...
Isso queria dizer que Pierre passaria mais um dia, o sexagésimo quarto, na prisão de Fresnes, um novo período de 24 horas em que não seria deportado para Dachau ou Buchenwald, durante o qual os exércitos aliados se aproximariam mais de Paris, e também durante o qual ele poderia conservar a esperança de que, duma maneira ou doutra, seria libertado em breve.
Para Pierre Lefaucheux, como para todos os prisioneiros políticos da Gestapo em Paris, para os 3230 prisioneiros de Fresnes, bem como para os 1552 judeus detidos nas edificações do campo de Drancy, essas manhãs de Agosto eram de expectativa e de esperança.
Da sua janela do bloco 3, em Drancy, o agente de câmbios Georges Apel olhava para a fila de autocarros verdes, alinhados ao sol da manhã. Antigamente, esses carros serviam para transportar os Parisienses nas ruas da capital. Hoje, Georges Apel sabia que eles seriam utilizados para levar os últimos judeus do campo de Drancy até à pequena estação de caminho de ferro vizinha, em Bobigny, onde seriam embarcados em vagões de mercadorias. Ninguém melhor do que Apel sabia o que os esperava no termo da viagem. Desde Julho de 1943 que tinha vindo a conseguir evitar a deportação, trabalhando na administração do campo. Não alimentava a menor ilusão acerca do significado das deportações. Sabia igualmente que, nesse dia, ele próprio faria também parte do último comboio a deixar Bobigny. Na véspera, o comandante austríaco do campo, o Hauptstrumfuhrer Brunner, entregara-lhe uma lista de cinquenta prisioneiros que deviam ser enviados para a Alemanha custasse o que custasse. O nome Apel estava incluído.
No forte de Romainville, era um grande caderno que um tenente S. S. segurava debaixo do braço que anunciava a partida dum novo comboio. O oficial transportava sempre esse caderno nos dias dos embarques quando chegava ao campo, antes da formatura das 6 horas. Durante a chamada dos prisioneiros abria o caderno e ladrava, repisando as sílabas, os nomes dos prisioneiros que deviam partir.
Uma mensagem escondida no fundo dum pote com compota, que uma velha porteira estava autorizada pelos alemães a entregar no campo diariamente, como
modesta oferenda para 257 prisioneiros, chegou às mãos da cozinheira do campo, a prisioneira Yvonne de Bignolles. No pequeno pedaço de papel estava escrito: ”Assinala Americanos Alençon.” À hora do pequeno almoço, o campo inteiro estaria ao corrente da emocionante notícia, a qual iria permitir que 257 prisioneiros angustiados aguentassem com maior ânimo um novo dia.
Mas, para alguns dos prisioneiros da Gestapo, a deportação para a Alemanha parecia ser, pelo contrário, a sorte mais invejável, porque muitos estavam convencidos de que todos os que ficassem após a partida do último comboio seriam fuzilados. Para homens como o capitão Philippe Kuen e o engenheiro Louis Armand tudo era preferível às torturas da Gestapo, e eles sabiam que se não partissem, ficariam nas mãos dos agentes daquela organização até serem fuzilados. Kuen era adjunto de ”Jade Amicol”, do Intelligence Service, e Armand o chefe dum ramo da Resistência dos Caminhos de Ferro Franceses, e tinham acabado de chegar a Fresnes. A Gestapo estava ao corrente da importância destes homens e não os pouparia a qualquer suplício para lhes quebrar a vontade e obter as informações que pretendia. O que era sinónimo de que Armand e Kuen podiam a todo o momento ser atirados para um camião negro e conduzidos à Rua dês Saussaies, onde a Gestapo organizava e procedia às sessões de investigação e tortura dos seus prisioneiros.
A poucos quilómetros da prisão de Fresnes, no conforto suave do seu luxuoso apartamento da Rua Montrosier, um homem baixo e gordo, vestindo um pijama de seda branca, fazia, em pensamento, o inventário de todos os alemães que conhecia em Paris. Eram muitos os que Raoul Nordling, cônsul-geral da Suécia, conhecia. Na sua qualidade de decano do corpo consular da capital, tinha sido regularmente convidado para as recepções oficiais que eles davam. Caminhando para trás e para diante na vasta sala, cujas altas janelas davam para as frondosas ramadas do Bosque de Bolonha, Nordling tentava imaginar um meio para chegar até junto do único alemão que desejava ver nesse dia. Conhecia-o apenas sob o nome de ”Bobby”. Encontrara-o uma única vez, em 1942, na esplanada do ”Chez Francis”, na Praça de l’Alma, e tinham sido apresentados um ao outro pelo único alemão em quem Nordling confiava, um homem de negócios berlinense que o sueco supunha estar em ligação com o Abwehr, o serviço secreto do Exército alemão.
”Se alguma vez você tiver necessidade de abrir uma porta - aconselhara-o ele - , dirija-sea Bobby.Ele consegue abrir todas as portas em Paris ’.”
E Raoul Nordling necessitava realmente de abrir algumas portas. Mas portas autênticas, as que fechavam as celas de Pierre Lefaucheux, de Yvonne de Bignolles, de Louis Armand e de milhares de outros prisioneiros que ele queria colocar sob a protecção da Cruz Vermelha.
Nordling sabia que em Caen e em Rennes os S. S. tinham massacrado os seus prisioneiros antes de partirem, e estava certo de que o mesmo se iria repetir em Paris. Até ao presente, todas as diligências que efectuara junto da Gestapo tinham fracassado. Mas em breve
1 Os serviços de contra-espionagem americanos sabiam, sim, onde nessa manhã se encontrava ”Bobby”. O seu nome e endereço figuravam numa lista ultra-secreta de personalidades a capturar, com prioridade absoluta, logo após a entrada dos Aliados em Paris. Sob o número de código P 2411126, lia-se: Bender Emil, chamado ”Bobby”. Escritório: RuaGalileia, n.º 24. Residência: RuaEuler, n.º 6, Paris.
a Gestapo partiria também e, se o irreparável ainda não tivesse acontecido, seria a Wehrmacht que se encarregaria dos prisioneiros políticos. Esta perspectiva dava-lhe novas possibilidades. Iria intervir junto do governador de Paris. Para contactar com esse general ele estava certo de que ”Bobby’’, se o pudesse localizar, era o homem indicado.
Nesse mesmo momento, na sua residência da Rua Euler, n.º 6, apartamento que requisitara para seu uso pessoal, Émil Bender fechava as últimas malas da sua bagagem. Dentro de poucas horas deixaria Paris. Recebera ordens do seu superior imediato, o coronel Friedrich Garthe, chefe do Abwehr em França, para se apresentar em Saint-Menehould antes do anoitecer. Mas Bender tinha outros projectos. Munido do seu salvo-conduto do Abwehr, projectava tomar nesse mesmo dia o caminho da Suíça, aí juntar-se à noiva e então afastar-se da guerra.
Era com tristeza que o belo piloto de fontes grisalhas ia deixar Paris. Pseudo-representante duma fábrica de pasta de papel suíça, Émil Bender trabalhava em Paris, desde 18 de Junho de 1940, para o Abwehr. A sua primeira missão tinha sido infiltrar-se no mundo dos negócios francês. Mais tarde o Abwehr encarregara-o da missão delicada de descobrir e, em seguida, requisitar os objectos de valor cuja venda na Suíça proporcionaria ao Abwehr as divisas de que esse serviço necessitava para pagar aos milhares de agentes que utilizava em todo o Mundo. Mas não eram essas as únicas actividades de Bender. Desde 1941, ele era também um dos membros mais importantes duma ramificação antinazi constituída no próprio seio do Abwehr.
O telefonema de Nordling, Bender recorda-se bem, apanhou-o poucos instantes apenas antes de sair de casa. Foi necessária a melhor diplomacia do velho cônsul para que Bender acedesse finalmente em adiar a sua partida por alguns dias. Prometeu dar o seu apoio ao diplomata. Pensava que dentro de três ou quatro dias poderia ainda alcançar a fronteira. Enganava-se. Dentro de quinze dias seria feito prisioneiro pelos franceses. Mas no decorrer dessas duas semanas teria ocasião de vender, por um preço cem vezes superior, todos os quadros e todas as jóias que tinham sido pilhados pelo Abwehr.
Capítulo décimo sexto
Só um inglês particularmente atento teria podido notar um pormenor inusual no Rover verde que certa tarde desembocou das ruas frondosas de Hyde Park e enfiou pela Avenida do Mail. Dezenas de automóveis como esse percorriam, havia cinco anos, as ruas de Londres e todos traziam sobre o pára-choques o distintivo encarnado, branco e azul, as cores do império britânico. Mas um pormenor insignificante diferenciava esse Rover, que foi imobilizar-se em frente do Almirantado, de todos os outros. As cores do distintivo estavam colocadas inversamente. Eram azul, branco e encarnado como na bandeira francesa.
Dois generais saíram do automóvel. Um vestia à paisana. Jacques Chaban-Delmas tinha sido pontual no encontro com o avião, em Mâcon.
Nenhum membro da Gestapo e da Policia devia deixar-se cair nas mãos do inimigo. l Era uma ordem formal de Himmler. Nordling estava ao corrente desta ordem e era esse o motivo por que pensava que, com a aproximação dos Aliados, a Gestapo começaria a i abandonar Paris muito em breve e em ritmo continuo.
Desde que chegara a Londres que Chaban-Delmas lutava pela causa da capital do seu país perante todos os chefes aliados que tinham acedido em ouvi-lo. Desta vez, acompanhado pelo general Pierre Koenig, chefe das Forças Francesas do Interior, dirigia-se directamente a uma individualidade mais categorizada.
Vinte e cinco metros abaixo do nível do solo, no seu pequeno gabinete coberto de mapas próximo do Admiralty War Room, o general Sir Hastings Ismay, chefe de estado-maior pessoal de Winston Churchill, recebia os dois franceses que lhe tinham solicitado a entrevista. Sobre os mapas, recorda Chaban-Delmas, linhas vermelhas avançando como tentáculos figuravam precisamente esse movimento em volta de Paris que os gaulistas queriam a todo o custo suspender. Com todo o ardor da sua juventude, Chaban-Delmas explicou os riscos terríveis que ameaçavam Paris se os Aliados não alterassem desde já os seus planos. Ismay, com uma expressão grave, escutava as suas palavras, interessado e com simpatia. Prometeu levantar imediatamente o caso de Paris junto do próprio Churchill. Advertiu no entanto o seu interlocutor de que este deveria tentar o impossível para manter nas suas mãos o domínio da situação em Paris, pois era most unlikely, muito pouco provável que os Aliados consentissem em modificar a sua estratégia.
No n.º 7 da Bryanston Square, em Chelsea, por detrás das janelas cuidadosamente calafetadas do prédio vitoriano, as luzes ficariam acesas, nessa noite, até de madrugada. Jacques Chaban-Delmas, antes de regressar a França, iria preparar com Koenig e o seu estado-maior um plano de emergência para tentar conservar, acontecesse o que acontecesse, o domínio da situação em Paris.
Mas, sobretudo, enviaria, antes de partir, um S.O.S. a Charles de Gaulle. Enquanto De Gaulle não tivesse dito a sua última palavra, o ”não’’ dos Aliados, pensava ele, não era definitivo.
E essa última palavra não podia Chaban-Delmas saber até que ponto Charles de Gaulle, no seu isolamento aparente de Argel, estava decidido a proferi-la.
No lado oposto da Europa, sob a cúpula impenetrável das árvores centenárias de Rastenburgo, Adolf Hitler devia presidir nessa noite à sua segunda conferência estratégica quotidiana. As instalações do mais importante quartel-general que o exército alemão jamais teve na sua história, envoltas num black-out implacável, ’faziam pensar - lembra o general Walter Warlimont -, numa cidade fantasma’’. A própria floresta imensa parecia ter sido abandonada pela sua fauna em centenas de quilómetros em redor. Os lobos, as raposas, as corujas tinham fugido, expulsos pelas minas e pelo arame farpado electrificado. Nas casernas, nos bunker, nos postos de sentinelas, outros ruídos tinham substituído os ruídos da floresta. Os zumbidos dos ventiladores, o matraquear dos telescritores e das máquinas de escrever,
o retinir incessante das campainhas dos telefones, minavam, 24 horas por dia, os nervos de centenas de homens que, duas vezes por dia, aguardavam que o senhor do III Reich lhes desse a conhecer as suas decisões.
Como era seu costume, o general Walter Warlimont chegara uma meia hora antes do início da conferência. Tinha numa das mãos um número considerável de processos e, enrolados sob o braço esquerdo, os mapas de estado-maior sobre os quais Hitler examinaria a situação. Desde 22 de Julho que Warlimont deixara de utilizar a sua pasta de documentos, de pele de porco, para não ser obrigado a submeter-se à humilhação de ser revistado pelos jovens S. S. de uniforme preto que constituíam a guarda pessoal de Hitler.
Sem esperar pela chegada do Fiihrer nem pela dos outros oficiais, desdobrou na sua frente, sobre a secretária, o enorme mapa à escala de 1/1000 000 de toda a frente Oeste e também os mapas do sector, à escala de 1/200 000, sobre os quais os oficiais da 3.a Repartição tinham marcado a linha da frente tal esta estava estabelecida às primeiras horas da noite. Mais tarde, depois de o Fuhrer examinar a situação na frente Leste, Warlimont apresentaria os mapas a Hitler e este, como era seu hábito, cobri-los-ia de riscos de lápis. Warlimont sabia que, nessa noite, o traçado da frente provocaria em Hitler uma nova explosão de cólera. Aquele indicava que quarenta e seis divisões inimigas’, avançando para o Norte, se aproximavam do Sena, entre Rouen e Elbeuf. Ao sul e a sudoeste de Paris, Dreux, Chartres e Orleães tinham sido alcançadas. Warlimont sabia que, estrategicamente, Hitler não tinha razão, visto que, com o Sena transposto, os Alemães seriam obrigados a evacuar as rampas de lançamento de VI que bombardeavam a Inglaterra e a desmantelar as rampas de V2 em construção. Hitler recebia diariamente, do seu futuro cunhado, o general S.S. Hermann Fegelin2, um relatório acerca do estado de adiantamento dos trabalhos de construção das rampas de V2. O estado-maior S.S.3 do V Corpo de Foguetões, instalado em Maisons-Lafitte, anunciava que umas cinquenta destas rampas, disseminadas pelo Norte da França4, iam começar, em ritmo contínuo, a tornar-se operacionais. Quanto às VI que, desde 16 de Junho, caíam sobre Londres, Hitler sabia que o seu raio de acção era muito limitado para que elas continuassem a ter qualquer utilidade em caso de retirada
A salvaguarda das rampas de lançamento não era a única razão que incitava o comandante-chefe dos exércitos alemães a ordenar uma defesa desesperada no Sena. Hitler sabia que avançando directamente para o Norte, os Aliados seguiam o caminho mais curto para o coração da Alemanha. Em breve, as grandes planícies do Norte, onde esquadrões de cavalaria de tantos exércitos se tinham enfrentado no decorrer da História, veriam despontar e alastrar por
elas os pesados Sherman de estrela branca. Nesses terrenos ideais para batalhas de tanques, os últimos Panzer de cruzes negras que o chefe da Alemanha nazi ainda possuía nessa noite iriam bater-se na proporção de 1 contra 10.
Um acontecimento iria gravar para sempre esta conferência na memória do chefe de estado-maior adjunto da Ó.K. W. Nessa noite, pela primeira vez desde 21 de Junho de 1941, Hitler afastou o mapa da frente Leste, que lhe era apresentado pelo coronel-general Alfred Jodl, para iniciar a conferência pelo exame da situação na frente Oeste. Warlimont recorda-se da ideia de ”fera cercada” que, nessa noite, o Fuhrer lhe sugeriu. Com ambas as mãos apoiadas no rebordo da pesada mesa, inclinava-se sobre os mapas que Jodl fizera deslizar em frente dos olhos. O seu olhar estacou sobre o mapa à escala de 1/200 000, no qual pegou para mais detidamente o examinar.
1 Os relatórios de informação da O. B. West estavam errados. Os Aliados não tinham então em França mais de 37 divisões.
2 Fegelin tinha casado com a irmã de Eva Braun. Hitler desposaria Eva Braun no dia da sua morte.
3 As armas VI e V2 dependiam das S.S.
4 Muitas delas estavam instaladas na região de Beauvais. na Biblioteca existiam noventa e três rampas de lançamento.
No centro do mapa, a cavalo sobre três curvas do Sena, uma mancha enorme, semelhante ao coração duma teia de aranha, impressionou uma vez mais o chefe de todos os exércitos alemães. Essa mancha, da qual partiam todas as estradas do Norte e do Leste, era Paris e os seus subúrbios. Pegando num lápis, que retirou dum tinteiro na sua frente, Hitler começou então a traçar riscos vermelhos à volta de Paris. Em seguida, endireitando-se, anunciou que era chegado o momento de se começar a defender a cidade. ”Resistir no Sena - gritou -, significa primeiro que resistir antes de Paris, resistir dentro de Paris.” A notícia da queda de Paris, continuou, daria a volta ao Mundo. Teria repercussões desastrosas no moral da Wehrmacht e da população alemã.
Hitler virou-se bruscamente para Jodl e começou a ditar uma ordem de três pontos, a primeira ordem directa dada pelo Fúhrer para a defesa da capital. Todas as pontes sobre o Sena e nomeadamente as pontes de Paris seriam imediatamente minadas, tendo em vista a sua destruição. A indústria da própria cidade seria paralisada. Todos os reforços disponíveis em homens e material seriam enviados ao comandante da cidade.
Quando Jodl acabou de escrever, Hitler endireitou-se e, varrendo com o olhar os seus generais, declarou que ’ Paris será defendida até ao último homem, sem consideração pelas destruições que tenham de ser praticadas’’.
Após um prolongado silêncio, relembra Warlimont, a voz de Hitler explodiu novamente no recinto das conferências:
Por que razão deveríamos poupar Paris? Os bombardeiros inimigos também estão a esmagar sem piedade, neste preciso instante, as cidades alemãs!’’
Capítulo décimo sétimo
Era um desses maravilhosos dias de Verão que Deus criara para Paris e para os poetas. De tempos a tempos, ao primeiro sol da manhã, os pescadores, sentados nos cais do Sena, davam uma olhadela impassível para as águas esverdeadas do rio. Na extremidade da ilha da Cite, na ponta do Vert-Galant, um artista solitário rabiscava uma tela. Dentro de algumas horas aquelas ribas adormecidas ao calor cobrir-se-iam de banhistas. Milhares de parisienses procurariam um lugar ao sol descendo até ao rio, pois a guerra, nesse sossegado dia de Verão, parecia longínqua.
Um rapaz, vestindo umas calças azuis que mal lhe chegavam aos calcanhares, observava, debruçado do parapeito da ponte de Nanterre, sobre a qual parara, os serventes da bateria antiaérea que, em baixo, bronzeavam os troncos nus nas margens da ilha de Chatou. Acompanhavam-no dois homens. No olhar de um deles podia ler-se uma expressão de ódio. Dois meses e meio antes, no dia 28 de Maio, às 11 horas e 15, esses mesmos serventes tinham abatido no céu de Paris o seu B. 26. Era o tenente americano Bob Woodrum, de Biloxi, Mississipi.
Agora, disfarçado de operário, o piloto americano saía pela primeira vez do seu esconderijo. Conduzido
por Pierre Berthy, o corajoso salsicheiro de Nanterre que o abrigava em sua casa, e pelo filho deste, de sete anos, visitava Paris pela primeira vez.
Esse domingo pareceu tão belo e agradável ao novo comandante alemão de Paris que este mandou retirar a capota do seu Horeb, ao dirigir-se ao quartel-general da O. B. West, em Saint-Germain-en-Laye, para onde fora convocado.
Nenhum tiro, nenhum avião aliado perturbaram a sua viagem. O contraste com o abrigo subterrrâneo onde o esperavam foi por isso mais violento e
’’ Paris - declarou de chofre o marechal Von Kluge - será defendida. Não há a menor ideia de se fazer dela uma cidade aberta. E é o senhor quem irá defendê-la, Herr General.” .
Os relatórios informativos da O. B. West, explicou, indicavam que os exércitos aliados tentariam ultrapassar a cidade. Resistindo em Paris, Kluge pensava poder atrasar o avanço dos Aliados, obrigando-os a combater em condições desfavoráveis ao emprego maciço dos blindados. A totalidade do 7.° Exército estava presentemente cercada na bolsa de Falaise, após o desastroso contra-ataque de Mortain, ao qual Kluge tão violentamente se opusera. Mas ele dispunha ainda de dezanove divisões quase completas do 15.º Exército, o mais importante exército em França, que a O. B. West imobilizara no Pas-de-Calais até ao princípio de Agosto, na previsão dum segundo desembarque. Quando chegasse a altura, prometeu Kluge, iria buscar a esse exército os reforços de que Choltitz viessse a precisar. Com três divisões, o governador de Paris poderia travar, durante pelo menos três semanas, a mais terrível das batalhas de ruas. Choltitz pediu ao marechal que lhe entregasse imediatamente esses reforços. Mas Von Kluge recusou. A situação em Paris, disse, não era de molde a que o comandante imobilizasse desde já efectivos tão importantes.
Quando a entrevista terminou, o Feldmarshall convidou o seu visitante para almoçar. Foi, recorda Choltitz, uma refeição sinistra. Quando chegou a altura da sobremesa, Kluge repetiu uma vez mais o que antes tinha dito. ”Receio, meu caro Choltitz, que Paris se torne para si numa pompa bastante desagradável. Faz lembrar, de certo modo, um enterro.”
Ao ouvir estas palavras o general conservou-se em silêncio durante um largo tempo. Depois, replicou: ”Pelo menos, senhor marechal, será um enterro de primeira classe.”
Atravessando a toda a velocidade o Bosque de Bolonha, Choltitz ouviu chegar até ele o rumor da multidão do campo de corridas de Auteuil incitando os cavaleiros no termo da quinta corrida.
Sobre a sua secretária, no Hotel Meurice, esperava-o um relatório, que se apressou a ler. Referia-se à delicada operação que ele próprio decretara nessa manhã: o desarmamento dos 20000 polícias parisienses. Kluge ordenara, com efeito, que toda a polícia francesa fosse desarmada, de surpresa, nesse mesmo dia.
Na região parisiense, a operação começara no comissariado da polícia de Saint-Denis e estendera-se rapidamente a todos os comissariados da capital. A operação, dizia o relatório, tinha-se processado sem incidentes. Não houvera qualquer resistência, e tinha sido possível apreender mais de 5000 armas. Choltitz podia portanto considerar-se satisfeito. A perspectiva da cidade tranquila e o êxito daquela primeira medida eram de bom augúrio. Quando terminou a leitura do animador relatório, o tenente Von Arnim apresentou ao comandante do Gross Paris uma mensagem telex proveniente da O. B. West. Era a confirmação escrita da ordem verbal que Kluge lhe dera antes do almoço. ”Paris dizia simplesmente a mensagem -, tem de ser defendida a todo o custo.’’
O Sol descia já por detrás dos salgueiros da pequena praia de Noguet-sur-Marne quando o soldado alemão Eugene Hommens, que aí passara o dia junto da sua companheira francesa, se decidiu a tomar o último banho. Entregou à sua amiga Annick o estojo de cabedal que continha a sua pistola, e avançou para a prancha de mergulhos, nadando depois vigorosamente para o meio do rio. Em seguida, estendendo-se de costas ao comprido, deixou-se boiar preguiçosamente ao sabor das águas. Mas, subitamente, ouviu um grito e viu dois vultos a fugir.
Dois franceses desconhecidos tinham acabado de vingar os polícias de Paris, arrancando das mãos de Annick a pistola do soldado Eugene Hommens.
Capítulo décimo oitavo
o Feldwebel Werner Nix, do 190.º Sicherungsrégiment, amaldiçoava o governador de Paris. Em lugar de se encontrar, como todas as segundas-feiras, instalado numa cómoda poltrona do ”Soldatenkino” da Praça Clichy, via-se obrigado, pela segunda vez numa hora, a atravessar a Praça da Ópera num Panzerspãhwagen eriçado de metralhadoras.
Nesse dia, o general Von Choltitz decidira fazer desfilar as suas forças armadas pelas ruas de Paris, numa interminável e ameaçadora torrente de tanques, canhões, viaturas e homens. Do jardim das Tulherias, convertido em gigantesco campo de reunião de tropas, escorria, desde o meio-dia, o mais importante desfile militar que os Alemães jamais tinham organizado em Paris. Era, a quatro anos de distância, uma espécie de vingança. De facto, em 28 de Agosto de 1940, Adolf Hitler projectara reafirmar aos olhos do mundo, nessas mesmas ruas, no decorrer duma parada monstro das suas forças vitoriosas, o destino milenário do IE Reich. Mas, no último momento, a parada tivera de ser cancelada, devido a uma intervenção pessoal de Goering 1.
Nesse mês de Agosto de 1944, as intenções do governador de Paris eram bem menos ambiciosas. Ele procurava apenas impressionar os parisienses com a exibição do seu poderio.
Nem o Feldwebel Werner, Nix, nem os seus milhares de camaradas, nem qualquer dos parisienses que nesse dia se encontravam na Praça da Ópera repararam no homenzinho de fato cinzento que parecia entretido a ler o seu jornal na esplanada do café de Ia Paix. A seu lado, de braço dado, estavam três mulheres jovens, com vestidos de Verão leves e coloridos. Quando passaram os primeiros carros de assalto, elas soltaram uma espécie de risadas sarcásticas e desdenhosas que provocaram um sobressalto no seu vizinho. Este era o general Dietrich von Choltitz em pessoa, que assim quisera, trocando o seu uniforme por um anónimo fato civil, ver com os seus próprios olhos até que ponto a sua demonstração de poder militar impressionava a população. A risada
sarcástica das três mulheres
1 A Luftwaffe tinha feito saber que não podia garantir a protecção aérea de Paris durante a cerimónia. Três dias antes, a R. A.F. bombardeara Berlim pela primeira vez.
dissipara as suas ilusões, ó comandante do Gross Paris sabia agora que seria preciso bastante mais do que uma parada militar para amedrontar os parisienses.
No momento em que, numa rua de Paris, Choltitz via desfazerem-se as suas ilusões Adolf Hitler preparava-se para lhe enviar um reforço inesperado. No dia
14 de Agosto de 1944, à uma hora e 30 da tarde, enquanto ouvia o coronel Alfred Todl ler-lhe na sua voz fina e precisa os dados actuais da situação, Hitler continuava a pensar na defesa de Paris. Quando Jodl terminou a leitura, recorda o eeneral Warlimont, fez-se um silêncio prolongado. Depois, o chefe de estado-maior adjunto viu os olhos de Hitler fitarem o general Buhle, que se encontrava do outro lado da secretária.
Hitler consultava frequentemente o especialista de armamento e munições junto da O. K. West’. Mas nunca até então os membros do Estado-Maior General o tinham ouvido fazer uma pergunta: ”General Buhle - perguntou Hitler -, quero saber onde se encontra neste momento o morteiro de 600 milímetros que construímos para o ataque de Brest-Litowsk e de Sebastopol. Decidi, com efeito, enviar esse engenho ao general Von Choltitz.” Surpreendido por esta pergunta e incapaz de responder, Buhle, continua a contar Warlimont, virou-se para Keitel, o qual interrogou Jodl com o olhar, o qual por sua vez se voltou para o próprio Warlimont. Nenhum dos colaboradores imediatos do Fúhrer tinha a menor ideia do lugar onde se poderia encontrar o engenho. Nenhum deles se lembrava sequer da sua existência. Furioso com o silêncio dos seus oficiais, Hitler começou a bater com o punho fechado sobre a mesa e a gritar que exigia que lhe fosse apresentado, duas vezes por dia, até que chegasse a Paris, um relatório indicando onde se encontrava o morteiro em questão.
O general Warlimont escreveu algumas notas num papel, e saiu da sala de conferências acompanhado pelo general Buhle para tentar obter algumas informações sobre o ”misterioso morteiro” junto dos serviços de artilharia. Oito horas depois, o comandante Helmut Perponcher trazia ao general Warlimont a resposta que Hitler aguardava.
O famoso morteiro fora encontrado num depósito de armamento, nos arredores de Berlim. Especialmente concebido para as batalhas de ruas, tinha sido anteriormente utilizado em Brest-Litowsk, Sebastopol e Estalinegrado. O próprio general Von Choltitz já se tinha servido dele para esmagar as defesas de Sebastopol. Era o engenho mais terrível jamais construído pelo homem da era pré-atómica. Baptizado com o nome de Karl, do seu inventor, o Professor Doutor Karl Becker, esse morteiro de 124 toneladas,
montado sobre lagartas, podia disparar projécteis de 2200 quilos a mais de 6 quilómetros e trespassar paredes de betão armado de 2 metros e 50 de espessura. Para arrasar um quarteirão inteiro duma cidade, bastariam alguns obuses bem colocados.
Nessa noite, durante a segunda conferência estratégica do ”Covil do Lobo’’, o coronel-general Jodl poderia anunciar a Adolf Hitler a notícia que o faria gargalhar sarcasticamente de alegria: Karl estaria em Paris em menos de oito dias.
1 Os assuntos de armamento eram uma das manias de Hitler. Ele conhecia as características dos canhões da maior parte dos vasos de guerra do Mundo, assim como a espessura das blindagens e das paredes de grande número de fortalezas.
O oficial subalterno da guarda explicou delicadamente que os civis não estavam autorizados a penetrar no hotel, a menos que estivessem munidos dum ausweis. Mas aquele homem baixo, vestido de cinzento, não possuía qualquer ausweis que pudesse apresentar. Com efeito, o único papel que nesse dia trazia consigo, e que continha o seu nome, era o recibo dum alfaiate dos Campos Elíseos onde acabara de comprar o capote com galões cinzentos que trazia debaixo do braço. Debaixo da marca ”Knize- Alfaiate - Paris, Londres, Berlim”, o oficial da guarda encontrou o nome do homem ao qual havia dez minutos impedia a entrada no Hotel Meurice. Era o general Von Choltitz. Esse capote de Inverno ’ que tinha ido comprar após o desfile das suas tropas era a melhor prova de optimismo que podia dar a si próprio.
Vinte anos mais tarde, o oficial subalterno Werner Nix, que esse mesmo desfile privara da sua licença, lembrar-se-á ainda do prazer que nesse dia aquela vingança inesperada lhe causara.
Do outro lado da Mancha, na pista dum campo de aviação do Sul da Inglaterra, um general francês transportava num bornal as roupas civis com as quais contava transpor as linhas da frente e regressar a Paris. O general Chaban-Delmas pedira para ser directamente lançado em pára-quedas na região parisiense, mas o seu chefe, o general Pierre Koenig, não o permitira. Trocando o seu fato de campanha de general por uns calções, uma camisola e um velho par de sapatos de ténis, Chaban-Delmas entraria em Paris de bicicleta com uma raquette de ténis e um frango amarrados ao porta-bagagens. A qualquer alemão que o mandasse parar, diria simplesmente que aproveitara ter ido jogar ténis a casa de uns amigos para se ”abastecer’’, atendendo às necessidades dos seus filhos.
Sobre a pista estava o avião de caça americano que o transportaria à Normandia. Lá chegado, um carro do Comando, que estaria à sua espera, conduzi-lo-ia às linhas aliadas, donde prosseguiria a sua viagem de bicicleta.
Passeando para trás e para diante, Chaban-Delmas decorava as poucas frases escritas à máquina na folha de papel que tinha na mão. Eram as últimas instruções do estado-maior F.F.L, autorizando a eclosão eventual dum levantamento na capital vinte e quatro horas antes da entrada dos Aliados em Paris, ”a fim de dar à população a sensação de participar na sua própria libertação’’.
Outras instruções referiam-se às medidas a tomar até à chegada dos Aliados, ”no caso de os comunistas tentarem realizar um golpe de força’’. A última linha escrita na folha de papel vegetal era uma frase de cinco palavras, frase essa que seria o anúncio do estalar duma operação que o próprio Chaban-Delmas concebera. Esse projecto era tão audacioso e comportava tantos riscos que ele tinha a esperança de jamais ouvir o sinal respectivo através das
ondas da B. B. C. As palavras eram: ”Almoçaste bem, Jacquot?”
Releu-as uma última vez. Depois, entregou o papel ao oficial que o acompanhava. Segurando o bornal, dirigiu-se então para o avião.
Quase no mesmo instante, na sala interior dum café da Rua de la Paix, no arrabalde popular de Levallois-Perret, dois homens sentados em frente um do
1 Choltitz abanbonou esse capote, que de resto nunca usou, juntamente com todo o seu vestuário civil, no Hotel Meurice. Foi-lhe tudo restituído, depois da guerra, pelo procurador do prédio.
outros brindaram-se reciprocamente com os seus copos de cerveja, e esvaziaram-nos dum trago. Nunca se haviam visto um ao outro. Cinco minutos antes tinham-se abordado exibindo, cada um, metade dum bilhete do metropolitano. As duas metades pertenciam ao mesmo bilhete.
Um era o coronel Rol, chefe das F.F.I. da Ile-de-France. O outro chamava-se ”Pierre” e dirigia um ramo de tendência comunista da polícia parisiense. ”Pierre” conseguira que, nesse dia, a polícia de Paris se declarasse em greve.
Rol pretendia agora saber se essa mesma polícia estaria de acordo em se revoltar Rol sabia que os Aliados atingiriam em breve o Sena, simultaneamente a juzante e a montante de Paris, dos lados de Nantes e de Melun. Dentro de poucos dias, talvez dentro de algumas horas, desencadearia portanto a revolta.
o chefe comunista queria, sobretudo, que quando soasse a hora H, os vinte mil polícias de Paris estivessem a seu lado. Era precisamente para se assegurar disso que tinha vindo àquele café.
Como todos os anos pelas festividades a Nossa Senhora, seria a igreja duma pequena povoação na estrada de Paris para Londres que ostentaria o mais belo trono do Santíssimo da Picardia. Naquela véspera da Assunção, uma mulher alta e magra e os seus seis filhos deixaram, manhã cedo, o castelo Luís XIII com telhados de ardósia que ela e os seus partilhavam com sessenta e cinco alemães. Pedalaram todos, a mulher e os filhos, até à vizinha povoação de Warlus. Com os braços carregados de flores, a família Hautecloque entrou então na igreja e começou a efectuar a decoração, tendo em vista a festa do 15 de Agosto.
Thérèse de Hautecloque dedicava uma devoção especial à Virgem Maria. Quatro anos antes, no dia 3 de Julho de 1940, tinha confiado à Sua protecção o ser que mais amava no Mundo, Philippe, seu marido, que nessa manhã, às 6 horas, curvado sobre A Gazela, a sua bicicleta vermelha, deixara os vinhedos bordaleses onde a sua família se multiplicara, para retomar as armas da França Livre em qualquer lado onde lhe fosse possível continuar a guerra.
As suas últimas palavras, enquanto na velha mansão os filhos ainda dormiam, tinham sido: ”A separação vai ser longa... Coragem, Thérèse.”
Durante cerca de quatro anos, Thérèse de Hautecloque não tivera notícias directas
do marido. Depois, numa noite de Março de 1944, enquanto ouvia uma vez mais as mensagens pessoais da B.B.C., às escondidas dos alemães que enxameavam os quartos vizinhos, teve subitamente a impressão de ”que a terra se abria debaixo dos seus pés’’. Uma das mensagens radiodifundidas nessa noite dizia: ”Philippe, nascido em 22 de Novembro de 1902, manda dizer a sua mulher e à sua meia-dúzia que os beija.”
Na igreja que agora rescendia o perfume das rosas, dos lírios e dos gladíolos, surgiu de repente uma mulher que se pôs a gritar: ”Minha senhora, venha depressa!” Era a senhora Dumont, dona do café da Praça. Thérèse de Hautecloque atravessou a capela-mor a correr e precipitou-se para a sala interior do café. De ouvido encostado ao receptor dos Dumont, ouviu então a voz dum homem. E, pela primeira vez desde a derrota, Thérèse de Hautecloque sentiu as lágrimas queimarem-lhe as faces. Na mesma voz tranquila e firme com que dissera ’Coragem, Thérèse”, Philippe de Hautecloque anunciava agora, mas desta vez a todos os Franceses, que, à testa duma divisão blindada francesa, regressara ao solo pátrio para participar na sua libertação. ”Em breve - dizia ele - a bandeira tricolor flutuará em Paris...”
Philippe de Hautecloque era o general Leclerc. Dentro de menos de dez dias, ele iria escrever uma página gloriosa da História de Paris ’.
Numa cela do forte de Romainville, transformada em capela, outra mulher da mesma raça e da mesma fé que Thérèse Leclerc de Hautecloque preparava também o trono florido da Assunção. Mas ninguém interromperia os gestos da prisioneira Yvonne Baratte. Uma a uma, ela ia escolhendo as margaridas selvagens que colhera num pátio da prisão durante o passeio quotidiano, e com elas fazia modestos ramalhetes que colocava em latas de conserva. O pequeno crucifixo de madeira branca, colocado sobre a mesa grosseira que servia de altar, desapareceu rapidamente sob um monte de flores.
No dia seguinte, sobre esse altar decorado e arranjado com amor, o capelão de Romainville iria celebrar a festa da Assunção. E comprimidas na cela e no corredor, centenas de mulheres pediriam à Virgem que as salvasse.
Um sopro de esperança invadira todas as celas de Romainville, nessa véspera de 15 de Agosto. Yvonne Baratte não escutara a promessa do general Leclerc, mas o seu subconsciente sabia que essa Paris tão próxima, onde ela nascera, seria em breve livre. A luz duma vela roubada, começou nessa noite a rabiscar algumas palavras para o capelão levar a seus pais. ”Estou cheia de esperança - escreveu -, os alemães não terão tempo para nos levarem para muito longe.’’ Pediu a sua mãe que lhe enviasse uma lima de unhas, um lenço para o pescoço e que lhe fizesse chegar às mãos, se fosse possível, um exemplar do Génio da França, de Péguy. ”Amo-vos, e estou certa de que muito em breve estarei junto de vós”, concluiu. Em seguida apagou a chama da vela e tentou adormecer.
Louis Armand, o engenheiro que tão ardentemente ambicionava ser deportado, sentia-se feliz pela primeira vez desde que fora preso. A razão da sua alegria
1 Desde o momento em que se juntou ao general De Gaulle, em Londres, que o capitão Philippe de Hautecloque tinha decidido fazer-se chamar ”Leclerc”, a fim de evitar represálias sobre a sua família. ”Leclerc” era, com efeito, um nome muito vulgar na Picardia. No dia 10 de Março de 1941, Thérèse de Hautecloque, que ignorava que o seu marido mudara de identidade, guardara numa capoeira da sua propriedade um prospecto lançado por um avião inglês. Esse folheto dizia: ”Uma grande vitória francesa: o importante posto de Koufra rendeu-se no dia 1 de Março, às 9 horas, às tropas francesas comandadas pelo coronel Leclerc.’’ O prospecto dizia ainda que os soldados que tinham tornado Koufra eram franceses, vindos do Chade e dos Camarões, os quais tinham percorrido 7000 quilómetros desde as suas bases, lutando contra o calor e a sede, para atacar o inimigo.
Ao jantar desse dia, Thérèse de Hautecloque lera o impresso aos seus filhos e, em seguida, dissera-lhes: ’ ’Não sei quem é este coronel Leclerc, mas acho-o muito simpático. Procede exactamente como o vosso pai.” Dez meses mais tarde, os alemães ocupavam o castelo. Mas não seria por intermédio dos alemães que Thérèse de Hautecloque viria a saber que esse coronel Leclerc não era outro senão o seu marido. Foi um correio de Vichy que, cumprindo ordens do governo do marechal Pétain, se apresentou certo dia no castelo e comunicou a Thérèse de Hautecloque que o seu marido tinha sido destituído da nacionalidade francesa e que ”todos os bens de Philippe de Hautecloque, chamado Leclerc”, tinham sido postos sob sequestro.
encontrava-se na base das suas pernas. Tinham finalmente chegado, trazidas pelo capelão da prisão de Fresnes, as botas que ele pedira à família. Apesar do calor que nessa noite de Agosto se fazia sentir, Louis Armand calçara-as imediatamente ”para sentir a sua presença reconfortante”. Agora, pensava ele, poderia enfrentar os campos da Alemanha. Não teria frio nos pés.
Na outra extremidade da prisão silenciosa, imerso nas trevas de outra cela, tPierre Lefaucheux procurava dormir. Passara mais um dia e não fora deportado. Na noite densa, o tilintar duma colher sobre um cano dera-lhe a conhecer que os «Americanos estavam em Chartres. Essa notícia insuflara-lhe novas forças. Se os palemães não o deportassem, estaria em liberdade dentro de poucos dias.
Sobre o enxergão vizinho, o seu companheiro de cela tentava também dormir. Subitamente, o homem começou a falar: ”Aposto contigo que amanhã partimos”, disse com uma voz desesperada.
O prolongado retinir da campainha do telefone percorreu bruscamente o apartamento do boulevard Saint-Germain. Surpreendida no meio do sono, a mulher do preso de Fresnes, Pierre Lefaucheux, acordou em sobressalto. Estendeu o braço para a mesa de cabeceira à procura dum fósforo. À luz da chama viu que eram 4 horas. Marie-Hélène Lefaucheux levantou o auscultador e reconheceu a voz dum camarada da Resistência: ”Está a preparar-se qualquer coisa em Fresnes”, anunciou a voz.
Capítulo décimo nono
Quando Pierre Lefaucheux ouviu o ranger metálico da ”carrinha”, teve a sensação de que ”uma lâmina lhe dilacerava o corpo”. Cinco andares abaixo, o pequeno carro dos cafés começava a sua última ronda através dos corredores da prisão de Fresnes. Pierre ouvia o bater das portas das celas, uma após outra. Parecia-lhe que nunca, como nessa manhã, tantas portas tinham sido abertas. Em breve o rangido áspero e metálico tornou-se mais forte. O prisioneiro ouviu o pequeno carro avançar pelo corredor húmido onde se situava a sua própria cela. O barulho aproximava-se cada vez mais e então, de repente, cessou. Pierre Lefaucheux sentiu uma chave introduzir-se na fechadura e a porta abriu-se,
enquadrando a silhueta do guarda que trazia o café. Pela primeira vez nessa manhã, Pierre Lefaucheux ouviu a voz do seu companheiro de cativeiro:
- Como vês, ganhei...
No sector da prisão de Fresnes destinado às mulheres, o dia começara bastante antes da alvorada com a visita dum oficial alemão. A estudante Jeannie Rousseau, de vinte anos, a mais bela rapariga da prisão, deixou escapar um grito quando viu o oficial entrar na sua cela. Mas logo em seguida reparou, apesar da obscuridade, no crucifixo que pendia sobre o casaco do uniforme do oficial e reconheceu o padre Hans Steinert, capelão militar da prisão.
- Minhas meninas - disse em voz baixa às cinco raparigas que ocupavam a estreita cela sem janela -, vim aqui trazer-vos a Santa Comunhão, para que ela vos reconforte e vos dê ânimo para enfrentar a dura prova que vos espera dentro de algumas horas.
Eram 4 horas da manhã.
Para lá das muralhas de Fresnes, o dia que ia nascer seria, para os milhões de parisienses que na cidade silenciosa ainda dormiam, o último dia de férias duma época que se chamava ”a ocupação”. Para Pierre Lefaucheux, para o seu companheiro de cela, para 2800 homens e mulheres encarcerados nas prisões de Paris e dos arredores, significaria o fim da esperança. Em Fresnes, em Drancy, em Romainville, um longo calvário principiava nessa manhã da Assunção.
Na cozinha da fortaleza de Romainville, Yvonne de Bignolles preparava-se para pôr ao lume o café do pequeno almoço quando ouviu ’um ladrar gutural que vinha do pátio”. Correu para a janela. O tenente S.S., segurando um caderno de estudante, começava a ler os 175 nomes incluídos numa lista escrita à mão. Era a lista de nomes mais extensa que Yvonne de Bignolles já tinha ouvido chamar desde que chegara a Romainville. Quando o tenente fechou o caderno e se afastou ela benzeu-se em silêncio. O seu nome não fora pronunciado.
Ao lado, no Lager 2 ”, Yvonne Baratte tinha sido uma das primeiras a ouvir a chamada do seu nome. Dirigiu-se então, calmamente, para a capela que decorara na noite anterior. Ajoelhou-se durante breves instantes. Depois, pegou nos pequenos ramos de margaridas. Já não haveria missa na capela. Levou consigo as flores e, uma a uma, distribuiu-as pelas mulheres que iam partir com ela.
No edifício 3 do campo de Drancy, Georges Apel e a sua mulher brincavam com Babichou, seu filho adoptivo de dez meses de idade !. Durante toda a noite os guardas do campo, a cair de bêbedos, tinham-se entretido a lançar granadas sobre os abarracamentos dos prisioneiros. Os Apel e os outros ocupantes das barracas e casinhotas tinham passado a noite inteira deitados ao comprido no chão, de barriga para baixo, apertados uns contra os outros, enquanto os estilhaços das granadas voavam à volta deles.
Georges ouvia agora, lá fora, os gritos e os uivos dos guardas. Içou-se até ao parapeito da janela e olhou para fora. Brunner, o comandante do campo, descobriu-o. Com um gesto brutal, ordenou a Apel que descesse. Os alemães iam e vinham na direcção da fila de autocarros amarelos e verdes que deviam transportar Apel e os seus camaradas até à estação de caminho de ferro. Brunner estava branco de raiva. Em nenhum dos autocarros o motor pegava. Alguém desmontara e escamoteara os carburadores de todos os veículos.
Mas, infelizmente, em Fresnes e em Romainville ninguém sabotara os autocarros.
Na fortaleza de Romainville, 25 nomes suplementares tinham sido acrescentados, à última hora, aos dos 175 prisioneiros designados para a deportação. Da janela da sua cozinha, Yvonne de Bignolles via a coluna de presas dirigir-se para os autocarros verdes e amarelos. Entre as últimas estava uma frágil rapariga. Era Nora, uma tímida cançonetista polaca, tuberculosa, a sua melhor amiga.
1 O bebé tinha sido confiado pelos pais ao gerente dum hotel de Sappey, perto de Grenoble, no decorrer duma rusga aos judeus que se efectuara na região em Março de 1944. Um S. S. descobriu a criança, arrancou-lhe os cueiros e vendo que tinha sido circuncisado, enviou-o para Drancy. Quando Apel o viu chegar, conseguiu convencer o comandante do campo, Brunner, a confiar o bebé a sua mulher. Brunner retirara a sua ficha da lista dos judeus que iriam ser deportados. Sob a rubrica ’ ’Motivo da prisão’’, Apel viu que o S. S. escrevera: ’’ terrorista’’.
Yvonne ouviu o trabalhar dos motores e pouco depois os três autocarros arrancavam. Do último jorrou uma voz forte e clara. Era Nora que cantava:
Espera-me nesta terra de França, Regressarei depressa, tem esperança.
Em Fresnes, os 2000 homens do transporte foram expulsos das respectivas celas logo após a partida dos autocarros das mulheres. O capitão Philippe Kuen, chefe-adjunto do Intelligence Service em França, agradeceu a Deus ter sido designado para partir. As suas torturas tinham terminado. Para onde quer que fosse que os alemães o levassem, partiria com a consciência tranquila. Não falara.
Os alemães juntaram os prisioneiros em grupos, por ordem alfabética. No primeiro, estava o engenheiro Louis Armand. Nunca ele parecera tão feliz. Finalmente partia. E partia, calçando as belas botas que recebera. No grupo dos ” Armand encontrara o seu velho camarada engenheiro Pierre Angot. Angot, esse, estava desesperado por ter de abandonar o campo. ”Dentro de alguns dias - confessou a Armand - ter-se-ia encontrado em liberdade. Gaston Bichelonne, o ministro da Produção Industrial do governo de Vichy, era seu amigo. E prometera fazê-lo sair de Fresnes. Agora, Bichelonne já nada poderia fazer por ele...”
Armand tentou confortá-lo. Para dar algum ânimo ao seu velho amigo, que tão desesperado se mostrava, indicou-lhe as centenas de homens que enchiam o pátio da prisão. Garantiu a Pierre Angot ”que conseguiriam escapar, porque já não seriam abatidos como cães algumas horas antes da chegada dos Aliados”. Armand punha tanta convicção nas suas palavras que não ouviu um dos guardas gritar pelo seu nome. O seu companheiro tocou-lhe com o cotovelo. ”Estão a chamar por ti”, disse.
A única viagem que Louis Armand faria nesse dia seria do pátio da prisão de Fresnes para a cela donde saíra uma hora antes. No último momento, os alemães tinham retirado o seu nome da lista do transporte. Escoltado por dois soldados, o engenheiro foi reconduzido à sua cela, louco de desespero e de receio.
Quando penetrou no escuro cárcere, o bretão franzino com quem partilhara a sua reclusão olhou para ele e disse: ”Você teve sorte sempre; eu nunca. Mas desta vez, nenhum de nós poderá acalentar qualquer esperança: eles vão liquidar-nos aqui, tanto a si como a mim...” Mal tinha acabado de proferir estas palavras, ouviram-se soar os passos do guarda no corredor. A porta abriu-se, e um soldado fez sinal ao pequeno bretão para sair. Tomaria o lugar de Armand no transporte, declarou. ”Tenho muita pena...”, murmurou o bretão ao sair. Depois a porta bateu, fechando-se atrás dele. O engenheiro Louis Armand ficou só com o seu desespero.
Dentre os prisioneiros de Fresnes, um havia para quem o espectáculo da partida daqueles franceses era particularmente cruel. Tratava-se do alemão Willy Wagenknecht, primeiro-cabo da central de transmissões da O. B. West Havia dois meses que cumpria ali uma pena de seis meses de prisão, por ter esbofeteado um oficial. Wagenknecht não conseguia compreender por que razão os alemães levavam franceses para a Alemanha enquanto ele continuava naquela sinistra prisão parisiense.
Lá fora, diante da prisão, as mãos de Marie-Hélène Lefaucheux crisparam-se nervosamente no guiador da sua bicicleta, ao ver finalmente abrirem-se as portas. Com um olhar angustiado, examinou as caras de cada um dos prisioneiros quando estes passaram por ela à frente das pistolas-metralhadoras dos seus guardas S.S.
De repente viu o marido. Pareceu-lhe, primeiro, tão magro e esgotado que não pôde reprimir um grito. Mas, simultaneamente, sentiu-se invadir por uma espécie de alegria selvagem. ”Ele estava vivo.” Pierre fora socado, torturado, quebrado. Mas estava vivo. Esse pensamento parecia-lhe tão reconfortante que foram necessários a Marie-Hélène Lefaucheux vários segundos para se compenetrar do trágico da cena que continuava a desenrolar-se diante dos seus olhos. Lembrou-se subitamente que Pierre estava a ser deportado. Empurrando os soldados que encontrou pela frente, tentou aproximar-se dele. Este subia já para o autocarro e Marie-Hélène viu-o esboçar um sorriso e fazer um ligeiro movimento de cabeça na sua direcção. Ele tinha-a visto! Reconhecera-a. E dissera-lhe adeus. Marie-Hélène não conseguiu reprimir as lágrimas. Precipitou-se para o capelão alemão Steinert, que benzia, com gestos discretos, a interminável coluna de prisioneiros.
- Minha senhora - murmurou o padre-, não esteja triste. É uma bênção ele partir... Prevejo um massacre na prisão.
Os motores dos autocarros começaram a trabalhar e a longa fila de veículos amarelos e verdes principiou a mover-se. Marie-Hélène correu para a sua bicicleta. E, sem saber porquê, começou a pedalar atrás do comboio.
Capítulo vigésimo
O sino da igreja de Saint-Germain-en-Laye tocava para a missa das nove horas quando o Porch preto do general Von Choltitz estacou no boulevard Vítor Hugo, em frente do quartel-general da O. B. West. Pela segunda vez em quarenta e oito horas, o marechal Von Kluge convocava para vir à sua presença o comandante do Gross Paris.
A conferência principiou por uma exposição do chefe de estado-maior, o brilhante e gordo general Gunther Blumentritt!. Numa voz dura e decidida, Blumentritt propunha que se seguisse, no que dizia respeito à região parisiense, o que ele chamava ’’uma política limitada da terra queimada” 2. Como todos os projectos elaborados pelo Letter der Fuhrungsabteilung3 do comando-chefe
1 Uma das recordações de Paris que o general Blumentritt mais estimava era um pequeno galo de prata maciça, que lhe tinha sido oferecido pelo proprietário do Restaurante ”Coq Hardi”, perto de Saint-Germain-en-Laye. Blumentritt e o predecessor de Kluge, o marechal Von Rundstedt, jantavam aí fielmente todos os sábados, às 19 horas.
2 Os alemães não tinham ainda aplicado em França a táctica da terra queimada. Não por simpatia pelos Franceses. No Sul da Itália, país aliado da Alemanha, os alemães, recorda Eisenhower, abateram todas as vacas e todas as galinhas e frangos que não puderam levar consigo. Mas em França, depois da brecha de Avranches, começaram a recuar tão depressa que nem tempo tinham para deixar atrás de si lembranças como essas.
3 Terceira Repartição do Exército (Operações).
Oeste, o documento de dezasseis páginas dactilografadas que Blumentritt lia era um plano simultaneamente metódico e preciso. Blumentritt ilustrava a sua demonstração com frequentes referências ao mapa à escala 1/10000 desdobrado sobre a mesa de conferência. Sobre a placa transparente que cobria o mapa viam-se dezenas de pequenos quadrados vermelhos, feitos a lápis. Indicavam a localização das fábricas de gás, das centrais eléctricas e dos reservatórios que abasteciam de água os cinco milhões de habitantes da região parisiense.
A execução do plano dividia-se em duas fases. Blumentritt era da opinião de que a primeira fase deveria iniciar-se imediatamente. Tratava-se de proceder à destruição sistemática das instalações de gás, de água e de electricidade de Paris ’. A segunda dizia respeito à ”sabotagem seleccionada” das instalações industriais da cidade.
Os alemães sabiam, em meados de Agosto de 1944, que já não dispunham de tempo nem da mão-de-obra necessários para destruir todas as instalações do aglomerado parisiense. Mas se suprimissem as fontes de energia que alimentavam essas fábricas, torná-las-iam inúteis para os Aliados. Esta ”política limitada da terra queimada’’ era, declarou Blumentritt, ”um compromisso lógico’’. E estrategicamente era pertinente, se a Alemanha queria realmente impedir que a indústria parisiense se voltasse contra ela desde a chegada dos Aliados. Espalhando o pânico entre a população, paralisando a cidade, essas destruições teriam ainda por consequência atrasar o avanço dos exércitos inimigos, obrigando estes a destinar, com prioridade, uma parte dos seus recursos militares para socorrer os parisienses.
Blumentritt reafirmou que a primeira fase desse plano devia ser imediatamente posta em execução. Estendeu então a Choltitz uma folha de papel na qual o comandante do Gross Paris encontraria uma relação dos depósitos da Kriegsmarine e do Exército susceptíveis de fornecer os explosivos necessários 2.
O plano que o general Blumentritt propunha não surpreendia de forma alguma o comandante do Gross Paris, Este recebera na véspera a primeira ordem directa da O.K. W. desde que tomara posse do comando de Paris. Essa ordem impunha ”a destruição ou a paralisia total de todo o complexo industrial parisiense”. Ele sabia que a O. B. West recebera cópia dessa ordem e concluíra que iria ser chamado a Saint-Germain.
1 No que se refere à água, os alemães tencionavam fazer saltar os três aquedutos que forneciam 97 % do consumo parisiense. Contrariamente aos rumores que então corriam em Paris, os alemães nunca pensaram em envenenar a água dos reservatórios. Quanto às centrais eléctricas, os alemães hesitavam entre duas tácticas: introduzir campos de minas nas próprias turbinas das centrais mais importantes da região parisiense e fazê-las explodir, ou destruir as instalações de distribuição de corrente. Segundo o engenheiro-chefe das fábricas Siemens instaladas em Paris, ”o recurso à primeira táctica teria privado Paris de energia industrial durante dois anos.” Limitando as suas destruições às instalações de distribuição, os alemães, segundo o mesmo perito, ”privavam Paris de energia eléctrica durante pelo menos seis meses.”
2 Blumentritt, recorda Choltitz, empregou em determinado momento a expressão fazer estoirar Paris”. O major-general Hans Speidel, chefe de estado-maior do Grupo de Exércitos B, que assistia à conferência, encolheu os ombros e replicou alto e bom sonv Fazer estoirar Paris? Que é que isso quer dizer? Ter-se-á por acaso encontrado uma central eléctrica no interior de Notre-Dame?
Mais tarde, admitiria que essa ordem não o chocara. Numa altura em que, todas as noites, os bombardeiros inimigos reduziam a cinzas as cidades alemãs, parecia natural a Choltitz, como a todos os oficiais reunidos em volta daquela mesa de conferência, que o alto-comando se empenhasse em impedir que a indústria parisiense pudesse um dia trabalhar contra a Alemanha.
No entanto, o governador de Paris não estava de acordo num ponto com o chefe de estado-maior do comandante-chefe do Oeste. Esse desacordo nascia do momento previsto para se dar início à execução do plano ”Terra Queimada’’. De momento, o que mais preocupava Choltitz era preparar a defesa de Paris, e não a sua destruição. Portanto, a prematura entrada em vigor do plano de Blumentritt, explicou, atiraria para os braços da Resistência milhares de operários e levantaria a população, em revolta aberta, contra as suas próprias tropas. Além disso, acrescentou não sem uma ponta de ironia, os soldados alemães também bebiam água.
Estes argumentos não pareceram destituídos de interesse ao ponderado e tranquilo marechal Von Kluge. Como árbitro da discussão entre o seu fogoso chefe de estado-maior e o comandante do Gross Paris, declarou que evidentemente se deveriam tomar todas as disposições para a aplicação do plano ”Terra Queimada”. Mas acrescentou que se reservava o direito de indicar o momento oportuno em que este deveria ter início. Consequentemente, e para esse efeito, daria posteriormente as suas ordens.
Mas cinquenta e seis horas mais tarde - ao ser brutalmente abalado pela notícia de que vai ser substituído por um dos mais enérgicos e duros marechais do exército alemão -o pequeno marechal do monóculo ordenará a Choltitz que desencadeie o terrível plano de destruição proposto por Blumentritt nessa manhã. Em seguida suicidar-se-á.
Na antecâmara do governador de Paris estavam quatro civis quando aquele entrou, vindo de Saint-Germain-en-Laye. Choltitz viu na ordem de missão colectiva que eles tinham apresentado ao coronel Von Unger a própria assinatura do coronel-general Jodl. Todos eles engenheiros, apresentaram-se com o título de technische beratter - conselheiros técnicos. O objecto da sua missão era ”superintender na preparação e na execução das destruições das instalações industriais da região parisiense”. Esses técnicos faziam-se acompanhar dos seus instrumentos de trabalho: uma dezena de estojos de cartão cilíndricos contendo os planos das principais fábricas.
O chefe do grupo, um certo professor Albert Bayer, originário de Essen, garantiu ao general Von Choltitz que a colocação dum razoável número de cargas explosivas devia ”desorganizar completamente Paris durante um período não inferior a seis meses”.
O comandante de Paris instalou os seus visitantes em aposentos do quarto andar da sua própria residência, pondo à disposição deles vários automóveis.
Quando à tarde foi visitá-los, ”nadavam num mar de planos e de mapas”.
”Se os anglo-americanos um dia ocuparem Paris - afirmou um deles - não encontrarão uma única fábrica em estado de funcionamento.”
Capitulo vigésimo primeiro
O sol escaldante de Agosto queimava os telhados de chapa de zinco dos vagões para transporte de gado que, numa linha de desvio da estação de Pantin, aguardavam o momento da partida. Dentro de cada vagão, mais apertada que às horas de maior afluência do metropolitano, a carga humana escolhida pelos S. S. para ser deportada para a Alemanha sufocava no calor. 2200 homens e 400 mulheres, oitenta por cento dos presos de Fresnes e de Romainville, a elite da Resistência Francesa, esperavam com desespero a partida desse comboio.
No vagão de Jeannie Rousseau havia 92 mulheres comprimidas umas contra as outras. ”Quase nem havia lugar para o nosso suor”, recorda esta jovem. A única janela, alta demais para que se pudesse ver o que se passava lá fora, estava obstruída por tábuas e arame farpado. Jeannie Rousseau nunca poderá esquecer essa sensação de asfixia lenta que sofreu no decorrer das primeiras horas que passou no vagão.
As condições eram ainda piores para os homens. Meio nus, empilhados aos cento e tal em cada vagão, suplicavam incessantemente aos guardas que ”mandassem partir aquele infernal comboio”.
Pierre Lefaucheux, o homem que tanto desejara não iniciar aquela viagem, pedia também, aniquilado pela fome, pela sede e pelo calor, que o comboio partisse finalmente. Atrás dele, um prisioneiro de lábios ressequidos procurava lamber-lhe o suor que lhe escorria pelas costas.
De cabeça baixa, ombros curvados, um homem abandonava a estação de Pantin. Emil Bender, chamado ”Bobby”, o agente do Abwehr, tentara impedir com um ardil a partida do comboio. Falhara redondamente. Os S.S., apontando-lhe os canos das suas pistolas-metralhadoras, tinham-no expulso. Bender entrou num café, pegou numa moeda e introduziu-a na caixa do telefone. Marcou o número do consulado da Suécia. ”Senhor cônsul -disse num suspiro -, pergunto a mim próprio como é que nos será possível fazer parar este comboio.”
Havia dois dias que o cônsul Nordling e Emil Bender moviam céu e terra para conseguir que as prisões parisienses fossem colocadas sob a protecção da Cruz Vermelha. Nordling interviera pessoalmente junto de Lavai, falara com o embaixador da Alemanha, Otto Abetz, com o chefe das S. S. Karl Oberg. Inutilmente. Procurara até o próprio general Von Choltitz, que lhe mandara dizer estar muito ocupado para receber o cônsul.
Outros homens, nessa manhã, tentarão também arrancar os presos de Pantin à horrível viagem que os espera. Ao mesmo tempo que os S. S. fechavam os seus prisioneiros nos vagões de gado, um rapaz pedalava com quantas forças tinha em direcção à pequena vila de Nanteuil-Saacy. Levava ao chefe dos resistentes da vila uma mensagem
verbal urgente, remetida pelos F.F.I, de Paris. Essa mensagem continha uma ordem: ”Seja qual for o preço, sejam quais forem os meios, cortem a via férrea Paris-Nancy. Nessa via passará dentro de poucas horas um comboio com deportados para a Alemanha.”
No mesmo dia, às 12 horas, um emissor clandestino instalado numas águas-furtadas parisienses transmitia para Londres uma mensagem em cifra:
”Para comunicação imediata a todos os chefes F.F.I. - dizia a mensagem.- Os alemães iniciaram a deportação de todos os detidos nas prisões de Paris em comboio que utilizará a via Metz-Nancy. Receamos massacre geral durante a viagem. Tomem todas as medidas possíveis para sabotar o transporte.”
No campo de Drancy, onde horas antes, os judeus tinham ficado a dever a sua salvação à sabotagem dos autocarros, novos perigos ameaçavam os presos. O comandante do campo, o Hauptsturmfuhrer Brunner, decidira organizar o seu próprio transporte para a Alemanha, partindo da vizinha estação de Bobigny. Ordenou a Apel que o acompanhasse à gare a fim de lhe servir de intérprete, pois iria ordenar que se formasse nessa mesma tarde uma composição de quarenta vagões.
Escoltado por dois S.S., Apel entrou com Brunner no gabinete do chefe da estação de Bobigny. Dando um murro violento sobre a secretária, Apel berrou: ”Drancy precisa dum comboio de quarenta vagões, pronto a partir antes da noite!” Depois, baixando a voz, acrescentou num tom desesperado: ”Mas, por amor de Deus, não permita que esse comboio siga!’’
Capítulo vigésimo segundo
Nessa Paris da Assunção, a tragédia de Pantin iria passar quase despercebida. Angustiada pelo espectro da fome, a maior parte dos três milhões e meio de parisienses perguntava o que iria comer nesse dia e nos dias seguintes. As senhas de racionamento já não eram respeitadas, os presentes do exterior não chegavam e, na maioria dos lares, as magras reservas tinham-se esgotado. Além disso, outra ameaça aguardava o despertar dos habitantes de Paris. Colados nas paredes da sua cidade durante a noite, avisos amarelos e pretos, assinados pelo general Von Choltitz, preveniam que a ordem seria mantida ”com a mais extrema severidade”. O governador de Paris decidia proibir portanto o que deveria ser o acontecimento mais importante do dia, a grandiosa peregrinação que todas as crianças da cidade fariam à catedral de Notre-Dame para pedir à Virgem Maria, padroeira da França, que protegesse Paris, a sua capital.
À hora a que a peregrinação das crianças deveria começar, na ponte de Neuilly, no extremo oeste da capital, um capitão alemão de 36 anos de idade descia dum Kuberwagen coberto de folhas de árvores. Com um gesto, Werner Ebernach mandou parar a coluna de camiões da 813.a Pionierkompanie que seguia o seu automóvel, e avançou até ao parapeito da ponte. O oficial de olhos azuis, que perdera três dedos da mão esquerda no ataque a uma isba na frente russa, acendeu um cigarro e pôs-se a contemplar o rio. Nunca pensara que este fosse tão largo. O Spree, que atravessava Berlim, sua terra natal, não passava duma ribeira ao pé do Sena, pensava ele. Na sua frente, Ebernach podia distinguir, nascendo da folhagem densa do Bosque de Bolonha, os arcos majestosos
1 Pequena casa de camponeses russos. (N. do T.)
da ponte de Puteaux. Do outro lado, rio acima, a ponte da Jatte atravessava em dois saltos uma pequena ilha coberta de casas acinzentadas.
o capitão desdobrou um mapa sobre o rebordo do parapeito e começou a contar cuidadosamente. Duma ponta à outra de Paris, entre o subúrbio do Pecq, a oeste, e o de Choisy, a sudeste, havia quarenta e cinco pontes como as que Ebernach tinha diante dos olhos, atravessando o Sena. Essas quarenta e cinco pontes eram as artérias vitais pelas quais corria o sangue de todo o aglomerado parisiense. Além da população e dos veiculos, o metropolitano, o gás, a electricidade, a água e o telefone transpunham o rio, através dos seus tabuleiros ou sob os seus arcos. Sem essas pontes, o Sena, com os seus meandros, regressava ao que tinha sido dois mil anos antes, um formidável obstáculo natural. O capitão alemão Ebernach ignorava certamente que algumas das pontes eram verdadeiras obras de arte ou que outras tinham nelas gravado o testemunho da História. Os nomes dos heróis inscritos nos pilares da ponte de Austerlitz evocavam a epopeia napoleónica, e as pedras da ponte da Concórdia eram as da Bastilha. Sobre as da ponte da Tournelle, seis vezes centenárias, erguia-se a estátua de Santa Genoveva, a padroeira de Paris... A história de França e de Paris estava escrita nessas quarenta e cinco construções. Na algibeira da sua blusa de campanha, sob a Cruz de Ferro de primeira classe, o capitão Werner Ebernach trazia consigo um bocado de papel azul que mais tarde mostraria ao general Von Choltitz. Estava assinado pelo próprio coronel-general Jodl e tinha a indicação ”KR Blitz -Muito urgente”. Era a ordem de preparar a destruição das quarenta e cinco pontes do aglomerado parisiense. Werner Ebernach não sabia qual a razão por que Hitler I ordenara a destruição dessas obras de arte. Técnico modesto, Ebernach não estava no segredo dos deuses da O. K. W. e da sua estratégia. No decorrer da sua carreira, já fizera saltar dezenas de pontes e as de Paris, pensava, não apresentariam mais dificuldades do que as de Kiev ou de Dnepropetrovsk. Mais tarde nesse dia, perante o governador de Paris, poderia portanto predizer que ”o Sena deixaria de correr quando todas as pedras de todas as pontes de Paris tivessem rolado para o leito do rio”.
Antes de voltar para o seu Kubelwagen, o capitão Werner Ebernach quis proceder a um exame capital. Na companhia do chefe da secção de explosivos da
sua unidade, o Hauptfeldwebel Hegger, desceu à beira-rio e pôs-se a observar atentamente os locais de ancoragem da construção. De repente, o facho da sua
lanterna imobilizou-se sobre uma placa metálica que ele procurava na abóbada.
Como se tivesse acabado de fazer uma grande descoberta, Ebernach exclamou:
”Pronto, Hegger, graças às Sprengkammers ’
construídas pelos franceses, isto há-de ir ainda mais depressa do que eu pensava.’’
Dietrich von Choltitz não ficou surpreendido com a ordem que o capitão I Werner Ebernach lhe apresentou, logo após ter entrado no seu gabinete. Já l conhecia o texto dessa ordem, da qual recebera uma cópia enviada pela O.K. W. l Mas a presença de Ebernach constituía, sim, para ele, uma bela surpresa. Antes da guerra, tivera já ocasião de apreciar o brio com que Ebernach se desempenhara
* duma missão semelhante à de que agora estava encarregado. Fora em Gimma, no Saxe, no decorrer das manobras de 1936, sob os olhares aprovadores de Choltitz
1 Câmaras de minas.
e doutros oficiais, que Ebernach destruíra, duma só vez, duas pontes construídas sobre o Mulde. O aspecto decidido e seguro de si próprio com que esse mesmo oficial agora se apresentava era a prova, para o general, de que ele tinha correspondido ao que a sua juventude prometera. No espírito de Choltitz nenhuma dúvida havia de que ele conseguiria, como afirmava, estrangular o Sena nos escombros das suas pontes. No entanto, o governador de Paris entendia que devia guardar para si a orientação total da operação. ”Tome as disposições necessárias’’, disse ao capitão. Mas advertiu-o de que nenhuma destruição se deveria efectuar em Paris sem a sua ”autorização pessoal”. Choltitz recorda-se de ter colocado a mão sobre o ombro do fogoso oficial e de lhe ter dito: ”O Sena, Ebernach, não é o mesmo que o Mulde, Paris não é Gimma, e o mundo inteiro já não é apenas um punhado de generais, tem os olhos postos em nós.’’
Mal Ebernach acabara de sair do gabinete do general Von Choltitz, entrou o chefe de estado-maior coronel Von Unger, trazendo na mão dois relatórios. Ao ler o primeiro, o governador de Paris limitou-se a encolher os ombos: dizia respeito à greve da polícia. Mas quando leu o segundo, fez uma careta: oito soldados alemães tinham sido mortos à tarde, numa emboscada preparada pela Resistência, no subúrbio de Aubervilliers. Era o primeiro acontecimento grave que se dava na cidade.
Von Choltitz, recorda Von Unger, procurou no mapa mural a localização de Aubervillier. Quando, por fim, o seu roliço indicador parou junto à orla norte do plano, Von Unger ouviu-o suspirar e resmungar: ”Hoje ainda só atacam nos arredores. Amanhã será em Paris!”
Uns a seguir aos outros, os vagões destinados ao transporte de gado foram bruscamente sacudidos como os elos duma longa cadeia. As rodas hesitaram sobre os carris da estação de Pantin, e em seguida começaram a mover-se. Para 2600 desgraçados, o sinistro ranger do comboio que começava a deslocar-se punha termo a um pesadelo. Então, dum velho vagão de madeira que encerrava e levava com ele a sua carga de miséria e de sofrimento, brotou um canto que todas as vozes, nos outros vagões, acompanharam em coro: era a Marselhesa.
Quando a ”Marselhesa” deixou de se ouvir na noite, a jornalista Yvonne Pagniez ouviu outro canto erguer-se do último vagão do comboio. Reconheceu, dominando todas as outras, a voz quente e fremente de Yvonne Baratte, a jovem que, na véspera à noite, florira com margaridas singelas o pequeno altar de Romainville.
”É apenas um ’até à vista’, meus irmãos... - cantava ela -, sim, ver-nos-emos de novo...”
O velho relógio com algarismos góticos da estação de Pantin marcava quase meia-noite. Um ferroviário, com os olhos cheios de lágrimas, dirigiu-se a uma mulher que esperava em frente da gare: ”Acabou-se - murmurou eles -, já partiram.” Ao ouvir estas
palavras, Marie Hélène Lefaucheux montou novamente na sua bicicleta e afastou-se. Partiria para Este dentro de três horas, firmemente decidida a apanhar o comboio e a segui-lo durante tanto tempo quanto lhe fosse possível.
Nas prisões quase desertas de Fresnes e de Romainville reinava um estranho silêncio Sozinha ao lado da enxerga vazia de Nora, a frágil cantora polaca Yvonne de Bignolles, a cozinheira de Romainville não conseguia adormecer.
Chorava. . .
Em Fresnes, alquebrado, desesperado, o engenheiro Louis Armand também não conseguia pegar no sono. Aguardava impacientemente o tilintar das colheres nos canos, através dos quais todas as noites se transmitiam as notícias. Mas, naquela noite, as paredes de Fresnes estavam silenciosas. Louis Armand apenas ouvia a voz interior que lhe dizia que ele, como todos os que restavam, seria fuzilado na manhã seguinte.
No lado oposto da prisão, no sector das mulheres, a secretária Geneviève Roberts, que salvara o seu chefe deixando-se prender, ouvia a mesma voz. À hora a que o comboio de Pantin partia, o capelão da cadeia irrompera na sua cela e Itrouxera-lhe a Santa Comunhão. A questão agora, para Geneviève Roberts, já não era saber se seria fuzilada ou não, mas quando o seria. Pela uma hora da manhã ouviu de repente vários ruídos no corredor. Disse para consigo que ia morrer. Uma chave girou na fechadura e a porta abriu-se. Como se fosse uma (trouxa de roupa suja, um guarda atirou com uma mulher para dentro da cela. Era Nora, a pequena cantora tuberculosa de Romainville. Um terrível ataque de tosse tinha-a salvo, no último momento, do comboio de Pantin.
Capitulo vigésimo terceiro
O sargento dos serviços de abastecimento Hermann Plumpfranck, de 43 anos de idade, esvaziou as gavetas da cómoda para dentro das suas duas malas de pasta de cartão prensado e fechou-as cuidadosamente com a ajuda de correias. Plumpfranck esperava que os cinquenta pares de meias de seda que levava consigo lhe servissem de moeda de troca para enfrentar os dias difíceis que, supunha, se aproximavam.
Desceu ao vestíbulo do Hotel Continental onde residira durante aqueles belos e tranquilos quatro anos de ocupação e comunicou ao porteiro que se ia embora. Plumpfranck prometeu no entanto que estaria de volta antes do Natal. Depois, tal como um turista dos bons tempos, dirigiu-se para o quiosque da Praça do Palais-Royal carregado com as suas duas malas, a fim de comprar pela última vez o seu Panzer Zeitung, o quotidiano alemão de Paris. Mas, nessa manhã, a velha lojista abanou a cabeça: ”Pequeno boche - disse-lhe -, acabou-se o Panzer Zeitung. ..” O 221.º e último número saíra na véspera.
Com efeito, durante a noite, toda a redacção retirara para Bruxelas. Ao ver o alemão pegar nas suas malas, uma mulherzinha de cabelos desgrenhados que também comprava o seu jornal exclamou: ”Então, que é isto? Vocês abandonam-nos?...” Era Colette, a escritora, que morava ali perto e encontrara o alemão quase todas as manhãs naquele local, durante quatro anos.
Milhares de burocratas, como o sargento Hermann Plumpfranck, abandonavam efectivamente Paris, nessa manhã de 16 de Agosto de 1944. Na véspera, o general Warlimont informara a O. B. West pelo telefone de que Hitler autorizara a evacuação de Paris por parte de todos os estados-maiores e dos serviços não combatentes, incluindo a Gestapo e o S. D. ’.
As ininterruptas colunas de camiões que os conduziriam para Leste iriam causar os primeiros engarrafamentos de trânsito que as ruas de Paris conheciam desde que rebentara a guerra. Instalados nas esplanadas dos seus cafés, os parisienses, impassíveis, viam partir os invasores. De pé, por detrás das balaustradas dos camiões, as ”ratazanas cinzentas” acenavam com lenços e choravam, enquanto os homens cantavam ”É apenas um até à vista...”, ou gritavam que estariam de volta antes do Natal. Mas o mais extraordinário era o carregamento que acompanhava esta partida. Paris esvaziava-se, em camiões cheios até acima, das suas banheiras, dos seus móveis, dos seus aparelhos de rádio, dos seus tapetes, dos seus caixotes repletos de garrafas de vinho. Na Praça Lamartine, sob os olhares desolados dos habitantes ribeirinhos que tinham começado a regalar-se cedo demais com o festim em perspectiva, os alemães embarcaram no último momento os dois porcos que aqueles criavam. O Mineroeloffizier Walter Neuling, dos serviços de combustíveis, viu, no Hotel Magestic, um oficial desprender os cortinados do seu quarto e metê-los na mala ’ ’para mais tarde - conforme explicou - mandar fazer um fato”. No Hotel Florida, no boulevard Malesherbes, o Obergefreiter Erwin Hesse, dos serviços de fortificações do Oeste, viu o seu chefe, o Oberleutnant Thierling fazer um embrulho de panos e arrancar os fios do telefone para levar com ele o aparelho.
Em muitos locais, os camiões não chegaram para carregar tudo o que certos serviços tinham acumulado durante quatro anos de requisições e pilhagens. Essa penúria de transportes fez com que alguns parisienses fossem contemplados com uma distribuição inesperada de provisões. Na Rua Boursault, no 18.º arrondissement, o pessoal duma garagem ofereceu aos habitantes do bairro milhares de garrafas de aguardente e de vinho. E na Rua da Chaussee-d’Amin, soldados dos serviços de abastecimento atiraram montanhas de manteiga para os braços de donas de casa assustadas e incrédulas.
Mas o que mais frequentemente acontecia era os alemães queimarem tudo o que não podiam levar consigo. A partir da madrugada desse dia 16 de Agosto, o céu de Paris começou a cobrir-se dum fumo negro que o obscurecia por completo, espalhando sobre a cidade as cinzas de toneladas de arquivos e de papéis secretos. O major Max Braubach, chefe da 1.aRepartição do Comando Militar em França, lembra-se de ter mandado queimar nas caldeiras do Palácio Raphael, na Avenida Kléber, ”os arquivos secretos de quatro anos de ocupação em Paris”. Na Rua
1 Os serviços da O. B. West deviam retirar para Metz, os do comandante da Armada do Oeste para Saverne e os da 3-a Força Aérea para Reims.
As ordens respeitantes a esta evacuação precisavam que os recuos estratégicos se efectuariam tão discretamente quanto possível, a fim de evitar o pânico. Os diferentes escalões do próprio comando da O. B. West, instalados em Saint-Germain-en-Laye, e os do Grupo de Exércitos B, instalados em La Roche-Guyon, deviam recolher respectivamente a Verzy, perto de Reims, e a Margival, nas proximidades de Soissons.
Tinham sido dadas as ordens mais rigorosas no que dizia respeito à vigilância sob que se deviam efectuar estas diferentes evacuações. Nenhum homem poderia partir para Leste se não tivesse recebido instruções expressas nesse sentido do serviço de que dependia. Choltitz organizou barragens de polícia militar em todas as saídas de Paris, para filtrar as retiradas. Pôde assim recuperar milhares de soldados dispersos, sobreviventes de unidades destroçadas ou aprisionadas, que foram imediatamente incorporados nos batalhões de alerta.
Boissy-d’Anglas, por detrás das persianas corridas da embaixada americana, a secretária do Tribunal Militar de Paris, Irma Kohlhage, de 26 anos de idade, atirou para as chamas as centenas de processos dos parisienses que o seu chefe, o juiz Dotzel, condenara à morte. Ela recorda-se que lhe foi necessária toda a manhã ”para chegar ao último daqueles malditos papéis”.
Alguns oficiais, no entanto, deixaram Paris como autênticos cavalheiros. Antes de abandonar o luxuoso apartamento requisitado que ocupava na Rua Vítor Hugo, em Neuilly, um coronel S. S. pegou numa folha de papel e começou a escrever uma carta. ”Agradeço ao meu desconhecido anfitrião a sua involuntária hospitalidade. Desejo que saiba que deixo o seu apartamento no estado em que o encontrei. Paguei as contas do gás, da electricidade e do telefone e coloquei no seu lugar, na biblioteca, os três volumes de Voltaire que tive o prazer de ler...” Depois de ter assinado, o coronel tirou da carteira uma nota de cem francos que colocou sob um pisa-papéis ao lado da carta, ”como compensação por dois copos de cristal que infelizmente se tinham partido” ’.
Para alguns homens as ordens de retirada provocaram nesse dia verdadeiros dramas de consciência. Tinha chegado o momento em que o capitão Hans Werner, dos serviços de abastecimentos da Rua Beaujon, deveria escolher entre Antoinette Charpentier, a sua amante, e a Wehrmacht. Preferiu Antoinette - e, pelo meio-dia, vestido à paisana e levando consigo uma pequena mala, trocou discretamente o seu apartamento da Avenida Mozart pelo quarto dum hotel tosco da Rua Henri-Rochefort, onde Antoinette tinha preparado um refúgio para o seu herói conquistador de 1940. Aí ficariam escondidos até que ”tudo voltasse à normalidade”. E então casar-se-iam.
O sargento aviador Willy Schmitz, de Coblença, decidiu igualmente desertar. Fez um embrulho em papel de jornal com o seu
uniforme e o seu revólver e atirou o volume para um esgoto da Rua Jules-David, perto da Porta dos Lilases. Em seguida foi encontrar-se com a sua amiga, a tintureira Marcelle Brasart, no pequeno quarto do Hotel Star onde tinham decidido esconder-se. O feldwebel EugenHommers, o soldado a quem três dias antes os F.F.I, tinham roubado o revólver, decidiu-se finalmente a renunciar à companhia de Annick, a sua jovem companheira. Essa escolha, admitirá ele no entanto, foi sobretudo ditada ”pelo receio de ficar à mercê duma francesa que um dia poderia trair-me.
Mas para muitos alemães que deveriam partir, o simples acaso decidiria nesse dia o seu destino. No momento de subir para o veículo que ia transportá-la para a Alemanha, a secretária de estado-maior Maria Fuhs, de Wiesbaden, lembrou-se de que deixara o seu relógio a arranjar num relojoeiro do boulevard Haussmann. Pediu às suas colegas que esperassem por ela uns minutos. Quando o relojoeiro a viu entrar na loja, esbaforida, exclamou: ”Menina Fuhs, então ainda não partiu?”
Quando Maria Fuhs regressou ao Hotel Continental, o seu carro tinha partido. Desse modo, portanto, continuaria em Paris e seguiria a sorte dos milhares de combatentes que agora se preparavam para a defesa da cidade.
1 É o comandante Richardson, do 9.° Exército Aéreo Americano, quem encontrará esta carta no dia 25 de Agosto ao instalar-se no mesmo apartamento.
2 Eugene Hommens, afinal, não saiu de Paris. Na altura de partir, foi incorporado no Batalhão de Alerta N.° 1 encarregado da defesa do Palácio do Luxemburgo. Será aprisionado no dia 25 de Agosto.
Para trinta e cinco jovens franceses, os soldados do general Von Choltitz seriam nesse dia assassinos.
Na Rua do Doutor Roux, subúrbio de Chelles, um operário comunista de 22 anos esperava um camião. No braço, acima do seu relógio de pulso, que marcava
8 horas da manhã, tinha duas iniciais tatuadas: J. S. Chamava-se Jacques Schlosser.
”Transportes - Mudanças. Seigneur, Chelles.” Quando Jacques viu este letreiro no camião, que parou, precipitou-se para o quarto de seu pai e exclamou: ”Pai, esta noite tomaremos a Maine.” Para o ferroviário Alexandre Schlosser nenhuma promessa podia ser mais bela: era ele quem os resistentes de Chelles tinham designado para ser o primeiro maire da Libertação. Quando o camião desapareceu no fim da rua, Alexandre Schlosser, que tinha vindo à porta, regressou ao seu quarto, sentou-se numa cadeira e ficou à espera.
Em Chelles, em Villemomble, em Draveil, ”Coco, o boxeur”, o motorista do camião parou seguidamente treze vezes para recolher treze camaradas de Jacques Schlosser. E para treze famílias iria também começar um longo dia de expectativa.
A 15 quilómetros de Chelles, no bairro popular da Bastilha, outros rapazes saíam também das suas residências. Escarranchado na sua bicicleta, o estudante de Medicina Michel Huchard, membro do grupo dos Jovens Cristãos Combatentes, voltou-se para trás e fez um gesto largo para Jeanne, a sua velha ama bretã, que assistia à partida da janela da cozinha. Vestia o fato azul que tantas vezes ela passara a ferro. Do joelho para baixo as calças estavam tão usadas e gastas que ela tinha tido de coser uns elásticos, passando pela sola dos pés, para que apresentassem um vago aspecto de vincadas. Não havia coisa no mundo que Jeanne mais detestasse do que aquelas entrevistas misteriosas, a que por vezes ia o seu ”Micki”. Mas nessa manhã ele tinha um ar tão radioso que ela, a velha Jeanne, estava certa de que ”Micki’’ não faltaria à sua promessa: estaria em casa a horas do almoço-surpresa que a ama lhe preparava. Pois, nesse dia, Michel Huchard festejava o seu vigésimo primeiro aniversário.
No quarto andar dum velho prédio da Rua de Capri, uma mãe inquieta via o seu filho partir. O aluno da Escola Dentária, Jean Dudraisil, de 21 anos, anunciara que nesse dia não poderia levar a seu pai, detido no campo Saint-Denis, o habitual presente das quartas-feiras. Tinha de ”cumprir uma missão”. Mas estaria em casa antes do jantar.
A funcionária dos P. T. T. Paulette Restignat desconhecia que o filho pertencia aos Jovens Cristãos Combatentes da paróquia de Saint-Marcel. Nessa manhã, quando ela saiu para o trabalho, Jacques Restignat, de 17 anos, estava ainda na cama. Poucos minutos mais tarde, depois de ter prometido a sua mãe que iria ter com ela, como todos os dias, à Cantina Danton para almoçarem, saltaria também para a sua bicicleta.
De camião ou de bicicleta, trinta e cinco rapazes convergiam, nessa manhã, para a mesma entrevista. Os comunistas e os católicos não se conheciam. Mas todos eles pertenciam às Forças Unidas da Juventude Patriótica. Um certo capitão Serge contactara com os chefes desse poderoso agrupamento em nome do Intelligence Service, ao qual, segundo afirmava, pertencia. O misterioso capitão prometera a esses jovens, ardendo nas chamas do desejo de se baterem, a mercadoria mais rara e a mais cobiçada desse Verão: armas. Para obter essas armas, comunistas, católicos, camponeses, operários, estudantes, trinta e cinco ao todo, dirigiam-se nessa manhã do dia 16 de Agosto para a sua última hora de vida.
Capítulo vigésimo quarto
Como todos os habitantes de Saint-Cloud, a professora liceal Thérèse Jarillon sabia que os 800 metros do túnel que desembocava sob as janelas da sua graciosa vivenda estavam atulhados de explosivos. Mas nessa manhã a velha celibatária da Rua Joseph Lambert estava muito atarefada. Soubera pela sua mulher a dias, a senhora Capitaine, que os alemães se preparavam para fazer saltar o túnel. Se a notícia fosse verdadeira, Thérèse Jarillon sabia que ”O Meu Sonho”, a sua pequena moradia, e como ela centenas de outras habitações construídas sobre a colina de Saint-Cloud, desapareceria na explosão.
Decidiu portanto embrulhar cada peça da sua louça em jornais velhos e escondeu-as debaixo da cama. Depois, com a ajuda da senhora Capitaine, deitou sobre o soalho o seu grande armário da Bretanha, abriu as janelas, cortou a água, o gás e a electricidade e fugiu de casa a correr.
Baptizado com o nome ”Pilz” (cogumelo) pelos alemães, o túnel cuja explosão Thérèse Jarillon receava era, na realidade, uma fábrica de torpedos. Fora aí que, até fins de 1943, tinha sido fabricado a maior parte dos torpedos dos submarinos alemães da Mancha e do Atlântico. Quando a guerra submarina diminuiu de intensidade, por falta de submarinos, a produção da ”Pilz” não deixou por isso de manter o mesmo ritmo. Os torpedos foram armazenados em câmaras especiais ao lado dos dormitórios onde os alemães empilhavam os prisioneiros, que constituíam a mão-de-obra da fábrica. Perto de mil pessoas viviam nesse universo subterrâneo, verdadeiro campo de concentração guardado pela Kriegsmarine.
”Pilz’’ era uma das mais bem protegidas instalações alemãs de Paris.
Ninguém lhe tinha acesso sem um livre-trânsito especial, e as sentinelas tinham ordem para disparar à vista sobre qualquer civil que se aproximasse a menos de 50 metros dos arames farpados e dos blockaus das defesas exteriores. Era invulnerável a qualquer bombardeamento. Só havia uma maneira de a destruir: fazendo-a explodir do interior.
Era precisamente o que a Kriegsmarine se preparava para fazer quando o capitão Ebernach, chefe dos sapadores de demolição da 813.a Pionierkompanie, lá chegou. Munido dum livre-trânsito especial assinado pelo próprio general Von Choltitz, fez-se conduzir ao interior da edificação para fazer um inventário dos explosivos em depósito, visando as destruições de que tinha sido encarregado. O que então descobriu sob a abóbada interminável da ”Pilz” causou-lhe vertigens. Alinhados ao lado uns dos outros, em caixas, havia 300 torpedos carregados e prontos a serem expedidos. Várias centenas de ogivas e caixotes cheios de detonadores esperavam a vez de serem montados simultaneamente noutros projécteis. No extremo do túnel, cuidadosamente alinhadas, cintilavam cerca de cem barricas repletas de T. N. T.’.
”Donnerwetter!”, murmurou Ebernach com uma espécie de respeito. Depois, voltando-se para o Obergefreiter Hegger, cujos olhos desmedidamente abertos contemplavam os tesouros dessa caverna de AliBabá, comentou: ’’ Com todos estes explosivos que aqui se encontram poder-se-ia fazer saltar metade das pontes do Mundo!”
O capitão Werner Ebernach dirigiu-se então ao Kapitãnleutnant da Kriegsmarine que o acompanhava, e disse-lhe secamente:
”Requisito tudo o que se encontra neste túnel, em nome do general-comandante do Gross Paris.’1’’
Capítulo vigésimo quinto
O Sol erguia-se entre as altas torres medievais da catedral de Saint-Étienne, nessa madrugada do dia 16 de Agosto, quando Marie-Hélène Lefaucheux chegou à cidade de Meaux, construída sobre um dos meandros do Marne, a 44 quilómetros de Paris. Sobre a sua velha Alcyon sem mudanças de velocidade, Marie-Hélène saíra de Paris antes do fim do recolher obrigatório para alcançar o vagão de gado que transportava, para Leste, para a Alemanha, o seu marido. Mas até àquele momento, em cada estação onde parara ela recebera invariavelmente a mesma resposta: o comboio passara por ali duas horas antes.
No mesmo momento em que Marie-Hélène chegava a Meaux, a 20 quilómetros dali Pierre e os seus 2452 companheiros de infortúnio lutavam desesperadamente contra a asfixia no inferno dum túnel onde o comboio se imobilizara duas horas antes. O S.O.S. das F.F.I, de Paris fora recebido a tempo. À saída do túnel de Nanteuil-Saacy a via férrea saltara, numa extensão de 75 metros, duas horas antes de o comboio passar.
Para proteger a composição contra um ataque ”terrorista”, os guardas S.S. fizeram-na recuar para o interior do túnel. Quando correu o boato de que a Resistência sabotara a via férrea, espalhara-se pelos vagões uma vaga de explosiva alegria e esperança. Mas agora, passadas duas horas, os 2453 prisioneiros já nada esperavam. Meio asfixiados pelos densos rolos de fumo negro que a locomotiva expelia, lutavam por sobreviver. No vagão de Yvonne Pagniez, onde cada vez havia menos ar, ”ouvia-se a respiração breve e arfante dos peitos oprimidos, os gritos lancinantes das mulheres cujos nervos tinham sido esmagados, os soluços daquelas que vomitavam na escuridão”. Em muitos vagões, o pânico apoderara-se dos prisioneiros. ”Era uma sensação mais forte do que as nossas vontades
1 Um primo afastado de Choltitz, o engenheiro Joachim von Knesebeck que, durante a guerra, dirigia a filial parisiense da Siemens, visitava com frequência o interior da ’ ’Pilz’’, cuja totalidade das instalações eléctricas executara. No decorrer duma entrevista em Nova Iorque, em Dezembro de 1963, explicou aos autores deste livro que o espanto do capitão Ebernach quando visitou o túnel era perfeitamente compreensível. Segundo este engenheiro, em Agosto de 1944 havia no túnel de Saint-Cloud ”torpedos suficientes para pelo menos duas guerras’’.
- recorda Yvonne Pagniez -, sentir, naquele negro opaco, a morte dos enterrados vivos sufocar-nos nos nossos próprios túmulos.” No vagão de Jeannie Rousseau, as mulheres estavam persuadidas de que os alemães tentavam matá-las por asfixia. Ouviam o martelar das botas deles no solo, ao longo da via, e as suas vozes roucas, abafadas pelas máscaras antigas que traziam.
E, no entanto, cada segundo de pesadelo que passava aproximava os presos da liberdade. Escondidos ao longo do talude que marginava a via, cinco homens estavam de atalaia. Eles próprios tinham colocado junto aos carris os explosivos que haviam cortado a linha. E agora esperavam a chegada dos reforços com os quais iriam atacar o comboio. Do seu esconderijo, tinham podido observar o vaivém dos soldados da escolta. Tinham contado mais de duzentos homens. Para ”Gaston’’, o professor de instrução primária que nesse Verão comandava os F. F. I. do sector, só um ataque de surpresa poderia impedir os S. S. de massacrarem os prisioneiros que eles queriam salvar.
”Gaston” tinha ganho a primeira partida. Ele sabia que, nesse instante, sós ou em pequenos grupos, civis armados convergiam para o túnel vindos de todo o vale do Marne. E, de qualquer forma, o tempo estava com ele: seriam precisos dois dias aos alemães para reparar a linha férrea e restabelecer a circulação.
Mas ”Gaston’’ enganava-se. Por um acaso sinistro os alemães tinham descoberto, a menos de 5 quilómetros para lá do túnel, na estação de Nanteuil-Saacy, outro comboio de gado prestes a largar para a Alemanha com o seu carregamento. Nada mais fácil do que substituir os animais pelos prisioneiros.
Os alemães fizeram então o comboio sair do túnel. Na estrada que passava a uns 50 metros de distância surgiu um vulto sobre uma bicicleta: arfante, exausta, Marie-Hélène Lefaucheux alcançava finalmente o transporte.
Entre os espectros magros e negros que desceram do terceiro vagão estava Pierre, o seu marido. E nada no Mundo, nem mesmo as pistolas-metralhadoras dos S.S., impediria nesse momento Marie-Hélène de falar com ele. Conduzindo a bicicleta à mão, atirou-se como uma louca através do campo coberto de papoilas que os separava, escalou o talude, empurrou dois soldados e precipitou-se para o terceiro vagão. Quando chegou em frente de Pierre, fez o primeiro gesto que lhe passou pela cabeça. Tirou um lenço branco da algibeira e colocou-o sobre a cara coberta de suor e de fuligem do marido.
Por um privilégio que ela jamais poderia explicar, os guardas autorizaram a jovem esposa a acompanhar a coluna durante todo o tempo do transbordo. Segurando com uma das mãos a bicicleta e
apertando com a outra os dedos descarnados do marido, ela começou a seguir o calvário de Pierre e dos seus companheiros de infortúnio. Uma de todas as frases que trocaram no decorrer daquelas cruéis duas horas que durou o transbordo ficaria para sempre gravada na memória de Marie-Hélène. Ela era a prova de que as torturas da Gestapo não tinham conseguido quebrar a alma desse homem. No momento em que os S. S. os separaram, Pierre esboçou um sorriso e murmurou numa voz tranquila: ”Depois desta viagem, Marie-Hélène, prometo-te que nunca mais discutirei o preço das passagens nas carruagens-cama!”
Havia outra mulher que teria, ela também, pedalado ’’ até ao fim do mundo’’ unicamente para ter a alegria de trocar algumas palavras com o seu marido. Este encontrava-se vinte e cinco fileiras à frente da senhora de Renty, na mesma coluna de prisioneiros que ela. Os dois tinham sido detidos ao mesmo tempo por terem escondido aviadores aliados. E ambos faziam agora parte do último comboio de Pantin.
Duma colina que dominava o vale, os cinco membros da Resistência viram, desesperados, o comboio afastar-se lentamente em direcção a Chateau-Thierry e Nancy. Os alemães tinham ganho. Chegariam tarde demais os reforços que ”Gaston” esperava. Agora pouca esperança restava de poderem arrancar os
2453 prisioneiros à sorte que os esperava. Seria, para a Resistência francesa, uma cruel derrota.
Na estrada que seguia ao longo da via férrea, para lá da vila de Nanteuil-Saacy, um vulto branco, curvado sobre o guiador da sua bicicleta, rolava ao lado dos vagões de madeira. Marie-Hélène Lefaucheux continuava, ela também, a sua viagem.
Capítulo vigésimo sexto
O alferes Ernst von Bressensdorf, de 27 anos de idade, da 550.a Companhia de Transmissões, teve um sobressalto ao ver a pequena lâmpada vermelha acender-se. Essa luz fraca significava que Berlim, ou Rastenburgo, estava a chamar, na linha directa ultra-secreta do governador militar de Paris. A linha passava pela central telefónica instalada num dos quartos do terceiro andar do Hotel Meurice. Trinta telefonistas e vários oficiais subalternos revezavam-se vinte e quatro horas por dia nos diversos P. P. C. A. da Central. Ernst von Bressensdorf, apesar de muito novo, era o chefe daquele importante serviço. Tinha uma prerrogativa, entre outras, de que muito se orgulhava: ele era a única pessoa autorizada a manipular a linha directa com Berlim. Privilégio esse que quase o faria ser julgado em conselho de guerra, pois quatro dias antes, em 12 de Agosto, pegara no aparelho e pedira à telefonista de Berlim que o pusesse em comunicação com os seus pais, em Leipzig. Estes tinham-lhe dado uma grande notícia: a sua mulher dera à luz uma rapariga.
Nessa manhã foi uma voz diferente que ele ouviu, ao levantar o auscultador. A voz seca e precisa do coronel-general Jodl estava na outra extremidade da linha ”tão clara como se falasse do Louvre ou dos Inválidos”. Bressensdorf fez a ligação da chamada para o gabinete de Von Choltitz. Em seguida, introduzindo outra ficha no quadro, pôs-se a escutar a conversação.
Às primeiras palavras que Jodl pronunciou, o jovem alferes estremeceu. Em que estado de adiantamento, perguntou aquele, se encontravam as destruições ordenadas? O chefe do estado-maior da O. K. W. continuou: Hitler reclamara um relatório minucioso para ser examinado na conferência estratégica da tarde. Bressensdorf recorda que se fez um longo silêncio na linha. Depois Choltitz respondeu que infelizmente ainda não se tinha podido dar início às destruições, dado que os especialistas em demolições só na véspera tinham chegado. Assegurou, no entanto, que os preparativos seriam rapidamente concluídos. ”Jodl -lembra Bressensdorf - , pareceu extremamente
desiludido.” Disse que Hitler estava ”muito impaciente”. O governador de Paris aproveitou então a oportunidade para repetir a Jodl o que na véspera dissera a Blumentritt e ao marechal Von Kluge. Qualquer destruição a efectuar em Paris, naquele momento, teria por consequência, segundo ele, desencadear o que mais receava: ”a cólera desenfreada dos Parisienses e uma insurreição geral.” Propunha, portanto, que as destruições fossem retardadas alguns dias. Jodl respondeu que transmitiria essas sugestões ao Fúhrer, mas que não era de esperar que este alterasse o que havia decidido. Voltaria a telefonar-lhe mais tarde, para lhe comunicar a resposta de Hitler. A breve conversa terminou, diz ainda o jovem alferes, com uma frase optimista, em que Choltitz afirmava ao chefe da O.K. W. que dominava perfeitamente a situação e que ”os Parisienses ainda não tinham ousado mexer-se”.
A chuva que começara a cair sobre Paris depois do meio-dia varria os campos de ténis com tamanha fúria que o ’ ’tio’’ Martin, porteiro do estádio Jean Bouin, não esperava ver chegar qualquer cliente nessa tarde. Mas estava enganado. Às 3 horas, quando a trovoada era mais violenta, ouviu bater à porta. No quadro de claridade que se fez quando a abriu, viu então aparecer, de raquette numa das mãos e um frango na outra, um dos seus melhores clientes. Extenuado, encharcado pela chuva, Jacques Chaban-Delmas deixou-se cair numa cadeira.
”Donde vem?”, perguntou surpreendido o ”tio” Martin.
”De Versalhes, por causa deste maldito frango’’, respondeu Chaban-Delmas mostrando a ave.
Em Argel, ao calor tórrido dessa mesma tarde, o extenso relatório acerca da situação em Paris que Chaban-Delmas enviara de Londres acabava de provocar uma decisão: Charles de Gaulle anunciou que ia partir para França. Mas, antes de o fazer, o chefe da França Livre seria obrigado a preencher uma formalidade infinitamente dolorosa: pedir autorização aos Aliados para se deslocar ao seu próprio país. Sob a grande, lenta e velha ventoinha do seu gabinete do Palácio de Verão, De Gaulle convocou o general Sir Henry Maitland Wilson, que representava o comando aliado em Argel. Informou a este amável oficial que desejava realizar uma simples inspecção na parte da França que os Aliados já haviam libertado.
Mas, na realidade, os projectos de Charles de Gaulle iam além da ligeira inspecção que mencionava. De Gaulle preparava-se para deslocar em definitivo a sua própria pessoa, e depois o seu governo, para território francês, em especial para Paris. Quisessem ou não os Aliados, fosse a sua autoridade reconhecida ou não por Roosevelt, o chefe da França Livre estava agora firmemente decidido a instalar-se em França. E se propositadamente omitia dar a conhecer as suas intenções ao comando aliado, duas razões havia para isso. Primeiro, De Gaulle era da opinião de que
as suas decisões não diziam respeito aos Aliados. Depois, estava convencido de que estes agiriam de maneira a que ele não pudesse sair de Argel, se soubessem o que pretendia fazer.
Dias antes De Gaulle tivera conhecimento da manobra desesperada que Pierre Laval tentava para lhe barrar o caminho. Lavai tinha ido buscar Édouard Herriot, o presidente da Câmara dos Deputados, à clínica onde este se encontrava detido pelos alemães, e tinha-o levado para Paris. Porque o que Lavai pretendia era conseguir que Herriot convocasse a extinta Câmara e a constituição de um governo que receberia os Aliados. De Gaulle considerava que esta conspiração de última hora não tinha qualquer probabilidade de êxito. Mas a sua convicção de que a intriga tinha o apoio dos americanos era, para o chefe da França Livre, uma forte razão suplementar para ele querer chegar a Paris o mais depressa possível’.
No seu confortável atrelado do P.C. avançado de Shellburst, donde conduzia as operações, o general Eisenhower ostentava nesse dia um sorriso de satisfação. Os oficiais do seu estado-maior traziam-lhe de hora a hora os relatórios acerca do desenvolvimento dos combates na bolsa de Falaise. E de hora a hora Eisenhower via aumentar a lista das unidades alemãs capturadas na armadilha. Podia desde já pensar na operação seguinte: a avançada sobre o Sena e para a Alemanha. Não estava de qualquer modo preocupado com a situação em Paris. Ninguém tivera o cuidado de avisar o comandante-chefe de que uma revolta estava prestes a estalar na capital. Por uma inexplicável razão, o S. O. S. lançado por Chaban-Delmas não tinha sido transmitido ao único homem responsável pela estratégia aliada.
A 60 quilómetros ao sul de Paris, perto da vila dos tectos de ardósia, Tousson, uma luz brilhou naquela noite de Agosto. A 600 metros para leste acendeu-se outra luz, depois uma terceira, à mesma distância mas para o sul. Espalhados em redor do vasto planalto coberto de palha e colmo, escondidos entre os maciços de cana ou nos altos arbustos dos flancos, cinquenta homens armados observavam o brilhar intermitente - duas piscadelas longas e uma curta - das três luzes.
Esses homens pertenciam ao ”comando” dirigido por um robusto jovem de 30 anos, vestindo um blusão de aviador e calças de ski. Este fazia-se chamar Fabri. Na realidade o seu nome era Paul Delouvrier e era inspector de finanças.
Nas suas ”Memórias” (Volume II, A Unidade, pág. 290), De Gaulle escreve: ”Lavai pode achar, no princípio do mês de Agosto, que vai obter os apoios que considera indispensáveis. Pelo senhor Enfière, amigo do senhor Herriot, utilizado pelos Americanos para os seus contactos com o presidente da Câmara, e que está em ligação com os serviços do senhor Allen Dulles, em Berna, toma conhecimento de que Washington veria com bons olhos um projecto que tende a manietar ou a arredar De Gaulle.’’
Membros dos círculos nesse tempo mais chegados ao general De Gaulle estão hoje convencidos de que os Estados Unidos, por intermédio de Dulles, tinham garantido a Lavai o seu apoio.
Em Washington, em Dezembro de 1963, durante uma conversa havida com os autores deste livro, e mais tarde numa carta datada de 20 de Janeiro de 1964, o Sr. Dulles desmentiu formalmente as acusações formuladas pelo general De Gaulle. ”Posso assegurar-vos - declarou-nos ele-que jamais participei em qualquer manobra tendente a afastar De Gaulle. Pelo contrário, avisei constantemente Washington de que De Gaulle era a única autoridade que, de facto, a Resistência Francesa respeitava. É possível que,
atendendo à antipatia que manifestavam por De Gaulle - acrescentou o senhor Dulles-, tanto Roosevelt como Cordel Hull não participassem deste ponto de vista.” Dulles reconheceu, contudo, que entrara em contacto com Edouard Herriot na Primavera de
1944, por ordem de Roosevelt. Não se recordava do nome do intermediário que servira para estabelecer essa aproximação, mas é muito provável que tivesse sido o Sr. André Enfière.
Fabri instalara o seu P.C. - uma tenda, duas mesas e um posto de rádio alimentado por uma bateria de automóvel - no meio do tojo quase impenetrável dos bosques vizinhos de Darvaux. Aí, camuflados sob camadas de vegetação, encontravam-se também dois automóveis com as cores da Wehrmacht, de que l-abri e os seus homens se tinham apoderado durante uma surtida.
Era uma tropa extravagante. Incluía doze guardas republicanos que haviam desertado por se terem recusado a fuzilar membros da Resistência na prisão da Santé, um pintor evadido da prisão de Amiens e alguns componentes da escola de quadros de Uriage. Contava ainda com ex-milicianos de Darnand e até com um antigo sargento da L. V. F., condecorado com a Cruz de Ferro de 1.a classe.
Abastecidos de víveres pelos camponeses, fornecidos de armas e munições pelo salsicheiro-carniceiro de Nemours o ”comando” Fabri levava, nas profundezas das florestas de Fontainebleau e de Nemours uma vida espartana e militar. O que constituía o orgulho do seu chefe. Acontecia que a missão de que fora incumbido era tão extraordinária que apenas homens bem treinados e totalmente disciplinados poderiam executá-la quando o momento oportuno chegasse.
Desde Maio que o ”comando” Fabri vinha repetindo inúmeras vezes o exercício daquela noite de Agosto, o qual consistia em permitir a aterragem de um avião. Esse avião, os homens já o sabiam, transportaria uma importante personagem que eles deveriam conduzir a Paris num dos automóveis apreendidos à Wehrmacht.
Paul Delouvrier estava bem satisfeito nessa noite de 16 para 17 de Agosto: os seus homens encontravam-se perfeitamente rodados. Pouco antes, nessa mesma noite, tinha chegado de Paris onde se avistara com o seu chefe regressado no próprio dia de Londres. Ajoelhado na obscuridade cúmplice da igreja de Saint-Sulpice, Jacques Chaban-Delmas fizera saber a Paul Delouvrier que este deveria considerar-se, a partir daquele momento, em permanente estado de alerta.
Terminado o exercício, Paul Delouvrier reuniu os seus adjuntos sob a tenda do seu P.C. e repetiu-lhes as palavras de Chaban-Delmas. A mensagem que teriam de captar nas ondas da B.B.C, era uma frase de três palavras. Seis horas depois de terem escutado a pergunta: ”Almoçaste bem, Jacquot?”, um Lysander surgiria sobre o planalto de Tousson, a fim de aterrar. o automóvel deveria estar pronto a receber o passageiro e a transportá-lo imediatamente, sob protecção armada, ao destino que ele indicaria, em Paris. Teriam de prever-se itinerários de recurso, para o caso de o inimigo se manifestar. ”Senhores, posso agora revelar-vos a identidade da pessoa que virá a bordo do avião - declarou Paul Delouvrier. - É o próprio general De Gaulle.”
1 Além do planalto de Tousson, tinham sido escolhidos outros terrenos, prevendo uma emergência na aterragem clandestina do general De Gaulle. A localização desses campos estava marcada num mapa à escala 1/20000 do Instituto Geográfico Nacional, que a romancista Constance Coline transportava escondido na bomba da sua bicicleta. Esses mapas, desviados para a rede de Chaban-Delmas, eram posteriormente feitos seguir, por este, para Londres.
Capítulo vigésimo sétimo
Como todas as manhãs à mesma hora, um homem, com a cabeça coberta por um chapéu preto, passou em frente das duas sentinelas e avançou num passo firme sob a abóbada que encimava a cúpula de oito faces do Palácio do Luxemburgo.
UIMarcel Macary era o único francês que os alemães deixavam penetrar quotidianamente no seio desse palácio que eles ocupavam desde 25 de Julho de 1940 Na véspera, o gordo marechal Sperrle, o seu estado-maior e os serviços da 3.d Força Aérea tinham partido para Reims. Durante a noite outros alemães, estes combatentes, tinham tomado o seu lugar. Mas a história quatro vezes centenária do palácio não iria conservar a recordação desse breve capítulo da ocupação nazi. Marcel Macary sabia que Paris seria muito em breve libertada. Dentro de alguns dias, iria, segundo esperava, entregar à República as chaves desse monumento intacto, que defendera mais encarniçadamente do que uma propriedade sua. Marcel Macary era o conservador do Palácio do Luxemburgo. De cada vez que uma bota alemã esmagara, numa escadaria ou num corredor, a ponta acesa dum cigarro, ele sofrera uma machadada na própria carne.
Havia quatro anos que os seus dias começavam invariavelmente por uma volta de inspecção aos tesouros contidos no seu palácio. Era sempre o mesmo o itinerário dessa volta. Primeiro penetrou na biblioteca, no andar nobre, onde trezentos mil livros, alguns dos quais manuscritos muito antigos e edições originais de obras raras, estavam protegidos por um tapume de dois metros de altura, instalado em 1941. Em seguida contemplou com uma espécie de beatitude o quadro que tão difícil lhe fora arrancar à cobiça dum coleccionador célebre chamado Hermann Goering: Alexandre guardando os poemas de Homero num cofre de ouro de Dario, após a sua vitória de Arbelles, de Eugene Delacroix. O conservador atravessou depois o ”Gabinete Dourado” onde Maria de Médicis dava as suas audiências. Seguidamente entrou no grande salão de recepções com lambris em ouro que os alemães tinham transformado em refeitório. Do alto duma tela imensa, Napoleão, em Austerlitz, contemplava com ar desdenhoso os usurpadores desse palácio que ele próprio habitara na companhia de Josefina.
Marcel Macary decidiu atravessar o pátio principal, antes de terminar a sua ronda, a fim de verificar o estado de adiantamento dos trabalhos do terceiro abrigo que os alemães estavam em vias de concluir no subsolo do palácio ’. Mas nessa manhã o pátio de honra era uma verdadeira terra de ninguém e os seus acessos estavam guardados por soldados. Antes de
ser coagido a afastar-se, empurrado pelo cano duma pistola-metralhadora, Marcel Macary teve ainda tempo de ver um espectáculo que nunca mais esqueceria. Duma dúzia de camiões estacionados no vasto pátio, homens da organização Todt descarregavam caixas sucessivas que imediatamente transportavam para os baixos do palácio. O conservador lembra-se
1 Os alemães já tinham construído um abrigo em Julho de 1943, sob os jardins. Compunha-se de nove salas equipadas com sistemas de ventilação autónomos e possuindo todo o material necessário a uma estada prolongada no subsolo. Este abrigo, bem como o que o próprio Macary construíra em 1936 para o Presidente do Senado, estava ligado a uma antiga rede de subterrâneos fora de uso, que iam desembocar a 2 quilómetros para lá da porta de Orleães, na encruzilhada da Vache Noire.
de que, em cada caixa, havia uma caveira pintada e duas palavras em letras pretas: AchtungEcrasit. Outros homens desenrolavam longos tubos equipados com perfuradoras automáticas, empoleirados em cima de compressores arrumados ao lado dos camiões.
Marcel compreendeu então porque os alemães lhe tinham impedido o acesso ao pátio de honra. Estavam a minar o palácio, esse mesmo palácio que ele tinha protegido durante mil quatrocentos e cinquenta e três dias contra todos os ultrajes dos ocupantes. Desesperado, Macary perguntou de si para si o que poderia ele fazer para impedir semelhante desastre. Teve então uma ideia. Havia um homem, pensou, que poderia talvez salvar o palácio da destruição. Um simples electricista. Chamava-se Francois Dalby.
De resto, nessa manhã, idênticas operações de destruição estavam a ser preparadas, ao abrigo dos olhares indiscretos, em inúmeros locais de Paris. Por detrás das doze colunas do Palácio Bourbon, no pátio de honra da Câmara dos Deputados, o Obergefreiter berlinense Otto Dunst e alguns homens da 813.a Pionierkompanie vigiavam o vaivém dos camiões de explosivos. Otto Dunst tinha ordem para utilizar uma tonelada de explosivos a fim de minar um lado completo da Praça da Concórdia, o Palácio Bourbon, o Palácio da Presidência e. o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Noutro lado de Paris, na fábrica Panhard da Avenida de Ivry, onde se fabricavam as peças para as V2 o Feldwebel Walter Hoffman, de 41 anos, membro da 511.a Zugwachabsteilung, recebera uma ordem do seu chefe, o major Steen. Essa ordem dizia respeito a dois camiões que haviam de chegar e que transportariam o trinitrotolueno necessário à destruição de todas as instalações. Esses explosivos, insistira o major Steen, deveriam ser introduzidos na fábrica ”sem chamar a atenção dos operários franceses”.
No n.º ]fe da Avenida de Suresnes, o telefone tocou cerca das 10 horas da manhã no escritório do engenheiro Joachim von Kneesebeck, director da Siemens em França. A chamada era do Hotel Meurice. Na outra extremidade da linha, uma voz desconhecida ordenou a Von Kneesebeck que fizesse explodir todas as máquinas da fábrica Schneider-Westinghouse, em Fontainebleau.
A dois passos dos matadouros de Vaugirard, na Rua Saint-Amand, os Oberleutnants Von Berlipsch e Daub e os Feldwebels Bernhardt Blache e Max Scheider, do 112.° Regimento de Transmissões, punham em prática as lições do ’ ’curso especial de demolições” que tinham frequentado nos dias que se seguiram ao desembarque aliado. Metodicamente, iam repartindo 1000 quilos de dinamite e 200 cápsulas explosivas pelos três andares subterrâneos da Central, onde 232 telescritores recebiam e expediam dia e noite o tráfego normal e em cifra da frente Oeste, desde a Noruega à fronteira espanhola.
A ordem de largar fogo seria dada pelo Spengkommando de Von Berlipsch, dum automóvel estacionado na Rua de Alleray. Nessa altura o Oberleutnant Daud e os seus homens fariam explodir a central telefónica dos Inválidos, incendiando as 25 cargas explosivas que tinham fixado a garrafas de oxigénio comprimido a 180 atmosferas.
Assim, por toda a cidade de Paris, os demolidores do III Reich desenvolviam uma actividade febril.
Pelo meio-dia, o ascensor em forma de liteira do Hotel Meurice depositou o comandante do Gross Paris no quarto andar do edifício. A Choltitz depararam-se-Ihe os quatro peritos em demolições enviados por Berlim em pleno trabalho. Durante a manhã tinham visitado cinco grandes fábricas da região parisiense, nomeadamente a Renault e a Blériot, a fim de determinarem a localização futura das cargas explosivas. Esses pontos onde as cargas seriam colocadas estavam assinalados em cada plano por pequenos pontos encarnados. ”Havia um mar de pontos vermelhos para cada fábrica”, recorda Choltitz.
Quando o governador de Paris regressou ao seu gabinete, o chefe do seu estado-maior, o impassível coronel Von Unger, entregou-lhe um despacho da O. B. West. Trazia a assinatura do marechal Von Kluge. Ao alto, do lado esquerdo, havia as indicações ”ultra-secreto” e ”urgentíssimo”. A atenção do general prendeu-se a duas linhas, no final do quarto parágrafo desse despacho n.º 6232/44, as quais diziam: ”Ordeno que se executem as neutralizações e as destruições previstas para Paris.”
Dois homens corriam pelo longo corredor, coberto de papéis e de desperdícios, em busca duma assinatura. Mas nesse dia parecia já não haver alguém nos gabinetes do Hotel Magestic para a fazer. Os serviços do governo militar da França ocupada, o Militarbefelshaber in Frankreich, tinham abandonado Paris horas antes. Raoul Nordling e Bobby Bender chegavam tarde demais.
E no entanto tinham estado convencidos de que lhes seria finalmente possível arrancar ao massacre geral que receavam, os 3893 prisioneiros políticos que ainda se encontravam nas prisões parisienses ’. Trinta minutos antes o general Von Choltitz comunicara-lhes que estava disposto a libertar os presos, com a condição ”de estar protegido pela assinatura dum oficial do Militarbefelshaber in Frankreich”. Havia quatro dias que eles mexiam céu e terra e finalmente tinham recebido um encorajamento.
Nordling e Bender tiveram um sobressalto. Um bater metálico acabava de ressoar pelo corredor. Fora o major Huhm, chefe de estado-maior, que com um gesto de raiva fechara a última gaveta da sua secretária, cujos derradeiros papéis destruíra pelo fogo, momentos antes, na lareira do gabinete. No imenso hotel, agora deserto, Huhm era o único oficial que ainda aí se encontrava. Dentro de poucos minutos montaria na sua B. M. W. e por sua vez partiria para Leste.
Bender e Nordling precipitaram-se para ele. Huhm ouviu impassível as explicações do cônsul da Suécia. Em seguida respondeu que, na ausência do seu superior, o general Kitzinger, ele não poderia tomar semelhante responsabilidade. Raoul Nordling jogou então a sua derradeira carta. Participou ao oficial alemão que se encontrava em posição de obter a liberdade de cinco soldados alemães por cada prisioneiro francês que lhe fosse entregue. Huhm pareceu hesitar. Perguntou ao cônsul que garantia podia ele apresentar de que as condições
1 Os prisioneiros detidos nas prisões parisienses repartiam-se da seguinte forma: 532 emFresnes; 57emRomainville; 1532emDrancy; 1772 em Compiègne.
dessa troca seriam respeitadas. Nordling respondeu que recebera das mais altas autoridades aliadas a devida autorização para fazer semelhante proposta ’.
Ao ouvir esta proposta, diz Raoul Nordling, o alemão pareceu ceder. Com uma voz seca anunciou que aceitava estudar um projecto de troca de prisioneiros. Mas este, exigiu, deveria constituir o objecto dum acto jurídico formal, devidamente redigido por um jurisconsulto.
Huhm olhou para o relógio. Era meio-dia. ’’ Senhor Cônsul - declarou ele -, às 13 horas em ponto partirei.”
Nordling lançou-se através de Paris à procura de um advogado.
Com mão hesitante Joseph Huhm subscreveu finalmente, em nome do Militàrbefelshaber in Frankreich, um texto de doze parágrafos, no qual ordenava às autoridades penitenciárias alemãs de cinco prisões, três campos de concentração e três hospitais que entregassem todos os seus prisioneiros ao cônsul da Suécia. Raoul Nordling tirou o relógio da algibeira do colete. No momento em que a caneta do alemão riscava no papel a última rubrica faltavam 3 minutos para as 13 horas.
Dietrich von Choltitz mandou buscar um plano de Paris. Apoiando a sua pesada mão sobre a folha de cartolina, dirigiu-se então ao visitante: ”Suponha
- disse - que disparam um tiro sobre um dos meus soldados de um edifício situado, por exemplo, do lado ímpar da Avenida da Ópera, entre a Rua Gomboust e a Rua das Pirâmides. Nesse caso mandarei incendiar os imóveis desse quarteirão e fuzilar os seus habitantes.”
Para executar este género de missão possuía, garantiu, os meios mais que necessários. Os seus efectivos contavam nomeadamente com ”22000 homens, na sua maioria S.S., uma centena de tanques Tigre e 90 aviões de bombardeamento” 2.
O presidente do Município de Paris não pôde deixar de estremecer. Um telefonema desesperado decidira-o a pedir aquela audiência ao governador de Paris. Do lado de lá do fio uma voz anónima tinha-o avisado de ’ ’que os alemães começavam a evacuação dos edifícios situados nas proximidades das pontes de Paris”. E naquele momento o oficial de monóculo que tinha na sua frente participava-lhe, numa voz tranquila, que estava resolvido, caso os seus propósitos não pudessem ir para diante, a destruir a cidade bairro por bairro.
O dedo indicador do general pôs-se a errar, ameaçador, ao longo dos meandros do Sena. ”O senhor é um oficial, sr. Taittinger - continuou ele sem parar o passeio do dedo sobre o mapa -, e compreenderá, por conseguinte os
1 Raoul Nordling declarou aos autores deste livro que, evidentemente, jamais tivera a intenção de fazer libertar qualquer soldado alemão. O seu único objectivo era conseguir, fosse por que meio fosse, a assinatura do major Huhm que Choltitz impunha como condição para libertar os presos políticos.
2 Ao contrário do que escreveu após a guerra, Choltitz não divagava quando indicou estes números ao seu interlocutor. Segundo os quadros da 2.a D.B., os Alemães tinham em Paris, em 25 de Agosto, 16000 homens, 19 carros de assalto Mark V-VI, 59 carros MarkIII-IV, 6 peças de artilharia, 23 canhões de 105 e de 150, 35 canhões de 75 e de 88. Por outro lado, na noite de 26 para 27 de Agosto, cinquenta aviões alemães descolaram de aeródromos da região parisiense para bombardear Paris.
motivos por que sou obrigado a tomar certas medidas em Paris.’’ Choltitz retirou bruscamente o monóculo e ergueu a cabeça. Fixando com um olhar frio os olhos do francês, enumerou com uma voz irritada e brusca, algumas das medidas que tencionava adoptar. A destruição das pontes da cidade, por um lado, a das centrais eléctricas e das vias férreas, por outro, figuravam em especial no seu programa.
Petrificado no rebordo da sua cadeira, Taittinger disse para consigo que aquele general alemão ”estava pronto a destruir Paris como se fosse uma vitória qualquer da Ucrânia”. Perante esta ameaça, o maire de Paris não acalentava qualquer ilusão quanto à ineficácia da sua própria autoridade. Quando muito poderia se a ocasião se apresentasse, tentar transmitir àquele militar desprovido de imaginação uma parcela do amor e da dedicação que tinha por Paris. O acaso quis, nessa manhã de Agosto, que de facto essa ocasião surgisse. Choltitz, que as suas próprias palavras tinham visivelmente irritado, foi de repente sacudido por um violento ataque de tosse ’.
Meio sufocado, levantou-se e arrastou o seu visitante para a varanda. Aí, enquanto o general alemão recuperava o fôlego, Pierre Taittinger iria encontrar, na admirável perspectiva que se estendia na sua frente, os argumentos que buscava. Na Rua de Rivoli, soprado pela brisa, o ligeiro e florido vestido duma parisiense pintava no asfalto uma corola multicor. Mais adiante, debruçados sobre os baixos parapeitos dos lagos das Tulherias, as crianças empurravam para o largo os seus pequenos veleiros brancos. Do outro lado do Sena, brilhando ao sol do meio-dia, surgia a cúpula dos Inválidos. Ao longe, à direita, a carcaça fina da Torre Eiffel subia para um céu sem nuvens.
Unindo o seu coração à sua eloquência, chamando para testemunha essa Paris imortal que se espraiava ante os seus olhos, Pierre Taittinger lançou um apelo patético. Apontando para as elegantes colunas de Perrault, mostrando as fachadas denteadas do Louvre, as pedras luminosas do palácio de Gabriel e as dos prédios, todas elas carregadas de História, em que o olhar de ambos poisava, o maire de Paris exclamou: ”Os generais têm muitas vezes o poder de destruir, raras vezes o de edificar. Imagine que um dia regressa aqui, como turista, e contempla de novo as testemunhas das nossas alegrias, dos nossos sofrimentos... Poder dizer: ’Sou eu, general Von Choltitz, que um dia teria podido destruí-las e que as conservei, para delas
fazer dom à Humanidade.’ General - perguntou -, isso não valerá mais que toda a glória dum conquistador?’’
Choltitz ficou um longo momento silencioso. Depois voltou-se para o maire de Paris. Numa voz lenta, destacando bem cada palavra, respondeu: ” O senhor é um bom advogado, sr. Taittinger, cumpriu o seu dever. E da mesma maneira, eu, general alemão, devo cumprir o meu.”
Desde a saída do último comboio de Fresnes, Louis Armand, o engenheiro que tanto ambicionara partir, não recebera como alimento mais do que um enorme bocado de queijo Roquefort - e havia dois dias que o queijo se encontrava
1 Choltitz sofria de asma. Quando sentia aproximar-se uma crise, tomava geralmente duas pílulas dum calmante que trazia sempre consigo. No dia da Libertação, pressentindo que a crise estava a chegar, foi impedido de engolir essas pílulas: um oficial francês, julgando que ele queria suicidar-se, atirara-se sobre ele e tinha-lhas arrancado das mãos.
num canto da sua cela. Armand detestava queijo. Nunca pudera comer uma migalha que fosse durante toda a sua vida. Naquele instante preferiria ainda morrer de fome a ter de tocar-lhe.
Perguntou de si para si se não estaria com alucinações. Mas não. O barulho isolado que ouvira multiplicava-se bruscamente, ao longo dos extensos e húmidos corredores. Armand reconheceu o ranger metálico de chaves girando nas fechaduras e o ruído seco das portas abrindo-se umas a seguir às outras. Compreendeu imediatamente que essas portas iam ficando abertas. No pátio, tinha a certeza, o pelotão de execução que iria agora fuzilá-lo estava a postos. Louis Armand meditou calmamente sobre a morte.
Na ala oposta da prisão, no pavilhão das mulheres, a secretária Geneviève Roberts ouviu o mesmo ruído. Na ombreira da porta, que nesse momento se abriu, surgiu um guarda louro, que gritou Raus!’’ Geneviève benzeu-se lentamente e saiu da cela.
O cônsul da Suécia, Raoul Nordling, ia contando os prisioneiros à medida que estes desembocavam no pátio. Contando com os três condenados à morte, eram ao todo 532’.
Esta primeira vitória era ainda apenas provisória. O comandante da prisão recusava-se a libertar os presos antes da manhã seguinte. Acedera contudo a confiá-los, nessa noite, à guarda da Cruz Vermelha.
Nordling vigiava com impaciência a concentração dos prisioneiros. Tinha pressa. Lá fora, o seu Citroen preto, arvorando o pavilhão sueco, estava pronto a conduzi-lo ao campo de Drancy, ao forte de Romainville e ao campo de Compiègne. Depois tentaria ainda fazer parar o comboio que levava Pierre Lefaucheux, Yvonne Pagniez e os seus 2451 companheiros de infortúnio para os campos de concentração da Alemanha.
Aquilo parecia quase uma conversa de surdos. Entre o quartel-general do S.H.A.E.F., em Londres, e o Departamento de Estado, em Washington, a comunicação telefónica estava em tão más condições que os dois correspondentes precisavam de gritar para se fazerem mutuamente ouvir. O general Julius Holmes, chefe dos Negócios Civis do S.H. A.E.F., tinha no entanto um problema particularmente importante a apresentar ao diplomata John J. McCloy. Sobre a sua secretária havia um processo, em cuja capa duas iniciais estavam inscritas: D. G. Elas significavam De Gaulle.
”A propósito da viagem de De Gaulle a França - perguntava Holmes -, gostaríamos de saber se o senhor não tem qualquer objecção de ordem governamental a opor a esse projecto.”
”Onde é que ele quer ir, e qual é o motivo dessa sua viagem?”
Holmes explicou que De Gaulle pretendia visitar os territórios libertados.
”Quanto tempo tenciona ele lá demorar-se?”
Holmes respondeu que não sabia.
Isso significa, de certeza, que ele tenciona ficar definitivamente em França
- replicou imediatamente McCloy. - Não se trata portanto de uma visita, mas,
1 No último momento, Nordling conseguira obter do major Huhm que acrescentasse, a tinta, uma cláusula estipulando que esses condenados à morte também estavam incluídos no acordo.
sim, de um regresso. O senhor não acha que seria melhor perguntar-lhe quais são as suas verdadeiras intenções? - sugeriu McCloy. - A nossa autorização depende da sua resposta ’.”
No caso de se tratar duma visita ’ ’no género da viagem de Bayeux’’, Holmes poderia tomar sobre si o encargo de passar as autorizações necessárias. Em caso contrário, o chefe dos Negócios Civis do S. H. A. E. F. deveria prevenir imediatamente Washington.
Holmes desligou e mandou expedir um telegrama pedindo ao general Maitland Wilson uma informação suplementar. Horas mais tarde recebeu de Argel uma resposta tranquilizadora: De Gaulle não projectava mais do que uma simples visita. Não dera a entender qualquer intenção de se fixar definitivamente em França. Holmes telegrafou portanto a concordância do S. H. A. E. F.
nem o comando aliado, nem Washington imaginavam a surpresa que Charles de Gaulle lhes preparava.
Capitulo vigésimo oitavo
As vozes e os risos das crianças que brincavam nos jardins das Tulherias subiam até à varanda err que o general Von Choltitz, agora só, meditava. Mas esses momentos de reflexão deveriam durar pouco. Pouco depois, atrás dele, fez-se ouvir o ruído de passos que se aproximavam e logo a seguir a voz forte do coronel Von Unger anunciando uma visita inesperada. Vestindo um comprido casaco de cabedal coberto de pó, a cara mais chupada do que nunca sob a longa pala com folhas de carvalho do boné, o Feldmarschall Walter Model fez a sua aparição. Um sorriso glacial estendeu-se sobre os seus lábios quando viu a expressão estupefacta de Choltitz. Brincando nervosamente com o seu bastão de marechal, declarou numa voz ríspida, que ele era o novo comandante-chefe do Oeste. A sua missão era conservar Paris e a frente do Sena a todo o custo. E era também a de repor a ordem nessa frente do Oeste que parecia encontrar-se em plena desorganização, a julgar ’pelo número de fugitivos com que o seu automóvel se cruzara entre Metz e Paris”.
Choltitz sabia o que aquelas palavras significavam. Como todos os soldados da Wehrmacht, estava ao corrente da reputação de inflexível severidade, de vontade tenaz, de coragem quase indomável de que gozava Model. Ele sabia que Hitler o considerava como o homem dos milagres - e ele era-o de facto. Na Rússia, galvanizando os fortes, atemorizando os fracos, remediara e restabelecera situações desesperadas. Os próprios Aliados tinham por ele o mesmo respeito e o mesmo receio que nutriam por Rommel. Nos arquivos dos Serviços Secretos de Espionagem do S.H.A.E.F. a ficha pessoal de Walter Model dizia: ”A sua fidelidade a Adolf Hitler é total. Para o Feldmarschall Model a palavra ’impossível’ não existe.”
1 Apenas se pode especular quanto ao que teria sido a decisão tomada por Roosevelt se este tivesse conhecido as verdadeiras intenções de De Gaulle. Diversos funcionários do Departamento de Estado que nesse tempo se ocupavam dos negócios franceses declararam aos autores deste livro que, na sua opinião, Roosevelt teria pelo menos tentado retardar o regresso de De Gaulle a França.
Choltitz sabia portanto o que Model seria capaz de exigir dele. Num sentido, no plano militar, a sua missão seria facilitada. Model obteria do Fiihrer os reforços necessários, em homens e material. Mas Choltitz sabia também que, em caso de derrota, Model seria o homem da terra queimada.
A chegada e a brusca observação do Feldmarschall Von Kluge deram-lhe no entanto a oportunidade dum breve descanso. O general aguardaria as ordens do novo comandante-chefe para proceder às destruições previstas para Paris, que ele considerava militarmente tão desastrosas.
Mas a pausa concedida ao comandante do Gross Paris seria de curta duração.
As poucas palavras que o pequeno Feldmarschall pronunciou no vestíbulo do Hotel Meurice, antes de subir para o seu Horch, iria o alferes Von Arnim anotá-las para a História, no seu canhenho de couro verde que lhe servia de diário:
”Acredite-me, general Von Choltitz - disse de repente Model -, o que nos levou quarenta minutos a fazer em Kovel, levar-nos-á quarenta horas em Paris. Mas a cidade será arrasada! ’”
Quando o cônsul Raoul Nordling, que se fazia acompanhar por um seu sobrinho, chegou ao campo de Drancy já o comandante da prisão, o Hauptsturmfúhrer Brunner, fugira para Leste minutos antes. Nordling desceu então no vasto terreiro onde os prisioneiros estavam concentrados e declarou, numa voz emocionada, que se considerassem livres. Uma vaga de emoção arrebatou aqueles desgraçados que, gritando de alegria, de gratidão e de alívio se precipitaram para o cônsul sueco, fazendo-o desaparecer num indescritível remoinho humano.
Bruscamente fez-se silêncio no campo. Alguém gritara: ”As estrelas! As estrelas!” e então, os 1482 judeus, levando as mãos ao peito, arrancaram as estrelas amarelas que durante anos tinham sido o símbolo da sua miséria.
A essa mesma hora, Fernand Moulier, André Rabache e Pierre Cosset, três audaciosos jornalistas franceses que acompanhavam as forças americanas e tinham jurado bater quinhentos colegas na comunicação ao mundo da libertação de Paris, estavam desesperados. A 21 quilómetros de Paris, em plena Versalhes, tinham caído numa emboscada alemã. Fechados, com mais setenta e cinco franceses, num escuro armazém, esperavam agora ser expedidos para a Alemanha e acabar a guerra num campo de trabalho.
Nada mais doloroso para esse trio do que a ideia de terem falhado quando tão perto se encontravam já do seu objectivo. Na Normandia, um fazendeiro tinha-lhes dado roupas civis; em Rambouillet, um membro da Resistência fornecera-lhes papéis falsos e até o santo e a senha que havia de lhes permitir chegar a Paris, através duma rede de ligações clandestinas. Acocorados contra uma parede, cerrando os dentes de raiva, os três homens repetiam incessantemente: ”O quarteto de Beethoven já chegou’’, a famosa frase que deveria abrir-lhes as portas de Paris.
Às seis horas da tarde, as portas do armazém abriram-se. Em frente delas estava um camião alemão. Um tenente contou cinquenta homens e mandou-os subir para o veículo. Em seguida, gritou para o motorista: Zum Bahnof! (Para a estação!)
1 Kovel era uma pequena cidade da Polónia que as tropas de Model riscaram do mapa.
Uma hora depois, as portas do depósito rangeram nos gonzos e o mesmo tenente apareceu novamente. Moulier, Rabache e Gosset compreenderam que tinha chegado a sua vez. Resignados, levantaram-se e juntaram-se ao pequeno grupo de Versalhes que não partira no camião anterior. Mas lá fora não havia qualquer camião. ”Vão para casa”, resmungou o tenente, apontando-lhes as portas abertas.
Os três jornalistas saíram sem pressas. Depois, acelerando bruscamente o passo dirigiram-se para uma pequena rua. Tocaram à campainha do portão do jardim. Um homem vestido de preto apareceu no patamar da casa. ”O quarteto de Beethoven já chegou”, murmurou Moulier. O homem, um pastor protestante, abriu o portão e disse: ”Entrem”.
Em Paris, mergulhada na noite, por detrás das altas persianas século XVIII, residência dos presidentes do Conselho, um homem já entrado nos anos, solitário e emagrecido, chapinhava distraidamente numa banheira de mármore.
Pierre Laval perdera a sua última cartada. Reapoderando-se de Édouard Herriot, a Gestapo de Himmler dera o golpe final no projecto que Lavai acarinhava de fazer convocar as Câmaras. A partir daquele momento a derrocada do poder seria total. À volta dele, o mundo ruíra e nada mais havia a fazer do que fugir. Em baixo, sobre o saibro do terreiro de Matignon, já se encontrava a postos o Mercedes negro que havia de levá-lo para Leste, para a Alemanha. Uma hora antes, à luz dum candeeiro de prata, estivera sentado à grande secretária donde governara a França durante tantos anos. De cada gaveta retirara todos os seus papéis pessoais.
Dentro de momentos, colocará ao pescoço a sua famosa gravata branca, pegará no chapéu e na bengala e descerá à biblioteca do rés-do-chão para apertar a mão a alguns fiéis servidores, que virão cumprimentá-lo. Na grande sala, iluminada como para uma velada fúnebre por algumas velas esses homens serão os derradeiros sobreviventes da imensa coorte da política de colaboração com o inimigo, da qual Pierre Laval fora o grande artífice.
Em seguida, dará um beijo a sua filha José e subirá para o Mercedes. Mas antes de o carro partir descerá dele, subirá os poucos degraus da entrada até ao patamar e precipitar-se-á uma última vez para os braços da sua única filha, murmurando numa voz patética: ”Tu, ainda tu.” Quando voltar a ver o pai, ele estará entre dois guardas republicanos, num banco dos réus onde defenderá - em vão - a sua cabeça.
Quais terão sido os pensamentos que cruzaram o espírito astuto do auvernhense Pierre Laval, nos últimos instantes que passou nesse cenário onde a sua ambição sem escrúpulos o tinha conduzido, jamais alguém o saberá. Mas uma coisa é certa. Nunca Lavai poderia ter imaginado que o próximo ocupante da poltrona da sua secretária seria um jovem de 26 anos de idade, filho dum tipógrafo impressor, chamado Yvon Morandat.
O Mercedes preto fez ranger o saibro do terreiro e desapareceu nas ruas desertas. Com um bater seco, as altas portas gradeadas do palácio Matignon fecharam-se. Ao mesmo tempo que elas, encerrava-se também um triste capítulo da história de França. Mas já nesse instante, à sombra da cidade mergulhada na escuridão, em redor do palácio Matignon, as forças novas que guiariam uma trança diferente punham-se em marcha.
Capítulo vigésimo nono
Para os poucos transeuntes que passavam diante das montras nuas do ”Bon Marche”, eles não eram mais do que um par de namorados. Ternamente abraçados sobre as suas bicicletas, sussurravam ao ouvido qualquer interminável declaração de amor. A rapariga passou então os dedos pelos cabelos do seu apaixonado, e os dois beijaram-se. Depois, colocando as mãos no guiador da bicicleta, ela sentou-se no selim e afastou-se.
Ninguém, naqueles breves minutos que durara o abraço, reparara que o rapaz substituíra a bomba da bicicleta da rapariga pela sua. A jovem regressou tranquilamente a casa, num terceiro andar da Rua Sédillot. Após ter fechado cuidadosamente a porta, foi à sua biblioteca buscar uma obra sobre pintura flamenga, encadernada em couro vermelho, e folheou-a até à reprodução a cores de um Brueghel. Então, segurando a página entre o indicador e o polegar, descolou lentamente a reprodução e fez com que dela caísse um pedaço de papel de seda. Em seguida, esvaziou o conteúdo da bomba da bicicleta e retirou outra folha de papel. Alisando com a mão os dois bocados, iniciou o seu trabalho.
Esta rapariga chamava-se Jocelyne. Era uma das duas decifradoras da Resistência parisiense. As indicações contidas na folha de papel escondida na sua biblioteca eram de tal forma valiosas que a Gestapo teria pago qualquer preço para as conhecer. Era o código de rádio do quartel-general da Resistência gaullista em França. Jocelyne pertencia a uma complexa rede chefiada por Chaban-Delmas, a qual assegurava todo o tráfego através da rádio entre Paris e o quartel-general da França Livre, em Londres. Mesmo no interior da cidade de Paris havia três emissores, ”Pleyel Violet”, ”Montparnasse Noir” e ”Apollo Noir”, e fora dela, nas povoações dos subúrbios, outros três, em Chilly-Mazarin, Chevilly-Larue e Savigny-sur-Orge. Os postos de Paris emitiam nos dias pares; os postos dos arrabaldes, nos dias ímpares. Nessa tarde, após traduzir em cifra a mensagem que recebera diante do ”Bon Marche’’, Jocelyne levá-la-ia a outro homem, que estaria à sua espera, também montado numa bicicleta, no cais Voltaire. Esse agente de ligação transportaria por seu turno a mensagem para uma água-furtada, situada no n.º 8 da Rua Vaneau. Aí, num recanto por cima da velha conduta de águas das casas de banho do prédio, escondido sob uma pilha de livros, encontrava-se ”Apollo Noir”’.
Como medida de segurança, para o caso de ser presa e torturada, Jocelyne treinara-se em nunca tentar apreender o sentido das mensagens que cifrava. Mas nesse dia, ao reunir as últimas palavras, teve um sobressalto. E, apesar das instruções que recebera, releu por completo o texto em claro que acabava de pôr em código. Era o primeiro relatório que Chaban-Delmas enviava para Londres após o seu regresso.
1 A antena do posto estendia-se pela goteira durante
as emissões. Enquanto o operador transmitia, outro homem, armado com duas granadas defensivas, ficava de sentinela no cimo da escada. Em princípio, as emissões duravam apenas vinte minutos, a fim de evitar a localização do posto pelos aparelhos radiogonométricos da Gestapo, que percorriam as ruas no interior de camiões. As emissões faziam-se geralmente na banda dos 19 metros, mas cada posto podia, em qualquer momento, passar a transmitir em quatro outras frequências.
”Encontrei situação Paris muito tensa - dizia a mensagem. - Greve polícia, correios e ferroviários com tendência crescente para greve geral. Verificam-se todas condições preparatórias insurreição. Incidentes locais, sejam fortuitos ou provocados pelo inimigo ou mesmo agrupamentos Resistência impacientes, chegariam para desencadear as mais graves desordens, com represálias sangrentas para as quais alemães parecem ter tomado decisões e reunido meios. Situação mais agravada pela paralisia serviços públicos: não há gás, apenas hora e meia de electricidade por dia, falta de água em certos bairros, abastecimento de provisões calamitoso. Necessário vossa intervenção junto Aliados pedindo rápida ocupação Paris. Avisar população oficialmente, de maneira clara e precisa, através B.B.C, a fim de evitar nova Varsóvia.”
”Varsóvia”, repetiu Jocelyne angustiada. A situação era então assim tão grave? Da sua janela, ela podia ver as densas e tranquilizadoras folhagens que se estendiam desde o Champ-de-Mars até à Torre Eiffel. Seria possível que Paris sofresse a sorte medonha de Varsóvia?
Pensou então no filho, de 3 anos, que brincava no quarto ao lado. Teria ela tempo de o levar para casa da avó, nos arredores de Paris?
Havia muitos indícios alarmantes para justificar os receios de Chaban-Delmas, nessa manhã cheia de sol. Os ministros de Vichy tinham fugido e a sua partida originara uma vacatura do poder que determinados indivíduos seriam tentados a preencher. A imprensa colaboracionista volatilizara-se. Os caminhos de ferro, o metropolitano, os Correios, Telégrafos e Telefones, a polícia, o próprio Banco de França estavam em greve. E, sobretudo, os ânimos estavam amadurecidos para a revolta. Humilhado na sua alma e na sua carne por quatro anos de ocupação, esfomeado, aterrorizado, o povo de Paris sabia que a hora da vingança se aproximava. O cenário para a insurreição que Chaban-Delmas tinha ordem para impedir estava montado. Faltava uma única coisa para desencadear a revolta -uma voz poderosa que lançasse o grito de guerra ”Às barricadas!” Esse grito estava agora o Partido Comunista pronto a lançá-lo.
A 10 quilómetros ao sul de Notre-Dame, o largo do Petit-Clamart estaria totalmente deserto, sob o sol do meio-dia, se não fosse o vulto solitário que se movia em volta duma bicicleta, encostada contra o painel enferrujado dum anúncio ao sabão Cadum. O coronel das F.F.I. Rol desembocou então, vindo da estrada
de Paris, deu a volta ao largo e pedalou devagar em direcção ao ciclista estacionado. Os dois homens cumprimentaram-se. Rol perguntou se poderia ajudá-lo. Conversaram durante alguns instantes. Em seguida, o homem que fingia estar a reparar a bicicleta ergueu-se, montou e partiu. Rol seguiu-o.
Por seis vezes em três horas, o mineiro de Lille, Ray mano Bocquet, representara a mesma comédia que momentos antes repetira sob o retrato carcomido do bebé Cadum. De cada uma dessas vezes, um desconhecido, pedalando na sua esteira, seguira-o até aos abarracamentos de zinco situados no n.º 9 da Rua da Alsácia, em Clamart. Aí, ao fundo duma horta e por detrás dum velho muro, num minúsculo cubículo, mais pequeno que a cela dum frade, estavam reunidos cinco dos seis membros da Comissão Parisiense de Libertação ’.
1 A única ausente era Marie-Hélène Lefaucheux.
Rol lembra-se de que, com o calor asfixiante que lá dentro fazia, as camisas encharcadas de suor colavam-se umas às outras. André Toilet, o pequeno comunista colérico que presidia à comissão, tomou a primeira decisão da tarde. Não se fumaria. Toilet queria que nada pudesse revelar aquela reunião, e sob nenhum pretexto ela deveria ser interrompida, pois os cinco homens reunidos nessa barraca abandonada iriam tomar em conjunto a decisão mais importante que jamais tinham tido de enfrentar. Essa decisão, Toilet estava perfeitamente consciente disso, podia levar à destruição da mais bela cidade do Mundo e talvez custar a vida a milhares dos seus habitantes. Porque, nessa barraca desmantelada, ao fundo dum atalho fora de portas, André Toilet ia pedir aos seus quatro camaradas que lhe dessem o seu acordo para efectuar um levantamento armado nas ruas de Paris.
Era ”um risco insensato”, diria mais tarde o duro Toilet. De resto, ele esperava também que a sua resolução implicasse em represálias maciças contra Paris. Mas, quarenta e oito horas antes, Toilet recebera instruções secretas dos chefes do Partido. Ele não deveria sair daquela reunião sem ter obtido a aprovação formal dos seus camaradas. Esta daria uma forma de certo modo legítima ao movimento que desencadeariam no dia seguinte. Os próprios impressos que chamariam a população às armas estavam, de facto, já impressos e armazenados, no sótão duma fábrica em Montrouge.
O plano dos comunistas era simples. Uma vez desencadeada a insurreição, estavam certos de que esta já não poderia vir a ser sustida. No decorrer dessa reunião secreta, que eles dominavam, os comunistas contavam obter um número suficiente de apoios políticos para justificar a sua acção. Em seguida, poderiam então lançar a insurreição, seguros como estavam de arrastar com eles os milhares de patriotas não comunistas que ardiam no desejo de combater os alemães. Quando os gaulistas compreendessem o que se passava, seria tarde de mais. Encontrar-se-iam perante um facto consumado. A revolta já estaria em movimento, sob a chefia comunista. Uma única precaução era, no entanto, necessário tomar. Era uma precaução essencial: Chaban-Delmas, Parodi e todos os outros gaulistas influentes da cidade deviam ser mantidos na ignorância mais completa de tudo o que se tramava’.
Toilet tinha a certeza de conseguir o consentimento que desejava. Os membros do Partido estavam em maioria no ”Comité”. O único homem em quem ele não confiava totalmente era um enérgico professor de Direito, chamado Léo Hamon. No parecer de Toilet, este homem resoluto, eloquente, estava demasiado próximo dos gaulistas.
Duas horas depois, um a um, os cinco homens saíram cautelosamente da pequena barraca. Radiante, Toilet foi o último a partir. A insurreição fora aprovada.
No ambiente sossegado do seu quarto de cama, Dietrich von Choltitz recebia nessa tarde o mais alto magistrado alemão da França ocupada, o juiz-general
1 Se a mensagem radiofónica de Chaban-Delmas, cifrada por Jocelyne, tivesse chegado aLondres48 horas mais cedo e a B.B.C, tivesse imediatamente advertido os Parisienses de que Paris estava em riscos de se tornar numa nova Varsóvia, é provável que o estado de espírito da cidade fosse muito menos propício aos projectos comunistas.
Hans Richter, e esperava que aquela seria a última visita que ele lhe faria. Richter tinha na mão um volumoso livro vermelho. Era o Militãrreichsgesetzbuch, o regulamento do Exército alemão em campanha. O general pedira ao juiz que lhe comentasse os artigos referentes à situação do comandante duma fortaleza sitiada.
Todos os dias, durante meia hora, Richter analisara os textos e explicara o seu significado. No respeitante à autoridade sobre a população civil, esta era ”absoluta”. Richter afirmara, nomeadamente, que em caso de insurreição Choltitz estava habilitado a tomar todas as medidas que considerasse necessárias: represálias maciças, destruição de bens, captura e execução pública de reféns, todas essas medidas eram perfeitamente ”legais”. Resumindo, Richter assegurara ao comandante do Gross Paris que ele tinha poderes ”draconianos”.
Mas, para Choltitz, o acontecimento mais importante do seu dia fora um novo telefonema de Jodl. Este participara-lhe que o Filhrer consentira num adiamento da destruição das pontes de Paris. As primeiras ordens, que prescreviam uma destruição imediata, tinham parecido absurdas ao governador de Paris. Esta teria cortado as suas próprias tropas em duas. Jodl advertiu-o, no entanto, de que o Fúhrer desejava que o resto do programa de demolições na cidade prosseguisse ”sem qualquer outro atraso”.
Capítulo trigésimo
Havia trinta minutos que Bobby Bender andava impacientemente para trás e para diante, sobre a passadeira encarnada do longo corredor do primeiro andar do Hotel Meurice. Aguardava que tocasse a campainha do telefone preto que se encontrava sobre a secretária do alferes Von Arnim. Tinha pedido à telefonista que lhe fizesse uma ligação para a estação de Nancy. Tentando um último ardil, preparava-se para exigir ao comandante do comboio de Fresnes que libertasse os prisioneiros.
De manhã, Bender e Nordling tinham conseguido obter, com a ajuda do general Von Choltitz, a libertação de Yvonne de Bignolles e dos 56 prisioneiros que restavam no forte de Romainville’.
Brender precipitou-se para o aparelho. Apesar da ”fritura” que havia na linha, pôde verificar o estado de fúria em que se encontrava o Obersturmfuhrer Hagen. Por duas vezes nessa noite, gritou o comandante do comboio, a Cruz Vermelha tinha tentado impedir a partida do comboio, evocando um pretenso acordo estabelecido entre Choltitz e o cônsul
da Suécia em Paris.
Numa voz calma e cheia de arrogância, Bender pediu ao seu interlocutor que se acalmasse. Depois, explicou-lhe que a sua atitude era uma ’violação flagrante do acordo oficial firmado entre o Militãrbefehlshaber in Frankreich e a Cruz Vermelha Francesa”. Participou a Hagen que devia libertar os prisioneiros imediatamente e mandar evacuar esse comboio a fim de este poder servir às necessidades
1 Nessa mesma manhã, Nordling e Bender tinham sofrido um desaire importante. Não tinham conseguido obter a libertação dos 1772 prisioneiros do campo de Compiègne, onde os detidos se encontravam ainda sob a autoridade de Karl Oberg e das S. S.
militares da Wehrmacht. A O.B.West, informou, requisitara todos os vagões de caminho de ferro para transportar as tropas para a frente e evacuar os feridos. Em caso algum, insistiu, os vagões poderiam ser utilizados para uma missão tão secundária como a transferência de prisioneiros políticos.
Esta linguagem severa pareceu abalar o Obersturmfiihrer. Este tornou-se hesitante, mas afirmou não poder ”abandonar o transporte sem autorização superior’’. Propôs contactar imediatamente Berlim a fim de confirmar a ordem. Telefonaria a Bender assim que obtivesse uma resposta.
Através da janela do gabinete do chefe da estação de Nancy, o Obersturmfiihrer Hagen podia ver a extensa coluna dos vagões de gado imobilizada numa via de desvio. No fim do cais, pequenas nuvens de vapor libertavam-se da locomotiva sob pressão. Hagen pegou novamente no auscultador. Pediu uma ligação para a Prinz Albrechsrasse, em Berlim, onde se situava o quartel-general da Gestapo.
Em Paris, Bobby Bender recomeçara a passear lentamente sobre a passadeira vermelha do corredor do Hotel Meurice.
No pátio da prisão de Fresnes, Louis Armand e os 21 prisioneiros do seu grupo viram os guardas avançar na sua direcção com um ar ameaçador. Mas a única palavra que eles pronunciaram ressoaria para sempre na memória do engenheiro. ”Raus!”, gritaram os soldados. Louis Armand estava livre. Era o último dos 532 prisioneiros políticos libertados nesse dia1.
Por detrás das grades da sua janela, Willy Wagenknecht, o soldado alemão preso por ter esbofeteado um oficial, viu Armand afastar-se como, três dias antes, tinha visto partir os prisioneiros do comboio. Mais um exemplo da imbecilidade do exército alemão, pensou Wagenknecht. Em breve, parecia-lhe, não haveria senão prisioneiros alemães na grande prisão de Fresnes.
Do lado de lá das muralhas cinzentas, livre pela primeira vez desde há três meses, a secretária Geneviève Roberts dirigiu-se para a estação de Fresnes a fim de regressar a casa. A tímida jovem ficou surpreendida ao ver a bilheteira fechada. ”Onde está o empregado?” perguntou a uma mulherzinha que passava.
A mulher fitou-a com um ar desconfiado.
Donde é que você vem? - perguntou ela. - Os caminhos de ferro estão em greve há uma semana.”
Para três homens, uma longa viagem ia também terminar nessa manhã. Ao fundo dum corredor escuro, na Rua dos Petit-Champs, n.º 20, Pierre Cosset, André Rabache e Fernand Moulier bateram à porta do último elo de ligação da cadeia que os trouxera até Paris. Não obtiveram resposta. Voltaram a bater duas vezes mais, e o resultado foi o mesmo. Depois, a porta abriu-se bruscamente e
1 O acordo Nordling-Huhm quase falhou nessa manhã, muito cedo ainda, quando o director alemão da prisão participou ao sueco que não poderia libertar os prisioneiros sem lhes entregar o dinheiro que eles traziam consigo no momento de serem detidos. Admirado por esse súbito respeito pelo regulamento, Nordling pediu a seu irmão que ”emprestasse’’ à prisão 8000 francos, a debitar na conta do consulado. Ficou ainda mais surpreendido quando, três semanas mais tarde, por um intermediário de Nancy, os Alemães reembolsaram o consulado da Suécia dessa importância.
deparou-se-lhes uma divisão negra e vazia. Moulier teve a impressão de que havia alguém escondido atrás da porta aberta.
”Entrem”, disse uma voz rouca. Os três homens avançaram e Moulier exclamou para a escuridão: ”O quarteto de Beethoven já chegou.” A porta fechou-se sobre eles. Empunhando uma Mauser, apontada na sua frente, surgiu uma encantadora rapariga de olhos verdes, vestindo uma espécie de casaco de pijama rasgado e calças de cotim. Moulier julgou-se a viver uma cena de filme policial. Mas, quanto a Rabache, este perguntou a si próprio se não teriam caído numa armadilha preparada pela Gestapo.
A rapariga sacudiu a sua longa cabeleira cor de fogo e interrogou-os. Em seguida, afastou uma larga cortina que atravessava a divisão dum lado ao outro, e fez-lhes sinal para avançarem. Aí, sobre beliches fixados à parede, encontravam-se os outros convidados de Lili d’Acosta: sete aviadores aliados. Os três homens tinham realizado o seu compromisso: eram os primeiros jornalistas aliados a entrar em Paris. Moulier teve um acesso de riso e perguntou quando é que beberia a garrafa de champanhe que tinha ganho em aposta.
Na extremidade do cais da estação de Nancy, num canto que um ferroviário condescendente lhe destinara, Marie-Hélène Lefaucheux esperava, esgotada por dois dias e meio sem dormir nem descansar. Estava impedida de ir mais além. Acabava de regressar do Hotel Excelsior e de Inglaterra, onde implorara a um ministro de Pierre Laval que fizesse qualquer coisa a fim de parar o comboio’. Mas o homem não estava disposto a intervir.
Como no dia da Assunção, o sol queimava os tejadilhos de folha de zinco dos vagões do comboio sinistro. Marie-Hélène podia ouvir os gemidos e os brados desesperados dos homens fechados dentro dele, suplicando que lhes dessem de beber. De tempos a tempos, chegava até ela um ruído ainda mais aterrorizador: os uivos selvagens dalgum prisioneiro que enlouquecera. Com as mãos unidas sobre a velha mala de mão que Pierre, em tempos melhores, lhe oferecera, os seus lábios movendo-se imperceptivelmente numa oração muda, Marie-Hélène mantinha-se hirta e digna. E cada gemido proveniente dos vagões de gado, estacionados ao longo do cais, atingia-a no mais profundo da sua alma.
Ao fim de largo tempo, viu um grande reboliço de guardas e de ferroviários ao longo do comboio. A tentativa de Bobby Bender não resultara. A Gestapo não abandonaria aquele transporte de miséria.
Houve uma série de rangidelas quando os vagões começaram por fim a mover-se, uns após outros. Muito devagar, a longa coluna começou a sair da estação. De novo, tal como na estação de Pantim, Marie-Hélène ouviu, brotando das portas metálicas do comboio, os acordes orgulhosos e provocadores da ”Marselhesa”. O comboio ganhou velocidade e desapareceu na extremidade do cais. Ela quedou-se imóvel até a composição se perder de vista e deixar de se ouvir o seu último eco na estação deserta.
o comboio corria para Estrasburgo e o Reno, através dos grandes vinhedos da Alsácia. Não voltaria a parar antes de ter entregue os seus 2453 passageiros - excepto os mortos - aos guardas prisionais dos campos de trabalhos forçados
1 Era Gaston Bichelonne, ministro da Produção Industrial, o homem com quem Pierre Angot contara para obter a sua libertação.
de Ravensbruck e de Buchenwald. Desses 2453 homens e mulheres de França apenas regressariam menos de 300 ’.
o homem que estava na varanda viu a blusa branca e a saia listrada da rapariga desaparecerem na esquina da Rua Montmartre. Quando a jovem deixou de se ver, Yves Bayet, de 34 anos de idade, puxou por um cigarro, acendeu-o e soltou um suspiro de alivio. ”Desta vez -pensou o ex-prefeito -, isto vai.” Na sua velha bicicleta, Claire, a agente de ligação de Bayet, transportava para as portas de Cratillon três sobrescritos escondidos no forro do saco de lona que levava a tiracolo.
Eram quase oito da noite. Dentro de uma hora, o recolher obrigatório decretado pelo governador militar de Gross Paris enclausuraria, por mais uma noite, os habitantes de Paris. Yves Bayet sabia que a bela rapariga, sua agente de ligação, teria apenas o tempo suficiente para entregar os três sobrescritos no seu destino, o velho café do ”tio” Lacamp, que servia de caixa de correio a Bayet, e regressar a casa. Com um sorriso irónico nos lábios, Yves considerou que, nessa noite, o recolher decretado pelo general Von Choltitz iria servir a causa do general De Gaulle. Porque iria impedir que um dos três sobrescritos transportados por Claire chegasse ao seu destinatário antes da manhã seguinte. E era isso exactamente o que Bayet pretendia. Bayet chefiava o movimento de Resistência gaulista da polícia parisiense. A mensagem que não chegaria ao seu destino nessa noite era dirigida ao mais importante movimento de Resistência da polícia, uma outra rede dirigida, essa, pelo Partido Comunista. Nessa noite, os comunistas iriam ser vítimas da sua própria obsessão de segurança. Todas as suas mensagens deviam passar pelo intermédio de duas caixas de correio, antes de lhes chegar às mãos. Assim, aquela que Claire lhes levava ficaria portanto até à manhã seguinte na caixa do correio.
Claire sentiu a bicicleta diminuir a velocidade. Debruçando-se sobre o guiador, compreendeu porquê: a câmara-de-ar esvaziava-se. Em breves minutos a roda estava completamente em baixo. Claire encontrava-se ainda a meia hora do seu destino. Tentou encher o pneu. Mas o ar escapava-se à medida que ela dava as bombadas. Atrás de si ouviu o ruído de um automóvel. Voltou-se, e viu um carro de estado-maior alemão parar ao lado dela. O motorista saiu e aproximou-se. Num francês impecável, um jovem oficial da Wehrmacht ofereceu-se para ajudar a bela parisiense. Com um gesto desdenhoso, Claire estendeu-lhe a
1 Pierre Angot morreu numa mina de sal; Philippe Kuen, o adjunto de ”Jade Amicol’’, foi enforcado. Yvonne Baratte morreu de disenteria em Março de 1945. Yvonne Pagniez e Jeannie Rousseau sobreviveram.
Ninguém passou por uma experência mais extraordinária que Pierre Lefaucheux. Após a libertação de Paris, atravessando as linhas americanas e as linhas alemãs numa ambulância da Cruz Vermelha, Marie-Hélène voltou a Nancy. Aí, conseguiu entrar em contacto com um oficial da Gestapo. Fazendo intervir junto dele alguns franceses com os quais aquele fizera mercado negro, conseguiu convencê-lo a conduzi-la num automóvel do Estado-Maior Alemão até Buchenwald, onde lhe foi dado obter a libertação de Pierre. Marie-Hélène Lefaucheux regressou então a Paris com o marido. No entanto, a tragédia das suas vidas prosseguiu. Pierre, tendo-se tornado director das fábricas Renault, morreu num acidente de viação em 1956. Marie-Hélène, membro da delegação francesa na O.N.U., faleceu num acidente de aviação em Nova Orleães, em Fevereiro de 1964.
bomba de ar da bicicleta. Mas os esforços enérgicos do alemão não tiveram mais êxito que os dela. Este propôs-se então conduzi-la no seu automóvel ao local para onde ela se dirigia. Após um segundo de hesitação, Claire aceitou e entrou para o B. M. W., sentando-se ao lado dele.
Raras vezes a galanteria germânica seria recompensada com tanta ingratidão. Na mala de mão de lona envernizada que Claire levava, apertada junto aos joelhos, encontrava-se uma verdadeira declaração de guerra contra os ocupantes de Paris.
Os receios de André Toilet tinham-se mostrado justificados. O professor Léo Hamon prevenira Alexandre Parodi, chefe político da Resistência gaulista em França, de que os comunistas desencadeariam a revolta no dia seguinte. Perante esta brutal ameaça, Parodi tomara uma decisão audaciosa.
Já que os comunistas estavam decididos a agir, também ele agiria então. Mas agiria mais depressa. Privá-los-ia do edifício público mais importante de Paris, a imponente cidade dentro doutra cidade que era a Direcção-Geral da Polícia. As mensagens que Claire levava no seu saco de mão ordenavam à polícia parisiense que se reunisse no dia seguinte, 19 de Agosto, às 7 horas, nas ruas circundantes da grande fortaleza de pedras cinzentas. Aí, sob o comando de Bayet, os polícias apoderar-se-iam da sua própria casa, a Prefecture.
Claire sorriu amavelmente para o alemão, fechou a porta do B. M, W. e dirigiu-se ao café do ”tio’’ Lacamp. Nos lavabos, tirou os três sobrescritos da sua mala. Em seguida, voltou à sala do café e entregou-os disfarçadamente ao filho do proprietário, por debaixo da bandeja de madeira em que ele lhe trouxe um ersatz de limonada. Eram 20 horas e 30. Yves Bayet ganhara. No dia seguinte, a polícia de Paris constituiria a primeira tropa dessa insurreição que os comunistas tinham tão cuidadosamente preparado. E o Partido Comunista estaria ausente dessa reunião.
A 3000 metros de altitude, sob as asas do Lodestar Lockeed ”France”, o tenente Claude Guy contemplava as montanhas da cordilheira do Atlas banhadas pelos reflexos violetas do Sol poente. Na sua frente, solidamente amarrado ao seu banco, estava Charles de Gaulle, de cigarro na boca. O ajudante-de-campo Claude Guy sabia como De Gaulle detestava as viagens aéreas. Dentro do avião, o general quase não falava. Desde que tinham largado de Argel, três horas antes, no decorrer da primeira parte dum voo que seria talvez o mais importante que De Gaulle fizera desde que saíra de França, em Junho de 1940, o general mal proferira três palavras. Parecia perdido no seu próprio silêncio.
Um primeiro incidente atrasara por várias horas a partida de Argel para Casa Branca. O Lodestar’ France’’ não tinha raio de acção suficiente para o longo voo de Gibraltar a Cherburgo, e por isso o comandante americano em Argel pusera à disposição do general um B 17 e a sua tripulação americana. De Gaulle consentira em tomar esse avião com a maior relutância. Mas ao aterrar no aeroporto de Casa Branca, em Argel, o B 17 despistara-se e com o trem de aterragem arrancado não poderia voltar a ser utilizado antes de vários dias. De Gaulle estava convencido de que o acidente era parte dum plano americano elaborado para demorar o seu regresso a França. Contemplando a Fortaleza avariada, dissera a Guy: ”Você não acha que foi por altruísmo que eles me quiseram dar este avião, pois não?”
De Gaulle decidira tomar o seu próprio avião. E agora, outros problemas bem mais importantes, ocupavam o espírito do chefe da França Livre. Para De Gaulle, aquela viagem significava o princípio do fim da longa caminhada que iniciara com o apelo solitário de 18 de Junho de 1940. No término dessa estrada estava Paris, a cidade que deixara quatro anos antes, jovem general-de-brigada desconhecido. Para regressar a ela, estava pronto a desafiar os seus aliados, a afastar os seus inimigos políticos, a arriscar, se necessário fosse, a própria vida. Em Paris e apenas em Paris, estava a resposta ao apelo que lançara quatro anos antes.
Mais tarde, havia de parecer estranho que ele tivesse alguma vez posto em dúvida o que seria essa resposta. Mas, naquele instante, no céu africano que atravessavam, Guy sabia que o espirito do general era presa de dúvidas e interrogações. No íntimo do seu ser, este perguntava a si próprio se o povo da França estava pronto a aceitá-lo como chefe. E De Gaulle sabia que só havia um lugar onde lhe seria possível obter a resposta a essa pergunta: nas ruas de Paris.
Ao longo dessas ruas, exactamente dentro de uma semana, o passageiro do avião’ France tinha um encontro marcado com a História.
SEGUNDA PARTE / A batalha
Capítulo primeiro
A atmosfera estava húmida e pesada. Vindas do norte, grandes nuvens anunciadoras de chuva passavam sobre a colina de Montmartre. Através das silenciosas ruas de Paris, as últimas patrulhas alemãs regressavam apressadamente aos seus quartéis. Era madrugada alta, o fim do recolher obrigatório. Dentro de pouco tempo, formar-se-iam às portas das padarias as extensas e tristes bichas habituais. Começava o 1518.º dia de ocupação. Para a maioria dos 20000 soldados da guarnição alemã nenhum indício fazia prever, nessa manhã cinzenta, que o sábado, 19 de Agosto de 1944, seria um dia diferente dos outros. E contudo, dentro de algumas horas, as ruas de Paris deixariam de pertencer completamente aos conquistadores da Wehrmacht.
No Hotel Meurice, o Feldwebel Werner Nix, o oficial subalterno que a parada decretada pelo general Von Choltitz obrigara a ter a sua licença cancelada, estava de novo, furioso. Para serem amáveis a uma velhota desesperada, três soldados tinham abandonado o posto de sentinela do edifício, a fim de irem rebuscar no meio dos arbustos das Tulherias um gato que fugira.
Por cima, no primeiro andar, deprimido e enervado, o conde Dankvart von Arnim descansava, estendido numa poltrona, na sua varanda. Três horas antes, o seu melhor amigo telefonara-lhe do hospital de Pitié para lhe comunicar que tinha sido ferido na Normandia e que os cirurgiões acabavam de lhe amputar a perna direita. Arnim não encontrara mais do que uma frase banal para reconfortar o seu amigo: ”Ao menos, para ti, a guerra acabou.” Mas, para o jovem oficial subalterno, a guerra iria começar nessa manhã.
No pátio do quartel Prinz Eugen, na Praça da República, o Unteroffizier Gustav Winkelmann, de Colónia, ouviu chamar pelo seu nome. O oficial de semana designava-o para comandar a patrulha do meio-dia.
Winkelmann estava aterrorizado. De todos os alemães de Paris, ele era talvez o único a saber que se preparava qualquer coisa. Dois dias antes, a sua amiga Simone, empregada de balcão num grande armazém, prevenira-o: ”Toma cuidado, as complicações vão começar no dia 19.”
Por toda a cidade, sós ou em pequenos grupos, a pé ou de bicicleta, as centenas de polícias em greve que iriam provocar as desordens que o Unteroffizier Winkelmann receava, começavam a abandonar os respectivos alojamentos e os edifícios onde se escondiam. Avisados durante a noite pela mensagem dos seus chefes, trazida por Claire, a secretária de Yves Bay et, tinham ordem para se concentrarem no largo do adro de Notre-Dame.
Do patamar da sua casa, por detrás do cemitério do Père-Lachaise, Gilberte Raphanel via o marido, o sargento de polícia René Raphanel, de 32 anos, descer a escada a custo. René sofria dum derramamento da sinóvia e, apesar dos conselhos prementes da mulher, decidira responder à chamada. Gilberte debruçou-se sobre o corrimão e gritou: ”Não andes muito!”
Ao fechar a porta da sua pequena habitação da Rua Manessier, em Nogent-sobre-o-Marne, Georges Dubret prometeu a sua mulher voltar para o almoço. Na véspera, a sua mãe trouxera-lhe uma lebre do campo. Colette começara a cozinhar um guisado quando a convocação de Georges chegou.
Perto dos Inválidos, no quarto do Hotel Moderno onde se ocultava desde o início da greve, um dos vinte mil agentes da polícia de Paris voltou a envergar o seu melhor fato, colocou no bolso a sua pistola 7.65, beijou Jeanne, sua mulher, e dirigiu-se para o largo Sainte-Clotilde. O seu nome era Armand Bacquer. Nada diferenciava este rijo bretão de 23 anos dos seus colegas. Tal como eles, fazia parte duma célula da Resistência. E também como eles nessa manhã, ignorava a causa daquela súbita convocação.
Quando chegaram em frente da igreja de Sainte-Clotilde, Bacquer e os seus camaradas receberam ordem para se apresentar no largo de Parvis-de-Notre-Dame escolhendo caminhos diferentes. Bacquer seguiu pela Rua de Crenelle. Andou alguns metros e estacou, a fim de ler o aviso que dois homens acabavam de afixar numa parede.
Era uma ordem de ”Mobilização Geral”. Uma voz rouca ressoou então na rua deserta. Bacquer voltou-se e viu-se na frente dum soldado alemão. Outros soldados surgiram. Em poucos minutos, Bacquer foi levado para uma espécie de dormitório que dava para o alpendre da entrada dum prédio, com o cano frio duma Luger encostado à nuca. O seu cartão de identidade da polícia e a sua pistola tinham-no atraiçoado. Para o bretão descuidado que nem mesmo sabia para onde ia nessa manhã, uma aventura extraordinária tinha começado.
Num extremo de Paris, um homem atarracado, de boina basca na cabeça, tomou a sua primeira aguardente do dia e subiu para o seu Citroen de duas toneladas, a gasogénio. Havia dezoito dias que Paul Pardou esvaziava e transportava, por conta da Resistência, os víveres dos depósitos secretos que uma organização policial ainda mais odiada que a Gestapo, a Milícia de Vichy, instalara exactamente na previsão duma insurreição. Apresentando falsas guias de transporte, em papel timbrado da Milícia, Pardou conseguira já apoderar-se de 180 toneladas de víveres.
Mas dois dias antes, ao telefonar à direcção da Milícia para comunicar que um carregamento se encontrava deteriorado, um funcionário mais zeloso dera origem a que se descobrisse a fraude. Desde então, todas as patrulhas da Milícia procuravam o misterioso camião verde.
No entanto, nesse dia, Pardou ia ainda tentar realizar outra surtida. Era sua intenção apoderar-se das armas dum depósito da Praça de Ia Villette e transportá-las às F. F. I. do arrabalde de Perreux, as quais se preparavam para se apoderar da Câmara Municipal. Enquanto fazia arrancar o seu ”gasogénio’’, Pardou jurou que aquela seria a sua última missão.
No seu pequeno apartamento situado nas traseiras das Halles, a dactilógrafa Lysiane Thill aspergiu de água o vestido branco que vestiria para o seu casamento, na administração do 1.º bairro. Com o ferro de engomar que aquecia sobre um fogareiro a papel, pôs-se a passá-lo cuidadosamente.
O homem que Lysiane Thill desposava não veria esse vestido. O noivo, o agente colonial Narcisse Fétiveau, estava prisioneiro num campo de concentração da Alemanha. Lysiane casava-se com ele por procuração.
Como todas as manhãs, o prior Robert Lepoutre, de trinta e cimco anos, atravessava a ponte do Double de olhos mergulhados no seu breviário. Com uma diferença de poucos segundos, a duração do seu passeio-leitura era sempre a mesma No último versículo, o pároco tinha ao alcance da mão o batente de ferro Só do portão de Sainte-Anne e penetrava na catedral de Notre-Dame para a sua meditação. No Largo do Parvis, o relógio do Hospital-Geral batia então 7 horas.
Mas nesse dia, o prior não terminaria o seu breviário.
Quando chegou ao adro da igreja, invariavelmente deserto àquela hora, deparou se lhe um espectáculo que jamais esqueceria. De boinas ou bonés na casa vestido casacos ou camisolas, ou ainda em mangas de camisa centenas de homens dirigiam-se em silêncio para as altas portas da Prefecture de Policia, situada na outra extremidade da praça.
Pouco depois, por cima da longa fachada cinzenta do edifício, o prior Lepoutre viu subir para o céu um grande pedaço de lona que, numa única sacudidela, se desdobrou no ar. Pela primeira vez em quatro anos, dois meses e quatro dias, uma bandeira tricolor drapejava sobre a capital da França.
À vista dessa bandeira, o prior guardou o seu breviário na algibeira e deixou-se também levar pela onda humana que rolava em direcção a Prefecture. Nos dias heróicos que vão seguir-se, haverá um capelão na fortaleza sitiada que virá a ser o berço da insurreição de Paris.
Amédée Bussière, o director-geral da polícia, acabava de acordar. Havia quatro dias que não era mais do que um homem só, no comando de um barco vazio.
Ao apelo da greve, os seus polícias tinham-no abandonado.
O Prefect estendeu a mão para a mesa de cabeceira e tocou para chamar o criado de quarto. Cinco minutos depois, hirto e digno como um mordomo britânico, o servidor entrou no quarto com o pequeno almoço.
Nada de novo, Georges?”, perguntou o director enquanto vestia o roupão.
”Sim, senhor director - respondeu o criado numa voz indiferente -, há novidades: eles voltaram.”
Amédée Bussière calçou as chinelas de quarto, correu para o corredor e estacou em frente da primeira janela que encontrou. A vista do espectáculo que se lhe deparou, crispou nervosamente as mãos na lapela do roupão. Centenas de homens, muitos dos quais armados de espingardas, revólveres, ou granadas, aglomeravam-se no pátio em redor dum Citroen negro.
”É a Revolução...”, murmurou o prefeito, acabrunhado.
Sobre o tejadilho do automóvel, um alentado jovem vestindo um fato pied de poule’’, o braço cingido por uma braçadeira tricolor, discursava à multidão. Era Yves Bayet. ”Em nome da República - gritava - , em nome do general De Gaulle, tomo posse da Direcção-Geral da Polícia!”
Um grande clamor saudou estas palavras. Depois, um clarim fez-se ouvir, nalgumas notas agudas dum hino que a multidão continuou em coro. Instintivamente, Amédée Bussière pusera-se em sentido. A ”Marselhesa” enchia os ares e subia, fremente, poderosa, para o céu de Verão.
Um ciclista solitário que, por acaso, passava sob as janelas da Prefecture parou e pôs-se também de ouvido à escuta. Nada poderia surpreender mais o comunista Rol do que aquela ”Marselhesa”.
No guiador da sua bicicleta, dentro dum saco tirolês, estava um exemplar da primeira ordem insurreccional que acabava de distribuir pelo seu estado-maior ’. E, no fundo do saco, cuidadosamente embrulhado, o uniforme que vestira pela última vez sete anos antes, no comboio de Barcelona que evacuava as brigadas internacionais. Mais tarde, nesse dia, no novo P.C. da Rua Schoelcher onde iria instalar-se, voltaria a vestir as velhas calças de flanela e o casaco com botões dourados no qual cosera quatro galões de coronel.
Rol estava estupefacto. A tomada do edifício da Direcção-Geral da Polícia, essa autêntica fortaleza, não fazia parte do seu plano de acção. Verificando subitamente que tinha sido ludibriado, decidiu vestir imediatamente o seu uniforme e entrar na Prefecture para impor a sua autoridade àqueles rebeldes que tinham agido sem a sua autorização e que se arriscavam a fazer comprometer o plano que ele próprio elaborara.
Mas o gaulista Yves Bayet preparava, nesse instante, uma nova surpresa ao coronel das F.F.I. Não longe dali, no boulevard Saint-Germain, saltando dum automóvel preto, acabava de abordar um homem de face macilenta, que lia um jornal na esplanada do café dos Deux Magots.
”Senhor director-geral, a Prefecture foi tomada. Está ao seu dispor.”
O homem teve um sorriso de satisfação. Ergueu-se, baixou a aba do chapéu mole sobre os óculos de aro de tartaruga, e entrou para o automóvel.
O seu nome era Charles Luizet. Lançado em pára-quedas sete dias antes, no Sul da França, esse ex-militar era o primeiro alto-funcionário que iria ocupar um cargo em Paris em nome do general De Gaulle.
Apoderando-se da Prefecture, uma cidade dentro de outra cidade, os gaulistas tinham desferido um grande golpe. As suas forças possuíam, a partir de então, um sólido porto de abrigo, a partir do qual poderiam manobrar e vigiar os seus adversários políticos.
Rol chegara uma hora tarde de mais.
Ao mesmo tempo que o novo Prefect, um desconhecido tímido entrou na Direcção de Polícia. Carregava duas pesadas malas e dirigiu-se imediatamente para o laboratório da Polícia Municipal. Nessas malas havia um estranho arsenal: oito garrafas de ácido sulfúrico e vários quilos de clorato de potássio. No segredo do laboratório de química nuclear onde a sua sogra descobrira o rádio, o desconhecido tímido preparara a fórmula duma garrafa explosiva que iria tornar-se numa arma temível nas mãos dos insurrectos de Paris.
O seu nome era Frederic Joliot-Curie.
Capítulo segundo
A insurreição dirigida por Rol alastrava com rapidez e eficácia por toda a capital. Nos quatro dias precedentes, as ordens tinham sido cuidadosamente redigidas e em seguida distribuídas. Num quarto próximo da Avenida Foch, onde podia ouvir o martelar surdo das botas das sentinelas alemãs, o adjunto de Rol em Paris,
1 Esta ordem prescrevia às F.F.I, a organização de patrulhas, a requisição de veículos, a ocupação de diversos edifícios e o uso da braçadeira.
um franzino professor de instrução primária chamado Dufresne, passara a noite a corrigir os últimos exemplares das ordens. Às 7 da manhã, no cais Conti, mesmo sob a vista dos alemães, transmitira essas ordens aos agentes de ligação. Desde a madrugada que os comunistas vinham afixando em todas as paredes da cidade os avisos ordenando uma ”Mobilização Geral”.
Para Rol e o seu estado-maior, os problemas a resolver nessa manhã eram complexos. Era necessário estabelecer ligações e contactos, instalar um quartel-general, fazer sair as armas dos seus esconderijos e distribuí-las aos ”comandos” das F.F.I. Nas centrais telefónicas da cidade, os agentes da Resistência executaram uma primeira missão, que viria a revelar-se capital para o desenvolvimento das operações: a sabotagem das mesas de escuta alemãs.
A seguir a esta fase de guerrilha, a missão dos soldados de Rol passava a ser relativamente simples. Resumia-se a uma frase que o próprio Rol pronunciara e que deveria tornar-se no estribilho da revolução: ”A cada um o seu Boche.” A partir das 7 da manhã, em toda a cidade de Paris, as F.F.I, tinham começado a executar a ordem. Em pequenos grupos, tinham atacado, por toda a parte, os soldados e os veículos alemães isolados. A sua primeira finalidade era armarem-se a si próprios desarmando ao mesmo tempo os ocupantes de Paris.
No Hotel Meurice, os primeiros relatórios que aí foram recebidos provocaram a estupefacção e a cólera do general Von Choltitz: desde as 9 horas da manhã que as escaramuças se multiplicavam através de Paris. Para Choltitz, era surpreendente o desencadear duma revolta generalizada. Á excepção de algumas insípidas informações de carácter geral, que davam conta de um ”certo mal-estar’’ no seio da população civil, os seus serviços de informações não lhe tinham feito qualquer advertência. O seu próprio relatório, enviado nessa manhã ao Grupo de Exércitos B e à O. B. West, garantia que a cidade estava ”perfeitamente calma’’. Mas os primeiros motins que acabavam de estalar por toda a cidade, à mesma hora e utilizando processos idênticos, indicavam claramente ao comandante do Gross Paris que se tratava de um plano organizado.
A fisionomia da cidade modificara-se já, nessas duas primeiras horas de insurreição. Pairava sobre as ruas desertas uma surda e pesada ameaça. Os raros transeuntes caminhavam rente às paredes. De tempos a tempos, sob o olhar atónito duma porteira, passava como um furacão um automóvel ou um camião pintalgado com as letras F.F.I. Mas, em especial, um barulho novo ressoava em Paris nessa manhã, som esse que as ruas da cidade já não ouviam desde 1871: o da pólvora a rebentar.
Para um pequeno grupo, reunido na sala Império duma residência da Rua Bellechasse, a poucas centenas de metros do Sena, o tiroteio que se ouvia era a cruel ilustração duma frase que Jean-Paul Sartre escrevia nesse preciso momento: ’’ Quando deliberamos, o jogo está na mesa.’’ Esses homens que ’’ deliberavam” pertenciam ao Conselho Nacional da Resistência. Tinham-se encontrado naquela sala para aprovar o desencadear da revolta. Mas, no mesmo instante em que, na sua voz rouca, o professor de História, Georges Bidault, tomava a palavra, o ruído da fuzilaria encheu a sala. O enérgico chefe comunista André Toilet colocava a assembleia perante um facto consumado. Este participou então que a insurreição prosseguiria, quer os seus colegas a aprovassem quer não.
Estas palavras punham o alto funcionário que naquele salão representava Charles de Gaulle perante um terrível dilema. Alexandre Parodi estava convencido de que ”a insurreição era tanto um gesto político dos comunistas como uma tentativa para derrotar os alemães”. E, no entanto, ao autorizar a tomada da Direcção-Geral de Polícia, Parodi reconhecera o próprio princípio da insurreição. A partir de então, se fizesse marcha atrás, abandonaria o comando aos comunistas, e abriria uma brecha irreparável na unidade da Resistência.
Mas, sobretudo Parodi receava que a sua decisão acarretasse o risco de levar à destruição de Paris.
De qualquer forma, não havia por onde escolher. Duas horas depois de ter rebentado a revolta estendia-se já a toda a cidade.
Nada mais restava a Parodi do que tentar dirigi-la. Voltando-se então para Georges Bidault, tomou sobre si a responsabilidade de dar a bênção do chefe da França Livre ao movimento que tinha ordem para impedir.
Por Paris inteira a insurreição entrava já na sua segunda fase. Gfupos F. F. I. iam executando o plano minuciosamente preparado por Rol. Ocupavam a administração dos vinte bairros da cidade, os comissariados de polícia, os edifícios municipais, os postos dos correios e até os matadouros, a morgue e o teatro da Comédie Française.
E, por toda a parte, o primeiro acto de vingança era fazer drapejar sobre as pedras da cidade as cores proibidas da França. Pelas ruas e contra o céu, nas janelas e sobre os telhados, ressurgindo da poeira ou confeccionadas à pressa com trapos ou feitas de tecidos caros, centenas de bandeiras tricolores apareciam como outros tantos desafios às cruzes gamadas que flutuavam nos edifícios alemães.
Com a capota erguida, um Mercedes cinzento rolava silenciosamente ao longo dos plátanos de folhas já amarelecidas. Sentado ao lado do motorista, o alferes Von Arnim ia admirando as fachadas finamente cinzeladas do palácio do Louvre. Os cais estavam quase desertos e tudo parecia tão calmo e tranquilo que o jovem oficial subalterno mal podia supor que Paris pudesse apresentar outro aspecto. Nessa manhã, só a imagem do seu próprio automóvel fazia lembrar a guerra ao oficial. No banco traseiro, dois sargentos de capacete de aço, armados de pistolas-metralhadoras, vigiavam as janelas dos edifícios. Mas nada parecia indicar a presença duma ameaça.
Arnim fez um sinal ao motorista e o automóvel dirigiu-se para a ilha da Cite e a Prefecture de Polícia. Por detrás das torres gémeas da prisão da Conciergerie, que dominavam esta ilha carregada de tesouros por onde o jovem oficial tantas vezes passeara despreocupadamente, apareceu a flecha da Sainte-Chapelle, erguida para o céu como uma espada. A esquerda, ao longo do cais das Flores, Arnim reparou nuns poucos ramos de árvore que punham uma mancha de cor no empedrado. No cimo da Torre do Relógio, os dois ponteiros dourados do enorme mostrador marcavam as 11 horas.
A primeira detonação ressoou, na avenida vazia e silenciosa, como ”um toque de címbalo”. Imediatamente uma chuva de ferro abateu-se sobre o Mercedes. Um dos soldados largou a arma e caiu para a frente. Aterrado, Arnim gritou para o motorista: ”Mais depressa, mais depressa!” Mas o automóvel, com os pneus rebentados, avançava com dificuldade. O capacete do segundo sargento rolou para o fundo do carro. O alferes viu um orifício aberto no meio da cara do sargento. Como era possível que aquela brutal imagem da morte surgisse numa rua de Paris?
Nessa noite, às zero horas, graças à cumplicidade do seu amigo Ernst von Bressensdorf, chefe das transmissões do Hotel Meurice, Arnim telefonará para o castelo da sua família, em Gross Sperrenwalde, perto de Prenzlau. ”Mãe- dirá ele -, Paris tornou-se no inferno.”
Mãe-dirá
A fotografia ficaria um pouco tremida. No momento preciso em que o fotógrafo, oculto sob um pano preto, apertava na mão a pêra de borracha do disparador da máquina, os recém-casados Pierre e Gabrielle Bourgin tinham estremecido: numa rua situada nas traseiras da igreja de Notre-Dame-de-Grace de Passy, uma rajada de metralhadora cortara violentamente a tranquilidade do ambiente.
Digno, um tanto ou quanto afectado, o noivo ofereceu o braço à esposa e encaminhou-se para um trem cheio de cravos brancos que os esperava em frente da igreja. O cocheiro fez estalar o chicote e o cavalo baio partiu a trote curto através das ruas desertas, por onde ressoavam os disparos das espingardas e o crepitar das metralhadoras. Pedalando, de costas curvadas, os convidados para a boda seguiam de bicicleta atrás da equipagem.
Na Rua de Passy, na soleira das portas, espectadores admirados viam passar o estranho cortejo em direcção ao tiroteio. Alguém gritou: ”Viva a noiva!’’
No interior da Prefecture de Polícia, Edgar Pisani cofiava a sua barba preta nervosamente. À direita, na sua secretária, num painel inclinado, oitenta luzes acendiam-se a apagavam-se simultaneamente. Os comissariados de polícia de Paris inteira chamavam sem cessar a central da Direcção-Geral. Mas o novo chefe de gabinete ao Prefect, Luizet, não sabia que atitude tomar perante esses apelos. Ele desconhecia até como funcionava o seu próprio telefone. Por fim, tomou uma decisão: carregando ao acaso num botão, levantou um auscultador. Na linha havia uma voz que tremia: ” Os boches atacam em força a Maine de Neuilly...” O resto da frase perdeu-se no estrondo duma explosão. No boulevard do Palácio, a fuzilaria que rebentara sobre o alferes Von Arnim recomeçara. Pisani desligou e correu para a janela. No meio da rua, um camião alemão atingido por uma garrafa incendiária ardia como um archote. ”Parecia que estavam numa feira - diz ele.
- As balas atingiam os soldados que se escapavam do braseiro e faziam-nos dar cambalhotas, como paulitos no jogo da malha.”
Mas, de todos os alemães que nessa manhã caíram para sempre no vespeiro da ilha da Cite, nenhum vendeu mais cara a vida do que o homem que atulhara de explosivos a central da Rua Saint-Amand, o Feldwebel Bernardt Blache, do 112.º Regimento de Transmissões. Sob os fogos cruzados da Prefecture e do Palácio da Justiça, o seu camião tinha sido crivado de balas. Os dois soldados, deitados sobre os guardas-lamas, nem sequer tinham tido tempo de disparar. Soltaram um grito e rolaram no asfalto. Com o pé direito trespassado por uma bala, o motorista carregou no acelerador. Mas na esquina da Rua de Lutèce, o camião desarvorado foi esmagar-se contra uma árvore. Blache lembra-se de ter gritado ”Alies al ranter!” e de ter ele próprio saltado para o pavimento, para se abrigar atrás do veiculo. Na caixa do camião, com os braços em cruz, um soldado atingido no ventre gemia de dor e exclamava: ”Bernardt, Bernardt, socorro...” Blache viu então um oficial alemão, com os olhos quase fora das órbitas, desembocar da Rua de Lutèce despejando a sua pistola contra um inimigo invisível. Uma bala explosiva fê-lo parar em plena corrida. Blache viu a cabeça do homem explodir literalmente e o seu corpo rolar no passeio. Os atiradores estavam tão próximos que, nos curtos momentos de calma, o alemão podia distinguir o som das suas vozes. Blache rastejou ao longo do camião e acocorou-se atrás da cabina. Debruçado sobre o volante, o motorista estava morto. Através do vidro, ele reparou então num braço nu que saía do vão duma janela e se balançava no ar. Na extremidade do braço havia uma garrafa envolta num pano. Dum salto, Blache ergueu-se e largou a correr como um louco em direcção ao parapeito da ponte do Change. Mal saíra de junto do camião, sentiu o pavimento tremer sob os seus pés. O camião explodira. A volta do alemão, as balas explosivas levantavam pequenos vulcões de asfalto negro. Quando alcançou o parapeito da ponte, o fugitivo deitou-se de bruços no chão e aguardou. O que então viu ser-lhe-ia para sempre incompreensível: sob a metralha, digno e impassível, um cavalheiro de idade, de chapéu mole e bengala, seguia sem pressa ao longo da ponte. O alemão apontou para ele a sua pistola-metralhadora e perguntou a si próprio se deveria abatê-lo.
Segundos mais tarde, Blache ouviu atrás de si uma série de apitadelas. Disse para consigo que os franceses se iam lançar em sua perseguição. Espreitando cuidadosamente por cima do parapeito, observou a Praça do Châtelet. Na outra extremidade da ponte estava um grupo de civis. Resolveu tentar abrir passagem por aí. Empunhando em cada mão o cabo duma granada, deixou o seu refúgio e largou a correr para a multidão, gritando como um possesso. Aterrorizados pelo súbito aparecimento desse espectro coberto de poeira e de sangue, que gesticulava brandindo as duas granadas, os civis fugiram. Blache viu-se rapidamente só, no meio do cais deserto. Um automóvel surgiu nesse instante, vindo da praça. O alemão mandou-o parar e ordenou ao francês que o conduzia que o transportasse ao Hotel Meurice.
Chegado ao edifício, segurando sempre as suas granadas, o sargento precipitou-se para o primeiro andar, irrompendo escadas acima. Escancarando a primeira porta que viu na frente, gritou:
”Mas, meu Deus! De que é que estão à espera-para mandar sair os tanques! Os meus homens estão a grelhar como chouriços!”
Capítulo terceiro
Na administração do bairro de Neuilly os tanques já aí se encontravam. Dois Phanther tinham tomado posição no largo e um terceiro no pátio, nas traseiras do prédio. Dentro da Maine,
cercados e metralhados havia três horas, os homens de Zadig disparavam os seus últimos cartuchos. O soalho do salão de festas estava juncado de estilhaços de granadas, de balas, de cacos de vidro e de pedaços de estuque. Os quadros, dilacerados, pendiam das paredes forradas a madeira, por sua vez retalhadas e crivadas de buracos. Na sala de reuniões do conselho municipal, no cimo da escada de mármore, os mortos e os moribundos jaziam lado a lado sobre a grande mesa. Havia rios de sangue correndo pelo chão. As gravatas dos homens serviam de garrotes. Não havia, em todo o edifício, uma gota de álcool ou um bocado de ligadura.
Jamais André Caillette poderia esquecer o olhar de angústia de um dos seus homens que, com o ventre rasgado, implorava socorro. Caillette fez a única coisa que lhe parecia possível: meteu os intestinos no ventre do ferido a apertou-lhe o cinto das calças três furos.
Os alemães disparavam sem parar sobre os insurrectos, das varandas, das janelas e dos telhados dos prédios vizinhos. No telhado fronteiro, Charles, o irmão de André Caillette, viu um alemão sair duma água-furtada e amarinhar pelas telhas de ardósia. Charles era o melhor atirador de Neuilly. Como se estivesse na caça, ergueu a arma, apoiou-a no ombro e disparou uma única vez. O alemão escorregou, deixando atrás dele um rasto avermelhado. Tentou agarrar-se ao rebordo da goteira. Depois, com um longo uivo, caiu no espaço.
Na retaguarda da Maine, protegida por um pequeno muro coberto de hera, uma metralhadora varria todas as aberturas do edifício; Charles apoiou o cano da sua velha espingarda ao parapeito duma janela e apontou cuidadosamente. Fulminado, o servente da metralhadora rolou no chão. Charles viu então duas mãos agarrarem as botas do soldado e puxarem o corpo para trás do muro. Outro soldado correu a tomar o seu lugar e a metralhadora recomeçou a fazer fogo. O alemão tinha descoberto o francês. A primeira rajada atingiu a janela e fez saltar a velha boina de Charles. O homem da espingarda dirigiu-se para outra janela, ergueu a arma e fez novamente fogo. O servente da metralhadora abriu bruscamente os braços e caiu desamparado. Outras mãos apareceram e puxaram o seu corpo para lugar seguro. Um terceiro homem estava já acocorado atrás da metralhadora. Charles mudou de janela e disparou de novo. Dessa vez nenhuma mão apareceu para retirar o corpo contorcido. A metralhadora calara-se de vez.
Mas um novo barulho se sucedeu, logo a seguir, ao crepitar da arma automática: o do canhão. Os carros de assalto acabavam de entrar em acção. O primeiro obus, fumífero, explodiu no gabinete do maire. André Caillette teve a impressão de que as paredes se iam desmoronar. Uma espessa nuvem cinzenta obscureceu-lhe a vista, e sentiu o fumo queimar-lhe os olhos e a garganta. Começou a rastejar sobre
o tapete, procurando sair da sala. Então, no meio do estrondo das explosões, ouviu o retinir tímido duma campainha. ”O telefone...” Tacteando aqui e ali, procurou a secretária donde provinha o som da campainha, conseguindo por fim descobrir o aparelho. ”Daqui fala o Comissariado de Polícia de Chartres - dizia uma voz transtornada -, os americanos acabam de chegar! Caillette quis responder, mas a língua parecia-lhe paralisada. ”É uma torrente ininterrupta de tanques e de camiões!” gritava entusiasmada a voz no auscultador. Caillette, sempre incapaz de articular uma palavra, conseguia ouvir pedaços de frases através do fragor das explosões. ”Camiões tão grandes continuava a voz -, que podem transportar três tanques de cada vez... É fantástico!” Subitamente Caillette sentiu crescer nele um desejo enorme de chorar. Estava possuído de dois sentimentos opostos e contraditórios: a alegria de saber os americanos tão próximos e a raiva de ver na sua frente aquele tanque alemão, cujos obuses acabariam por pulverizá-los, a si e aos seus camaradas, mesmo à beira da vitória. Caillette deixou pender o auscultador da extremidade do fio. E de lágrimas nos olhos, sufocado, arrastou-se até ao salão de festas.
Esgotados, desencorajados, os insurrectos de Neuilly disparavam os seus últimos cartuchos. Caillette entrou na sala a gritar: ”Rapazes, os americanos estão em Chartres!1 ” E com a voz rouca pelo fumo e pela emoção, começou a cantar: Allans, enfants de Ia Patrie...” Entoada imediatamente por todos, uma ”Marselhesa” poderosa jorrou então das janelas destroçadas do edifício sitiado.
Nas varandas, nas janelas das suas casas, os habitantes do bairro começaram também a cantar. Durante alguns emocionantes minutos, os acordes frementes da ”Marselhesa” sobrepuseram-se ao fragor da batalha. A cem metros da Maine, atrás dos vasos de gerânios duma pequenina varanda, André Caillette distinguiu o vulto familiar duma mulher que cantava. Era a sua mulher.
Um a um, os insurrectos caíam. Desde o início do combate tinham já morrido 10 deles, e havia cerca de 40 que jaziam, gravemente feridos, nos gabinetes e corredores.
Ampliada por um altifalante, uma voz alemã ressoou então na rua: ”Rendam-se! Vamos destruir o edifício e vocês serão arrasados!” Os sobreviventes responderam com uma rajada de metralha.
Um tanque avançou pela praça e disparou uma granada explosiva sobre o portão de ferro. Depois, as lagartas morderam os degraus da pequena escadaria de entrada e o enorme engenho atirou-se contra a Maine. Caillette e os seus homens não dispunham de garrafas explosivas. Emboscados por detrás da balaustrada de mármore do vestíbulo, sufocando na poeira e no fumo, disparavam os seus derradeiros cartuchos sobre o monstro cinzento que cuspia relâmpagos. A partir desse momento, a sua situação podia considerar-se desesperada.
Abandonando a posição, começaram a rastejar em direcção à entrada para a cave. André Caillette levantou um alçapão de cimento e os homens saltaram para um buraco que comunicava com um pequeno quarto. Ao fundo desse compartimento, uma parede de tijolos tapava a entrada dum estreito túnel que dava directamente para o grande esgoto da Avenida do Roule. Para eles, aquela era a única via de salvação.
Um dos homens arrancou a camisa, embrulhou nela cuidadosamente o ferro duma picareta e pôs-se a derrubar, sem barulho, o tabique.
Empilhados na escuridão, os fugitivos ouviam o martelar das botas alemãs sobre as suas cabeças. Os alemães tinham acabado de capturar os seus camaradas que haviam ficado nos andares superiores, e empurravam-nos escadas abaixo. Pouco depois, agachado sob o tampão do buraco, André Caillette ouviu os passos dos soldados que os procuravam. Um par de botas parou mesmo por cima do alçapão. Pequenos bocados de cimento soltaram-se e caíram sobre a cabeça de Caillette. O alemão chamava por alguém, sem dúvida para o ajudarem a erguer a pesada laje. Caillette retinha a respiração, esperando ver a todo o momento o raio de luz que surgiria quando o alçapão fosse aberto.
Defronte da Prefecture de Polícia, os canhões alemães tinham acabado de ser postos, aí também, em bateria. O primeiro obus fez o portal voar em estilhas.
1 André Caillette nunca conseguiu identificar a voz que telefonou nesse dia para a Maine de Neuilly, da polícia de Chartres. Segundo as declarações recolhidas pelos autores deste livro, muitos habitantes de Chartres telefonaram nesse dia para Paris. A maior parte das centrais telefónicas ocupadas nessa manhã estava em poder da Resistência.
Com a violência da explosão, Edgar Pisani revoluteou no meio duma nuvem de destroços e estatelou-se violentamente no chão. Estava ileso, mas perdera os óculos. Atrás de si ouviu alguém esclamar: Os carros! É o fim!
Dois Panther e um Renault do 5.° Regimento de Segurança tinham tomado posição no adro de Notre-Dame e bombardeavam a Direcção-Geral de Polícia. Eram 3 horas e 30 da tarde.
As primeiras salvas de obus causaram uma impressão terrível nos insurrectos. Por detrás dos seus irrisórios sacos de areia, com as suas pequenas metralhadoras, as suas espingardas e pistolas, sabiam bem que não poderiam opor senão uma resistência simbólica ao assalto alemão. Iam ser massacrados. Inúmeros polícias, de súbito apavorados, decidiram então abandonar a posição e fugir. O prior Robert Lepoutre, que se tornara no seu capelão, viu-os sumirem-se às dezenas pelas escadas do subterrâneo que comunicava com a estação do metropolitano Saint-Michel, na margem esquerda do Sena.
Mas a intervenção dum único homem enérgico sustou o pânico. O subchefe de polícia Antoine Fournet, chefe do ramo de resistência ”Honra da Polícia”, precipitou-se para a entrada do subterrâneo e falou aos que procuravam escapar-se. ”Nós estamos presos como ratos - gritou através do fragor das explosões-, a única esperança de salvação que nos resta é vencermos!” Ao proferir estas palavras, Fournet brandia uma pistola e declarou que abateria qualquer homem que procurasse fugir.
No outro extremo da Prefecture, o operador do telégrafo interno da polícia parisiense escutava a voz grave de Pisani e escrevia directamente a mensagem no teclado do seu telescritor. ”Assalto alemão à Prefecture iminente - ia ditando Pisani -, pedimos nos envie todas as vossas forças disponíveis em redor da ilha da Cite para atacar inimigo pela retaguarda...” No painel colocado na sua frente acendera-se uma luz vermelha. O operador carregara no botão marcado A. G. (alerta geral.) Dentro de segundos, o pedido de socorro chegaria a todos os comissariados de polícia de Paris e dos arrabaldes. Eram 3 horas e 45 da tarde.
Imediatamente, de todos os bairros de Paris, sós ou em pequenos grupos, os homens puseram-se a caminho da ilha sitiada. Nenhum dos grupos que pouco depois chegaram às margens do Sena apresentava um aspecto tão patético como o pequeno bando de quatro adolescentes comandados por um jovem funcionário público chamado Jacques Piette.
A única arma que possuíam era uma
velha metralhadora Hotchkiss. Colocaram-na em posição sobre o parapeito, coberto de musgo, do cais de Montebello. Jeannot, um rapazinho de rosto magro e pálido, tinha à volta do pescoço a única cartucheira de que dispunham para municiar a metralhadora.
Do outro lado do Sena, encostados às portas do Julgamento e da Virgem, os carros alemães tinham agora a Prefecture sob a mira dos seus canhões. Abrigados atrás das blindagens, os soldados de infantaria disparavam sobre os vãos das janelas.
Jacques Piette fez fogo. Ele nunca esquecerá a exaltação que sentiu nesse instante ao pensar que ia finalmente combater a peito descoberto.
O Panzer-Gefreiter Willy Linke, de 27 anos de idade, do 5.~º Regimento de Segurança, com os olhos colados ao seu periscópio, reparou na pequena chama que a metralhadora de Piette cuspia. Fez girar a manivela da sua torrinha.
”Deitem-se ao comprido!”, gritou Piette, deixando cair por terra a metralhadora. A torre do tanque movia-se lentamente na direcção do cais de Montebello. De bruços no asfalto, Piette e os seus camaradas aguardavam o disparo do canhão, em terrível silêncio.
No interior da torrinha, de olho fixo no colimador, Linke esperava. Ele recorda-se de ter visto surgir uma cabeça por cima do parapeito. Como não podia desperdiçar obuses, limitou-se a carregar no disparador da sua metralhadora coaxial. Uma chuva de balas partiu do carro.
Piette ouviu os projécteis trespassar os ramos das árvores por detrás dele e esmagarem-se contra as pedras da igreja Saint-Julien-le-Pauvre. Pensou que o carro tinha disparado muito alto. Mas de repente, ao voltar-se para a esquerda, o seu olhar caiu sobre um charco de sangue. Com a cabeça caída na sarjeta, uma expressão de pavor nos olhos, Jeannot, o rapazinho de quinze anos, o pequeno municiador da velha Hotchkiss, jazia por terra. Piette rastejou até junto dele e pôs-se a abanar-lhe uma perna gritando: ”Jeannot... Jeannot!”
Mas Jeannot tinha o pescoço rebentado por uma bala explosiva. Estava morto. Fazia quinze anos nesse dia.
A poucas dezenas de metros’ dali, um moribundo, atingido nos intestinos, estendia a sua pistola a um estudante de filosofia que passava junto dele: ”Toma - disse o moribundo -, vai vingar-me...”
Na cave da Prefecture, outros homens forjavam outras armas para outras vinganças. As garrafas de champanhe da reserva do antigo Prefect eram esvaziadas e o seu conteúdo lançado por terra. Cheias novamente de ácido sulfúrico e de gasolina, eram depois enroladas num papel embebido em clorato de potássio. Um destes projécteis entrou pela torrinha aberta do carro vizinho do de Willy Linke, e enorme chama amarela jorrou do tanque enquanto este, ao mesmo tempo, começava a arder, tornado numa fogueira imensa. Linke, com um gesto de raiva, fechou e aferrolhou cuidadosamente a escotilha e colocou outro obus na camará da culatra do seu canhão.
Na Prefecture, no meio das explosões, Pisam recebeu um telefonema de Alexandre Parodi, já instalado no seu novo P.C. da Rua Séguier. Recomendava-lhe este que evacuasse imediatamente a Prefecture, única forma de não serem massacrados. Mas Pisani respondeu calmamente que os alemães cercavam por completo o edifício e cobriam todas as retiradas. ”Aqui estamos, aqui ficamos. É o melhor”, garantiu.
Por três vezes o telefone tocará nesse gabinete no decorrer do dia e vozes angustiadas implorarão aos defensores da Direcção-Geral de Polícia que abandonem o edifício. Mas de todas as vezes a resposta será sempre uma recusa.
Às 5 horas da tarde as munições estavam no fim. ”Restam-nos apenas dois minutos de fogo”, participou o subchefe Fournet a Pisani. Ao ouvir estas palavras, Pisani pegou no telefone e marcou um número: ”És tu, Laurence?”,
perguntou. E baixando a voz, murmurou: Dá um beijo por mim ao Francis e à Hervè... Não sairemos vivos daqui. Acabaram-se-nos as munições. Só a chegada dos Americanos nos poderia agora salvar...”
Mas, para o punhado de americanos reunidos num atrelado de estado-maior a
400 quilómetros para oeste, Paris, nesse dia, não passava ”duma mancha de tinta nos mapas, que era necessário evitar no caminho para o Reno”. Os mapas em questão eram os do E. A.G.L.E.T. A.C., o quartel-general avançado do 12.º Grupo de Exércitos Americanos, instalado num pomar próximo de Lavai, nas margens do Mayenne. Nesses mapas se inscreverá em breve o destino de Paris.
Para o americano tranquilo, de óculos com aros de aço, que comandava o 12. Grupo de Exércitos, o general Ornar N. Bradley, Paris devia ser evitada e todo o custo. Bradley tinha apenas um objectivo: empurrar os seus homens, tão depressa e tão longe quanto possível, em direcção ao Reno, antes que o inimigo tivesse tempo de se recompor e de reorganizar o seu sistema defensivo. E para alcançar esse fim, apenas precisava duma coisa: gasolina, cada vez mais gasolina.
Ora, dois dias antes, o comandante supremo comunicara-lhe que os seus suprimentos diários de carburante seriam reduzidos de 300 000 litros a partir do dia em que Paris fosse libertada ”a fim de permitir o encaminhamento de víveres para a cidade”. Estes algarismos tinham-no horrorizado. Com 300000 litros de gasolina ele fazia avançar um corpo de exército cerca de 45 quilómetros.
No interior do seu atrelado, Bradley, sério e pensativo, ouvia o chefe da sua 4.a Repartição enumerar os algarismos dos quais dependia o resultado da guerra: a tonelagem de carburante desembarcado na véspera nas praias, a tonelagem encaminhada através das vias de abastecimento, a tonelagem destinada às reservas dos depósitos divisionários. De dia para dia Bradley verificava que o volume das duas últimas tonelagens diminuía. Para o chefe do 12.º Grupo de Exércitos, segundo o seu ajudante-de-campo, o major Chet Hansen, ”isso equivalia a ver um homem perder o seu sangue sob os seus olhos”’ .
Absorto nas suas preocupações, Bradley não viu o oficial que entrara no seu gabinete móvel. Este era portador duma mensagem alemã que acabava de ser interceptada. O general Edwin Siebert, chefe dos serviços de Informação de Bradley, assinalou-a incidentalmente no seu relatório dizendo: ”Parece que a população civil provocou motins em Paris.” Bradley endireitou-se na cadeira.
”Por Deus, Eddie - ordenou -, informa-te imediatamente sobre o que se está a passar na capital.” A expressão de Bradley tornara-se repentinamente inquieta e cheia de apreensão. A insurreição de Paris rebentava exactamente no mesmo dia em que Dwight Eisenhower desencadeava a ofensiva que devia contornar a cidade. Horas antes da conferência da E. A.G.L.E.T. A.C., depois duma longa troca de impressões com os seus oficiais de manutenção, alguns dos quais lhe imploraram que esperasse que os exércitos tivessem reconstituído as suas reservas, Eisenhower dera ordem às suas forças para transporem o Sena. À hora em que a Edgar Pisani e aos seus camaradas, à míngua de munições no interior da Prefecture sitiada, só lhes restava, como única esperança de salvação, a chegada dos Aliados, os primeiros elementos do 313.º Regimento de Infantaria americano atravessavam o rio perto de Nantes-Gassicourt e iniciavam a larga manobra aliada em redor de Paris.
1 No dia 5 de Agosto, cinco dias após o desembarque na Normandia da sua divisão, o general Leclerc, comandante da 2.a Divisão Blindada Francesa, enviara o seu chefe de estado-maior ao general americano John S. Wood, comandante da 4.a Divisão Blindada U.S., com a missão de se informar acerca dos problemas especiais que se levantavam a uma divisão blindada em operações. Estiraçado no seu atrelado, de copo de uísque na mão, o pitoresco Wood respondera ao tenente-coronel de Guillebon: ”A única coisa que nos faz parar é a falta de gasolina. Diga a Leclerc que mande os seus homens encher as cantinas, os cantis, as algibeiras de gasolina. Precisamos sempre de mais, e mais.”
3000 quilómetros a leste do pomar normando onde Bradley e o seu estado-maior acabavam de se reunir, outra conferência começava nesse dia, e o principal assunto a abordar seria também Paris. Adolf Hitler não estava ainda ao corrente do alastramento da insurreição nas ruas de Paris. Na véspera, a O. B. West assinalara, no entanto, à O. K. W. que alguns recontros esporádicos se tinham verificado nos subúrbios, entre ”terroristas” e tropas alemãs. O general Walter Warlimont considerara essa informação tão grave que ordenara fosse transcrita na máquina de escrever especial do Fúhrer e levada ao bunker do comandante supremo. ”É mais uma razão para não declararmos Paris cidade aberta”, resmungara apenas Hitler.
Logo que a conferência da O. K. W. teve início, fez a seguinte pergunta:
”Onde está o morteiro?”
Embaraçado, o general Buhle respondeu que o morteiro Karl e os vagões de munições que o acompanhavam não tinham ainda conseguido alcançar a fronteira. ”Esse atraso -explicou Buhle - , devia-se aos bombardeamentos aliados das vias férreas. Hitler, furioso, fez notar a Buhle que recebera a promessa formal de que Karl estaria em Paris a 22 de Agosto. Voltando-se para Jodl exigiu ”prioridade absoluta” no transporte do morteiro.
Em seguida, de novo o Fúhrer afastou com um gesto brusco os mapas da frente Leste que o chefe de estado-maior colocava na sua frente.
”A frente Oeste primeiro”, ordenou.
No mapa à escala 1/200 000 da região parisiense que Hitler estudara longa e atentamente seis dias antes, no decorrer duma conferência similar, Paris surgia agora como o eixo à volta do qual girava toda a frente Oeste. Era evidente para Hitler que a mancha negra formada pela cidade no meio do mapa era uma posição estratégica essencial. Na sua opinião a única esperança de travar o avanço aliado sobre o Sena e o Ruhr residia na possibilidade de conseguirem manter-se na posse da cidade. Os bombardeiros aliados tinham destruído a totalidade das pontes sobre o Sena, excepto as de Paris, e por isso a capital tornara-se numa espécie de funil, pelo qual tinha de se escoar todo o abastecimento das forças alemãs instaladas ao sul do Sena. As objecções de ordem militar apontadas por Choltitz, contra uma destruição prematura das pontes de Paris, revelavam-se justificadas. Hitler acedera finalmente a prorrogar a destruição das pontes ”até elas deixarem de ser utilizadas pelo exército alemão”.
Numa voz grave e decidida, Hitler repetiu novamente aos seus generais o que tantas vezes já lhes dissera. Visto ele considerar indispensável conservar Paris, exigiu de novo que todos os reforços disponíveis fossem postos à disposição do comandante do Gross Paris, A fim de se certificar pessoalmente, ordenou que lhe fosse apresentada a situação das reservas no conjunto da frente Oeste. Na posse desses elementos, pensou primeiro transferir dos Alpes para Paris diversas unidades dependentes do marechal Kesserling. Depois decidiu, por razões de rapidez, que às 26.a e 27.a divisões S. S. Panzer, estacionadas na Dinamarca, fossem enviadas ordens de marcha para se dirigirem para Paris ’. Warlimont garantiu a Hitler que os elementos avançados dessas divisões, progredindo de noite a fim de evitar os ataques aéreos aliados, poderiam atingir a região de Paris a 25 ou 26 deAgosto.
Hitler ditou em seguida as instruções que destinava àquele que designara para restabelecer e frente Oeste, o marechal Walter Model. Este devia ”constituir com o 1º Exército e o 5 º Exército Blindado um cinturão defensivo em frente de Paris”1.
Ao homem de quem esperava milagres, Hitler definiu então aquele que deveria ser o primeiro dentre todos esses milagres. ”A missão mais urgente do comandante-chefe do Oeste - ordenou a Model -, é reunir e concentrar as suas unidades em frente de Paris2.” Hitler estava resolvido a não permitir o menor desfalecimento na defesa da capital. O ditador ignorava ainda que havia oito horas que, nas ruas de Paris conquistada por si, os soldados da Wehrmacht’ ’grelhavam como chouriços’’ e caíam sob as balas do povo revoltado.
Capítulo quarto
Defronte da Maine de Neuilly, o elegante coronel Hans Jay, o frequentador das boítes parisienses, fez uma careta à vista dos seis corpos de alemães estendidos sobre o passeio. Então, erguendo os olhos para os prisioneiros alinhados contra a parede, decidiu mandar fuzilá-los.
Entre os prisioneiros encontrava-se Pierre Berthy e o seu jovem vizinho Lucien lê Guen. O salsicheiro tinha dificuldade em se manter de pé. Os alemães tinham-no capturado no momento em que ele ia alcançar a cave da Maine e tinham-no espancado.
Max Roger, o maire vichista de Neuilly, tentou convencer o coronel Jay de que entre os prisioneiros havia muitos funcionários da Maine. Jay disse-lhe que os indicasse. Depois, deu ordem para que os prisioneiros fossem conduzidos à Kommandantur da Avenida de Madrid.
Quando a mísera coluna se pôs em movimento, recorda Pierre Berthy, soaram aplausos em todas as janelas. Nos passeios havia mulheres que choravam e rezavam em voz alta.
Perto, no subsolo, escondidos no obscuro reduto sob o alçapão, os fugitivos da Maine ouviram finalmente o ruído das águas do esgoto. O tabique de tijolos acabara de cair. Uns a seguir aos outros, os homens deslizaram pela abertura, mergulharam até à cintura na água fétida e puseram-se a caminho. Charles Caillette transportava às costas André Guérin, um antigo combatente de Verdun. Minutos antes, no gabinete do maire, a perna de madeira de Guérin tinha sido arrancada por um estilhaço de obus. ”Graças a Deus -desabafara Guérin -, eles arrancam sempre a mesma!” Por cima das suas cabeças, os fugitivos continuavam a ouvir ressoar os passos dos soldados alemães. Num canto, o engenheiro Francois Monce, que seria o último a sair e o seu filho Bernard, de 17 anos, oravam.
1 O 1.º Exército, composto sobretudo de divisões transferidas dos Países Baixos, era o exército mais bem equipado da frente Oeste
2 WFST/OP 7752/44 PC Blitz 19.8.44 (Arquivos O.K.W.)
Quando chegaram defronte da Kommandantur, Pierre Berthy e os seus 20 camaradas receberam ordem de formar um círculo. Um soldado alemão penetrou no círculo e encarou um a um os prisioneiros. Era um dos dois soldados que Berthy orgulhosamente capturara horas antes num café próximo da Maine, para onde os tinha em seguida levado sob prisão. Quando o soldado se colocou na sua frente, Berthy sentiu um aperto no coração. O alemão fitava-o atentamente. Berthy viu-o então erguer devagar a mão, levá-la à cara e fingir limpar uma cuspidela. O soldado piscou o olho - e em seguida prosseguiu a sua inspecção.
No pequeno recinto que levava ao esgoto, o homem que precedia Francois Monce e seu filho -um empregado duma agência funerária- tinha ficado entalado na estreita abertura. Tiveram ambos de se encostar à parede e empurrarem-no para conseguir, por fim, fazê-lo cair para o outro lado do buraco. Nesse momento, um ruído mais terrível do que o do martelar das botas alemãs fez-se ouvir na calçada, por cima das suas cabeças. A água começou subitamente a subir de nível dentro do esgoto. Neuilly encontrava-se sob tremenda trovoada.
O general Von Choltitz subia, de expressão dura e carregada, os degraus da escadaria. Tal como o seu amigo, o coronel Jay, Dietrich von Choltitz acabava de ver com os seus próprios olhos os cadáveres dos primeiros soldados alemães caídos nas ruas de Paris insurgida. Vira, na outra margem do Sena, em frente da estação de caminho de ferro de Orsay, seis corpos horrivelmente queimados, dispostos sobre o passeio uns ao lado dos outros.
Ao dirigir-se para o seu gabinete a sua resolução tornava-se mais firme. ”Visto que nos atacam -ia pensando -, então agora é a nossa vez de fazer doer.”
O relatório que o coronel Von Unger lhe apresentara era eloquente: as perdas alemãs elevavam-se, ao fim da tarde, a 50 mortos e a uma centena de feridos, ou seja, o efectivo duma companhia completa de infantaria.
Choltitz desferiu um murro na secretária, mandou vir um mapa de Paris e convocou os membros do seu estado-maior.
Rodeado pelos seus oficiais, que se acotovelavam de pé em volta da secretária, o comandante do Gross Paris considerou, numa voz grave e resoluta, as diferentes possibilidades que se lhe ofereciam para reprimir a insurreição. Todas elas se resumiam, afinal, a uma simples escolha. Executar a ameaça que lançara três dias antes a Taittinger, quer dizer, exercer represálias maciças sobre a totalidade do bairro onde se tivessem produzido incidentes, ou então, esmagar os insurrectos da Prefecture de Polícia ”num banho de sangue tal que toda a insurreição terminaria duma vez para sempre”.
O general Von Choltitz ouviu o parecer dos seus subordinados, e quedou-se pensativo. Pela janela aberta, recorda o general Von Unger, ouvia-se intermitente, o tiroteio.
Ao fim duns vinte segundos, Choltitz ergueu de novo a cabeça e participou que iria atacar a Prefecture, Para esse ataque, reuniria e utilizaria a elite das tropas à sua disposição: o 190.º Sicherungsregiment, os carros do 5.º Regimento de Segurança acantonados no Palácio do Luxemburgo e as unidades blindadas do quartel Prinz Eugen, da Praça da República. Além disso, chamaria os aviões de bombardeamento estacionados em Orly e no Bourget.
Choltitz considerava essencial o apoio aéreo. Segundo o plano que estabelecera, os tanques deveriam atacar pela via mais desimpedida, isto é, pela ponte de Saint-Michel e pela ponte Nova. Mas, primeiro, era seu desejo metralhar os insurrectos com um intenso bombardeamento em voo picado, ”a fim de que os carros nada mais tivessem a fazer do que recolher as migalhas’’. Mas o apoio aéreo levantava um problema. A Luftwaffe não exporia os seus aviões em pleno dia, numa missão como aquela. O que significava que o ataque deveria efectuar-se ao nascer do sol ou ao anoitecer.
Durante esse tempo, organizaria, com patrulhas blindadas, diversas operações de represália contra as testas de ponte estabelecidas pela Resistência.
Esta terrível lição produziria imediatamente os seus frutos, estava certo. Os ”terroristas” de Paris seriam esmagados, e a população civil severamente advertida.
Dietrich von Choltitz procurou ver e encontrou um sinal de aprovação nos rostos que o rodeavam. Para os oficiais de calções de lista vermelha reunidos no Hotel Meurice, Paris nesse dia só merecia uma linguagem - a da força.
Apenas restava fixar a hora do ataque. O coronel Hagen, chefe da contra-espionagem, era da opinião de que quanto mais cedo melhor. Choltitz lembra-se de ter visto as horas no seu relógio. Eram 5 horas e 30 da tarde. Fez notar ao coronel Hagen que seria um erro atacar nesse próprio dia, pois que, quando a aviação tivesse terminado o seu bombardeamento, já seria quase noite. E, protegidos pela escuridão, os sobreviventes poderiam facilmente escapar-se.
Anunciou então que o ataque seria desencadeado no dia seguinte, meia hora depois do nascer do Sol, e ordenou ao coronel Von Unger que prevenisse a Luftwaffe.
No dia seguinte, domingo, 20 de Agosto de 1944, o Sol nasceria às 4 horas e 51 minutos’.
Para o falso membro das milícias de Vichy, Paul Pardou, o homem que esvaziava e transportava para outros locais, por conta da Resistência, os depósitos de mantimentos e armas da Milícia, a sorte virou bruscamente, numa esquina da Avenida Jean-Jaurès. Através do seu pára-brisas, acabava de deparar-se-lhe uma barragem alemã. Desde o meio-dia que em toda a cidade os alemães faziam parar os camiões franceses.
Pardou teve um único reflexo. A fim de não ser entregue à Milícia, rasgou precipitadamente o seu cartão de miliciano e tentou engolir os pedaços. Mas os restos do seu retrato espetaram-se na garganta, e ele supôs que iria vomitar sobre os dois Feldgendarmes que tinham saltado para o estribo do seu camião berrando:
”Papéis!”
Entraram ambos para o camião e ordenaram a Pardou que seguisse para o Palácio de Luxemburgo.
Quando aí chegou, Pardou pôde observar pela janela da sala Médicis onde os alemães o encarceraram, um espectáculo que lhe fez antever o destino que o esperava. Três civis, de braços erguidos, encostados a uma parede, aguardavam no pátio de honra. Soldados entregaram a cada um deles uma picareta e uma pá.
1 Hora T. M. G. Em Paris, onde a hora legal era a hora alemã, seriam efectivamente 6 horas e 51 minutos.
Um Feldwebel gritou uma ordem, e os três homens, escoltados, puseram-se a caminho. Fardou perdeu-os de vista quando eles entraram no jardim. Mas, passados vinte minutos, ouviu uma série de detonações. Os alemães acabavam de fuzilar os três franceses, depois de os terem feito cavar as suas próprias sepulturas.
A porta abriu-se e um velho soldado chamou por Fardou. Era o cozinheiro alemão do Senado. Pouco depois, na cozinha do gordo Franz, este deveria esforçar-se por reunir os seus débeis conhecimentos de francês para ordenar ao seu novo escravo que lavasse a cozinha: ”Você fuzilado com certeza amanhã, portanto limpe muito bem cozinha hoje”, repetia ele como se executasse um ritual macabro.
Num extremo de Paris, outro prisioneiro estava convencido de que tinha sido encarcerado num asilo de loucos. A um canto da arrecadação que lhe servia de cela, no edifício Williams, na Praça Montholon, o agente da polícia Armand Bacquer aguardava que outros Feldgendarmes decidissem da sua sorte. Num dado momento, ouviu a porta abrir-se e sentiu algo mole e húmido bater-lhe na cara. Logo a seguir ouviu gritar: ”Porco, vais ser fuzilado e bem o mereces!” Uma mulher cuspira-lhe. Muitos anos depois, Armand Bacquer lembrar-se-á ainda dos lábios contorcidos pelo ódio dessa mulher, cujo nome era Paulette. Alguns instantes mais tarde, o prisioneiro ouviu através da porta a voz doutra mulher sussurrar-lhe: ”Coragem, hás-de escapar.”
Havia homens correndo pelos corredores, as portas batiam, vozes vociferavam ao telefone. As rolhas das garrafas de champanhe saltavam e ouvia-se os copos entrechocarem-se em brindes sucessivos. Fragmentos de conversas chegavam por vezes aos ouvidos do prisioneiro. Alguém disse em francês: ”A polícia revoltou-se... a insurreição vai alastrar aos boulevards. Vamos partir para Nancy.”
Dentre todos os sinistros pensamentos que cruzavam o cérebro de Armand Bacquer, um havia que em especial o obcecava. ”Os alemães vão matar-me dizia para consigo -, e jamais alguém encontrará o meu cadáver.’’ A ideia de que pudessem um dia supor que ele tinha morrido como um traidor era, para o agente de polícia, mais terrível ainda do que a própria ideia da morte.
Bacquer já não tinha relógio, e interrogava-se sobre que horas seriam. Como não chegasse até ele qualquer réstia de luz, ignorava se era dia ou noite. Sentiu-se repentinamente muito fatigado.
O Unteroffizier Gustav Winkelmann, do quartel da República, sentia-se também muito cansado. Deveria sair dentro de vinte minutos, para dar início a uma patrulha pelas ruas de Paris e essa perspectiva criava-lhe um aperto no coração.
Mandou vir uma última aguardente e colocou uma nota de cinquenta francos em cima do balcão. Em seguida, começou lentamente a beber o seu copo. À ultima golada, viu aparecerem dois vultos no espelho colocado por cima da máquina do café. Eram dois homens, de boinas e braçadeiras tricolores no braço esquerdo. Imediatamente o alemão sentiu o cano dum revólver encostar-se às suas costas. Uma voz disse-lhe ao ouvido: ”Para ti, Fritz, a guerra acabou!” Winkelmann guardou o troco e ergueu os braços. ”Tenho muito dinheiro disse em francês - , pagarei a minha pensão... Deixem-me esperar aqui pelos americanos.” Embaraçados, os dois F.F.I entreolharam-se. Não sabendo exactamente o que fazer desse primeiro prisioneiro, decidiram entregá-lo à guarda do proprietário do café.
André Caillette, Francois Monce e a meia dúzia de homens que tinham conseguido escapar-se da Maine de Neuilly avançavam a custo. De cada esgoto por que passavam, cataratas de água despenhavam-se sobre eles, aumentando o volume do rio negro e nauseabundo que os envolvia. No grande colector sob a Avenida do Roule a água subia de minuto a minuto. Já dava por cima da cintura dos homens mais altos. Se não descobrissem rapidamente uma saída os fugitivos em breve morreriam afogados.
Nesse instante, os alemães faziam embarcar num camião os seus camaradas feitos prisioneiros. Com as mãos na nuca, o salsicheiro Pierre Berthy procurava com o olhar o seu jovem vizinho Pierre lê Guen, a quem sua mulher emprestara nessa mesma manhã o pequeno revólver que ela costumava guardar na sua gaveta do dinheiro. Mas Lê Guen não se encontrava ali. Os alemães tinham-no encontrado com o revólver e já o haviam fuzilado.
Por cima do alto taipal do camião, Pierre Berthy reconheceu o cruzamento das Bergères e a Avenida Presidente Wilson. O camião passava perto de sua casa. Houve uma viragem brusca e, em seguida, um barulho de engrenagens. O motorista mudava de velocidade, no início duma subida. Berthy compreendeu então para onde era conduzido. Lá em cima, no alto da colina, havia uma fortaleza hexagonal. Durante três anos, no fundo da sua loja de Nanterre, ouvira o eco das descargas provenientes dessa prisão. Era o Mont-Valerian.
Nas trevas do esgoto de Neuilly, Francois Monce descortinou uma pálida claridade. Lutando contra a corrente, precipitou-se na sua direcção. A luz provinha dum poço que dava para a superfície. Havia uns degraus de ferro cimentados à parede. Monce chamou pelos seus camaradas. Depois, meio atordoado pelas cataratas de água e detritos que caíam do alto, agarrou-se às barras de ferro e começou a subir. Quando alcançou o cimo do poço, agarrou-se com mais força à escada, encostou-se à parede do poço e, com a mão livre, procurou erguer a pesada placa de ferro fundido que tapava a entrada do poço. Viu na sua frente a fachada da Biblioteca Municipal. Um cão parou a farejá-lo. Com um empurrão dos ombros, Monce fez levantar e cair para trás a placa de ferro, e dum salto, correu a refugiar-se no primeiro prédio.
Capítulo quinto
Colette Massigny estava apaixonada. Nada, nem
mesmo uma batalha nas ruas de Paris, a impediria nesse dia de visitar o seu noivo, o estudante Gilles de Saint-Just. Gilles, procurado pela Gestapo, tinha-se refugiado num quarto da Rua Saint-Benoít. Havia seis semanas que Colette era a única visita que ele recebia.
Curvada sobre o guiador da sua bicicleta, de cabelos louros soltos ao vento, ela descia a Avenida dos Campos Elísios. Eram 7 horas da tarde.
Quando chegou à Praça da Concórdia, Colette ouviu o som de tiros para os lados dos cais do Sena. Obliquou para a esquerda e seguiu pela Rua de Rivoli. Orgulhosa e provocante, com o seu vestido cor-de-rosa inchado como a corola duma flor, a jovem pedalava pela rua deserta, onde cruzes gamadas flutuavam ao vento.
Da varanda do n.º 228 da Rua de Rivoli, dois homens observavam a passagem duma rapariga de bicicleta. ”Gosto destas lindas parisienses -disse o general Von Choltitz, numa voz tranquila, ao cônsul da Suécia, Nordling. - Seria uma tragédia ser obrigado a matá-las e a destruir a sua bela cidade.’’
Nordling abanou tristemente a cabeça. Seria possível que esse homem de expressão grave que tinha na sua frente estivesse na disposição de destruir Paris? ”Arrasar Paris -disse ele a Choltitz -, seria um crime que a História jamais perdoaria.”
O alemão encolheu os ombros. ”Sou um soldado - respondeu com resignação.-Recebo ordens. Executo-as.”
Soavam tiros para os lados da ilha da Cite. Ao ouvir esse ruído, a fisionomia de Choltitz endureceu. Sentiu subir por ele uma brutal onda de cólera.
”Hei-de fazê-los sair da sua Prefecture - disse num rugido -, esmagá-los-ei debaixo das bombas!”
Nordling desconhecia que o ataque se realizaria na madrugada seguinte. Estupefacto, olhou com severidade para o alemão e perguntou-lhe se ele tinha perfeita consciência de que cada bomba que errasse o alvo cairia sobre Notre-Dame ou sobre a Sainte-Chapelle.
Choltitz encolheu novamente os ombros. A ideia de que o objectivo que tinha em mente esmagar se encontrava no meio de semelhantes tesouros nem sequer passara por ele.
”O senhor conhece a situação, sr. cônsul - disse impassível. - Ponha-se no meu lugar. Tem alguma outra solução a apresentar-me?” Raoul Nordling tinha de facto uma solução a propor ao comandante do Gross Paris. Minutos antes, no seu gabinete da Rua de Anjou, o telefone tocara. Na linha, Nordling ouvira uma voz angustiada: ”A situação na Prefecture é desesperada. Tente fazer qualquer coisa...”2
1 Não é possível afirmar que Colette Massigny fosse exactamente a mesma rapariga que Choltitz e Nordling viram passar nessa tarde. Segundo o general alemão e o diplomata, seriam entre 7 e 7 e 30 da tarde. Choltitz recorda-se que a rapariga levava um vestido cor-de-rosa e que estava só. Colette Massigny usava efectivamente um vestido dessa cor nesse dia, e garante que a Rua de Rivoli estava deserta quando seguiu por ela àquela hora.
2 Nunca se saberá talvez, em definitivo, quem telefonou nesse dia para Anjou 34.51 pedindo a intervenção do cônsul da Suécia. O sobrinho de Raoul Nordling, Édouard Fiévet, que se servira do segundo auscultador e ouvira assim a conversa, declarou aos autores deste livro supor que a chamada fora feita por Edgar Pisani. Fiévet reconhece no entanto
ter ouvido a voz de Pisani uma única vez, e ser possível, por isso, ter-se enganado. Edgar Pisani, por seu turno, negou categoricamente perante os autores deste livro ter telefonado nesse
dia ao cônsul da Suécia.
Uma coisa contudo parece certa. A chamada foi feita da Prefecture de Polícia. Fiévet perguntara ao seu interlocutor o número do seu telefone: este era de facto um dos números da Prefecture. É possível que o apelo tivesse sido feito pelo Prefect vichista Amédée Bussière, ou por um dos seus colaboradores. Bussière estava encarcerado e guardado nos seus aposentos desde as 7 horas da manhã. E nessa tarde tinha acesso a um telefone.
Nordling pedira então a Choltitz que o recebesse imediatamente. No curto trajecto entre a Rua de Anjou e o Hotel Meurice, ocorrera-lhe uma ideia.
Nordling propôs ao general alemão um ”cessar-fogo temporário para recolher os feridos e os mortos’’. Se este fosse respeitado, poder-se-ia prolongá-lo.
Dietrich von Choltitz lembra-se de ter tido um sobressalto ao ouvir a proposta do diplomata sueco. Nunca, em trinta anos de militar, pedira ou concedera um cessar-fogo. E, no entanto, a audaciosa proposta parecia-lhe, reflectidamente, oferecer vantagens na situação presente.
A suspensão do combate permitiria à cidade recuperar progressivamente a calma, o que era a sua preocupação dominante. Assim, as suas tropas que combatiam a insurreição ficariam livres para desempenhar outras missões, e as vias de comunicação através de Paris a utilizar pelas unidades em retirada seriam salvaguardadas. Mas, sobretudo, se essa experiência do cessar-fogo desse resultado, o ataque previsto para a madrugada seguinte deixaria de ter razão de ser. E Choltitz tinha consciência de que esse ataque constituiria um acto irreparável, definitivo, uma espécie de declaração de guerra à cidade. O alemão sabia que, quando os primeiros aviões surgissem no céu de Paris, seria tarde demais para recuar. Aquela era a decisão mais importante que jamais teria tomado no decorrer da sua carreira.
Acontecia que Dietrich von Choltitz não apreciava ter de pronunciar-se sobre resoluções tão graves.
A relativa autonomia que lhe conferia o seu comando de Paris era, para ele, uma experiência nova. Até àquele momento, preso nas engrenagens duma bem organizada máquina militar, não tinha sido mais do que um executante. E eis que, no dia seguinte a uma viagem a Rastenburgo, que abalara a sua fé no destino do III Reich e no do seu chefe, as circunstâncias o colocavam à cabeça duma capital onde teria de tomar gravíssimas decisões. Ora, a súbita proposta do cônsul da Suécia dava-lhe azo a que lhe fosse possível anular, temporariamente pelo menos, uma dessas graves decisões...
”Se os chefes da Prefecture de Polícia -disse ele por fim - , puderem demonstrar, na próxima hora, a sua autoridade sobre os seus próprios homens, aceitarei discutir com eles as condições dum cessar-fogo definitivo.” E, baixando bruscamente de tom, diz Nordling, o general acrescentou: ”Peço-lhe, senhor cônsul, que proceda de maneira que o meu nome não seja associado a essas negociações.”
Choltitz sabia que o próprio princípio dum cessar-fogo era contrário às ordens que recebera. Se o Feldmarshall Model, seu superior directo, tivesse conhecimento de que ele negociava com os ”terroristas’’, as consequências, tanto para si próprio como para a cidade, poderiam ser incalculáveis.
Nessa noite, o general Von Choltitz não desejava senão uma coisa: que a calma regressasse, sem haver necessidade duma trágica demonstração de força.
Acompanhou Nordling à saída, apertou-lhe longamente a mão e mandou chamar o coronel Von Unger. Participou secamente ao seu chefe de estado-maior que o assalto previsto para o dia seguinte era ”temporariamente retardado” !.
1 O general Von Choltitz mostrou-se categórico perante os autores deste livro: se a proposta de Nordling não tivesse sido apresentada nessa tarde, o ataque à Prefecture de Polícia ter-se-ia efectuado como estava previsto, no dia seguinte, domingo, 20 de Agosto, ao nascer do Sol.
Com um gesto cansado, Edgar Pisani levantou o auscultador do telefone Aquela era talvez, nessa manhã, a 200. chamada que atendia. Pouco depois ninguem mais responderia ao telefone no vasto escritório do chefe de gabinete risanie os seus homens esperavam ser dizimados dum momento para o outro
Erguendo os braços, António – exclamou -, salvámos Paris!”
Mas, apesar do grito de regozijo de Edgar Pisani, Paris estava de facto longe de estar salva. No seu gabinete do quarto andar do Hotel Meurice, os peritos em demolições do engenheiro Bayer prosseguiam na preparação febril dos planos de destruição exigidos pela O.K. W. No Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Palácio Bourbon, na central telefónica de Saint-Amand, no Senado, em quase todos os edifícios ocupados pela Wehrmacht, as picaretas automáticas continuavam, incessantemente, a furar câmaras para explosivos.
Mas já a revolta dos parisienses, nesse dia, impedira os soldados de Choltitz de dar início às primeiras das destruições previstas. Por vezes até, a coragem dum único homem, de fato de ganga, fora o bastante para pôr em xeque a loucura destruidora de Hitler. Em poucas horas de paciente labor, o electricista Francois Dalby, o homem a quem o conservador do Palácio do Luxemburgo pedira socorro, conseguira provocar cinco prolongadas faltas de corrente eléctrica, durante as quais as picaretas automáticas tinham deixado de funcionar. Dalby era o único que teria podido realizar semelhante feito. Porque fora ele quem montara toda a instalação eléctrica do Senado. Mas arriscava-se, a todo o momento, a pagar com a vida essa sabotagem.
Outro francês. Este tinha a certeza de que ia ser fuzilado. O polícia Armand Bacquer viu a água negra marulhar na noite escura e teve uma inspiração. ”Se eles me põem em frente dum pelotão - disse para consigo - salto para dentro de água antes que possam disparar.’’ Mas os alemães empurraram Bacquer ao longo do parapeito do Cours-la-Reine. Sentia atrás de si a respiração ofegante do seu camarada, o polícia Maurice Guinoiseaux, preso nessa mesma manhã ao volante dum camião cheio de armas destinadas à Prefecture de Polícia.
Os dois homens estavam agora voltados contra a parede. Não trocaram um único olhar, não deixaram sequer escapar um suspiro. De repente, Bacquer reviu o pai e a mãe, na praça da sua aldeia de Glomel, em dia de S. Germano, o santo padroeiro de Glomel. Ouviu atrás dele o som das botas recuando para a borda de água. Pensou bruscamente que nascera no dia 11 de Novembro, o que era divertido visto ser o dia do armistício. Reviu então, numa fracção de segundo, o rosto do seu pai, depois o de Jeanne, sua mulher, e pensou que no dia seguinte alguém encontraria o seu cadáver.
Bacquer ouviu o ruído característico duma culatra a fechar-se. Quis voltar-se, para ”não ser morto pelas costas”, mas soou uma descarga enviesada que o atingiu primeiro na perna direita, depois no joelho, em seguida na coxa, na base do fémur, e finalmente no pulmão esquerdo. Nesse instante, a rajada de balas atingiu Guinoiseaux no pescoço e na cabeça. A última bala entrou-lhe pela nuca e saiu por um olho.
Bacquer sentiu uma queimadura na perna e um brutal choque no peito, que lhe cortou a respiração. Dobrado em dois, caiu por cima de Guinoiseaux. Então, vindo dum outro mundo, ouviu uma voz dizer: ”Fertig!’’ (Acabou-se!)
A 2000 quilómetros de Paris, na cabina de comando envolta na escuridão, o coronel André de Marmier, das Forças Aéreas Francesas Livres, olhava nesse momento para as agulhas fosforescentes dos mostradores do seu Lodestar. Na sua frente, exactamente a 1000 metros, na extremidade da curta pista, estava, negro e ameaçador, o Mediterrâneo. O avião que o coronel de Marmier ia lançar através dessa pista talvez nunca levantasse voo. Carregado com 3600 litros de gasolina, duas vezes mais do que continham os seus reservatórios normais, o seu excesso de peso era de meia tonelada.
Marmier puxou lentamente os manipules de gás, até as agulhas indicarem 2700 rotações. O avião começou a trepidar. A temperatura dos motores subiu para 40, 45, 50 graus.
”Pronto?”, perguntou então.
”Pronto”, responderam, ao mesmo tempo, o mecânico Aimé Bully e o radiotelegrafista Venangeon.
Marmier soltou os travões e o avião deu um salto para a frente. Com os olhos pregados nos mostradores, o piloto enterrava mais e mais o cabo, enquanto o aparelho deslizava sobre a pista. 500, 700, 800 metros. O aparelho sobrecarregado arrastava-se ”como uma velha locomotiva”. Marmier via já as cristas das vagas fosforescentes na extremidade da pista. 1000 metros. Agarrado ao manipulo, o piloto manteve o avião em linha recta, a rasar as ondas. Durante um momento, que pareceu a Marmier uma eternidade, a agulha do altímetro não saiu do zero. Depois, lentamente, começou a oscilar. O piloto recolheu o trem de aterragem e iniciou uma viragem. Por cima do ombro do navegador, viu então uma mole negra que emergia das ondas, o rochedo de Gibraltar.
André de Marmier enxugou as gotas de suor que lhe escorriam pela testa. Acabara de efectuar a descolagem mais difícil das suas 15 000 horas de voo.
Três passos à sua retaguarda, na cabina do Lodestar, o passageiro que ele nessa noite transportava desapertou o cinto de segurança e, indiferente ao regulamento, acendeu um cigarro. Era Charles de Gaulle.
De Gaulle recusara-se a esperar pela fortaleza voadora americana que deveria conduzi-lo a França. Decidira, por si próprio e contra o parecer dos seus mais chegados colaboradores e das autoridades britânicas de Gibraltar, partir no seu avião pessoal. Ignorava ainda que em Paris estalara a revolta.
Economizando cuidadosamente o seu precioso combustível para a mais longa viagem que alguma vez empreendera o Lodestar Lockheed ”France”, o piloto contornou o farol do cabo de S. Vicente, na ponta sul de Portugal, e rumou direito ao norte, ao longo da costa portuguesa. Sobre a direita, apareceu Lisboa, brilhante de luz na noite escura. Mais longe, na extremidade noroeste da Espanha, a Marmier deparou-se-lhe o último farol, o do cabo Finisterra. Para lá dele nenhuma outra baliza o orientaria. Com todas as luzes apagadas, voaria em linha recta para o norte, ao longo da costa hostil da França ocupada. Na madrugada do dia seguinte deveria encontrar-se com uma escolta da R. A.F., que estaria à sua espera sobre a ponta sul da Inglaterra.
Na cabina sombria e silenciosa, o tenente Claude Guy olhava para o pequeno ponto incandescente que brilhava na sua frente. E dizia de si para si que o destino do seu país dependia, nesse momento, ”duma cigarrilha que ardia nas trevas dum avião, voando com todas as luzes apagadas”.
Em contacto com a chuva diluviana, o fuzilado Armand Bacquer recobrou os sentidos. ”Vou morrer afogado”, pensou. Folhas, pequenos ramos e lama, arrastados pela enxurrada, cobriam-lhe a cara. Tentou rastejar, apoiando-se nos cotovelos. Mas uma das pernas parecia ter-se-lhe despegado do tronco. Estendeu o braço e sentiu o corpo rígido do seu camarada. Um pensamento obcecou-o a partir desse momento: ”Se os alemães regressarem aqui e virem este cadáver, acabarão comigo.” Bacquer ouviu então o ”pin-pon” da sereia dum carro de bombeiros, que passava na avenida. Pôs-se a gritar debilmente ”socorro, socorro”, mas logo o sangue do pulmão perfurado lhe subiu à garganta, asfixiando-o, e ele voltou a perder os sentidos. No seu delírio, Bacquer ouvia passar por cima dele centenas de carros de bombeiros, cujas sereias retiniam no seu cérebro como milhares de buzinas. Os bombeiros iam salvá-lo, tinha a certeza, ”porque eram franceses”. Voltando a si, engoliu vários pingos de chuva. Depois, desmaiou novamente e mergulhou num mundo de pesadelo, repleto de alemães que se abatiam sobre ele para o aniquilar.
Capítulo sexto
A claridade do dia espalhou-se por um céu que o temporal nocturno não varrera completamente de nuvens. Caíra um silêncio pesado sobre toda a cidade. Paris martirizada parecia contar, nessas primeiras horas de domingo, 20 de Agosto, as suas feridas. Ao longo do Sena, pelo Cours-la-Reine, um padre caminhava a passos largos sobre um tapete de folhas arrancadas pela tempestade. De repente estacou e pôs-se à escuta. Da margem do rio, pouco mais abaixo, subia até ele um lamento. Aproximou-se do parapeito e viu, na base do muro, dois corpos contorcidos, lado a lado. Um deles mexia ainda. Armand Bacquer, o polícia bretão, não tinha morrido.
Quando Bacquer abriu os olhos, viu, como num sonho, a cara do sacerdote. Este tirara das dobras da sua sotaina uma caixa com um bocado de algodão. Logo a seguir, o moribundo sentiu na testa o contacto fresco do algodão embebido em óleo, e ouviu alguém proferir palavras incompreensíveis. Num brevíssimo momento de lucidez, pensou: ”Estão a dar-me a extrema-unção. Com certeza vou morrer.” Pediu que lhe dessem de beber e de novo ficou inconsciente.
Quando recobrou os sentidos viu dessa vez sobre a sua cabeça brilhar uma imagem maravilhosa. Era o capacete dum bombeiro. Pouco depois, ouviu o ”pin-pon” cadenciado da ambulância que o transportava para o hospital. Embalado, numa espécie de êxtase, por esse reconfortante ruído que povoara os seus pesadelos, pensou para consigo que, a partir daí, os alemães jamais poderiam acabar com ele.
Uma mulher inquieta precipitava-se para a janela, nessa manhã de domingo, sempre que chegava até ela o ”pin-pon” das ambulâncias. Havia 24 horas que Colette Dubret, a mulher do polícia Georges Dubret, estava sem notícias do marido.
Sobre o fogão, numa caçarola preta, o guisado de lebre, que Georges Dubret prometera na véspera vir comer ao meio-dia, continuava à espera dele.
Mas Georges Dubret e seis outros polícias seus camaradas estavam encarcerados numa cela húmida e escura do forte de Vincennes, na mesma torre onde o duque de Enghien esperara pela morte. Ouviam o crepitar raivoso e sacudido duma metralhadora, disparando do pátio. Dentro de poucos minutos, esses homens iriam pagar com a vida a insurreição da véspera.
Com efeito, na véspera, uma patrulha alemã invadira o comissariado de polícia da Rua de Lyon, perto da Bastilha, do qual Georges Dubret e os seus camaradas com tanto orgulho se tinham apoderado. Um soldado de Choltitz encontrara, debaixo dum tapete, uma braçadeira tricolor. Então, os alemães tinham levado todos os homens, incluindo o comissário Antoine Silvestri que jamais pertencera à Resistência.
Quando os tiros de metralhadora cessaram, os alemães empurraram os prisioneiros para o pátio, à coronhada. A estes deparou-se-lhes um espectáculo horrível. Os corpos de onze homens que acabavam de ser fuzilados jaziam na poeira e as suas caras estavam retalhadas, os peitos estoirados, pernas e braços literalmente escavacados. Dubret estremeceu. Reconhecera três dos mortos. Eram polícias, e um deles mexia ainda. Um jovem S.S. puxou pela sua Luger e acabou com o moribundo com um tiro na cabeça. Das janelas das suas casernas, os soldados contemplavam com indiferença esta cena macabra. De tronco nu, um deles fazia a barba, assobiando. Outros tomavam banho num tanque 2.
Os alemães alinharam os prisioneiros diante dos cadáveres. Na caixa dum camião estacionado na álea central, à retaguarda deles, a metralhadora esperava. O graduado Antoine Jouve olhou para o corpo estendido na sua frente e pensou: Gostava de estar no lugar deste, não ficou lá muito estragado...”
No seu blusão de camurcina, novo em folha, o polícia André Guiguet, chamado ”Dedé”, pensava em Albertina, sua mulher. Ela poderia identificar o seu corpo. O cartão de identidade estava na algibeira. Muitos outros homens pensavam, nesse instante, que os seus cadáveres poderiam ser identificados mais tarde graças aos documentos que traziam, e esse pensamento reconfortava-os. O graduado Georges Valette lembrou-se ’ ’dos cabelos louros’’ do seu filho
Jacques,
1 Armand Bacquer sobreviveu aos ferimentos. Tendo sido operado no hospital Necker pelo professor Huet, man teve-se vários dias entre a vida e a morte. Durante anos sofreu horríveis pesadelos. Via constantemente os alemães regressarem para dar cabo dele. Hoje é funcionário do comissariado de policia da Rua de Borgonha, apenas a algumas centenas de metros do local onde foi fuzilado.
2 Estes homens estavam habituados aos massacres. Pertenciam à Divisão Blindada Das Reich que, em 10 de Junho de 1944, exterminara os homens, as mulheres e as crianças de Oradour.
e associou essa imagem ”aos campos de trigo maduro no Verão”. Depois, fitando os corpos que tinha diante de si, disse: ”É ali que vou cair.’’ André Étave viu a cara da sua filha doente. Étave arruinara-se para poder tratar convenientemente a pequena tuberculosa, e perguntou de si para si o que iria ser feito dela. Mas, no momento de morrer, nem todos os homens pensaram nas suas famílias. O polícia Etienne Tronche, do comissariado do 12.º bairro, estava preocupado com o pequeno vitelo que tinha no quintal da sua casinha dos subúrbios. ”Meu Deus - gemeu -, o meu vitelo vai morrer de sede!’’ Alguém, ao lado dele, ouviu-o e murmurou: ”Não nos faças cag... por causa do teu bezerro, não vais também morrer, não?!”
No último momento, os alemães decidiram fuzilar os prisioneiros de frente, e não de costas. O graduado Georges Valette viu então, apontada para ele, a boca do cano da metralhadora, e achou que aquela era enorme. De cima do camião os dois serventes da metralhadora gritaram qualquer coisa, e os outros soldados recuaram. Georges Dubret pensou: ”Agora é que é.” Ouviu-se um forte estalido seguido dum longo e pesado silêncio durante o qual, petrificados sobre as pernas, os homens esperaram. A metralhadora encravara-se.
Ouviu-se então a voz firme do comissário Antoine Silvestri. ”Estamos inocentes -gritou -, queremos falar a um oficial!”
Não houve resposta. Mas, enquanto os serventes consertavam a metralhadora, os S. S. ordenaram aos franceses que transportassem os mortos para os fossos da fortaleza.
Os corpos estavam ainda quentes e o sangue corria abundantemente dos ferimentos. Ao pretender erguer um cadáver pelos ombros, Georges Valette viu uma bola sangrenta soltar-se do tórax e cair na poeira. Fez a única coisa que lhe pareceu normal. Apanhou a bola e voltou a pô-la dentro do peito. Pela primeira vez na sua vida, reparou ele então, tocara num coração humano.
Os prisioneiros tiveram de levar os macabros fardos até ao fundo de um dos fossos do forte. Depois, os alemães entregaram-lhes pás e picaretas, e mandaram-nos cavar uma vala comum.
Dentro do fosso, e apesar do calor sufocante e da sede que os atormentava, os homens não ousavam despir os casacos, com receio de que, mais tarde, as suas famílias não conseguissem reconhecer os seus corpos. Enquanto cavavam, vários prisioneiros rezavam em voz alta. Antoine Jouve tentou lembrar-se do acto de contrição, mas não conseguiu ir além das primeiras palavras: ”Meu Deus repetiu ele várias vezes -, pesa-me ter-Vos ofendido...” Transpirando dentro do seu blusão de camurcina, André Guiguet olhava para o buraco que acabara de fazer, e dirigia-se em pensamento a sua mulher: ”É aqui, Albertina - dizia-lhe ele -, que virás trazer flores.”
Quando os alemães acharam que a vala estava bastante funda obrigaram Georges Dubret a estender-se dentro dela, para se assegurarem de que tinha largura suficiente. Deitado sobre a terra húmida, Dubret olhou para o céu e murmurou: ”É o que se chama tomar as últimas medidas...’’
Para os restantes parisienses, esse domingo de insurreição iria ser um dia de expectativa, de confusão e de contrastes. A algumas dezenas de metros das muralhas junto às quais Georges Dubret e os seus camaradas viviam a angústia da morte, elegantes cavaleiros cumprimentavam-se, ao passarem uns pelos outros nas alamedas do bosque de Vincennes.
Nas margens do Sena, defronte das torres de Notre-Dame, no mesmo local onde na véspera se tinham travado combates tão violentos, havia pescadores que, como todos os domingos, vigiavam atentamente as águas do rio. Caminhando de mãos dadas, ao tímido sol matinal, Gilles de Saint-Just e a sua noiva, Colette Massigny, estacaram bruscamente e puseram-se à escuta. Nos degraus da igreja de Saint-Germain-des-Prés um cego tocava harmónio. Nessa manhã, à saída da missa das 10 horas, ele tocava, pela primeira vez havia quatro anos, a Madelon.
Depois dos sangrentos combates da véspera, a frágil trégua conseguida pelo cônsul da Suécia e prolongada pela noite fora trazia consigo uma acalmia. Nessas primeiras horas dominicais, parisienses e alemães recobravam o fôlego, e faziam o balanço dos acontecimentos.
Estupefactos com a violenta e repentina reacção dessa cidade que tão calma se mantivera durante os quatro anos de ocupação, muitos soldados da guarnição alemã quiseram aproveitar essas horas de descanso para escrever às famílias. Da sua janela do Hotel Crillon, transformado em ponto de apoio das tropas, o Unteroffizier Erich Vandamm, da 325.a Divisão de Infantaria, de 42 anos, observava os homens da organização Todt que enterravam febrilmente carris anticarros no pavimento da Praça da Concórdia. ’ Querida Ursula - escreveu ele à sua mulher -, é possível que aí em Berlim passes agora muito tempo sem notícias minhas. Tenho a impressão de que as coisas começaram a piorar muito por estas paragens.”
Dentre todas as cartas que os ocupantes de Paris escreviam nesse dia às suas famílias uma havia, pelo menos, que jamais alcançaria o seu destino. O Feldwebel Paul Schallúck, da Brigada Flack n.º 1, não teve tempo de concluir a sua antes de partir em patrulha. Começava assim: ”Querida mãe, receio bem que esta Paris que tanto amo não passe, dentro de pouco tempo, de um campo de ruínas.” Schallúck dobrou a carta e colocou-a na carteira. Minutos mais tarde foi gravemente ferido pelos F.F.L, perto da Ponte das Artes, e feito prisioneiro.
Mas nem todos os alemães, nessa manhã, tiveram pensamentos tão sombrios como estes. O Feldgendarme Ernst Ebner, da Kommandantur de Neuilly, que na véspera levara o salsicheiro Pierre Berthy e os seus camaradas para o Mont Valerian, estava completamente bêbedo. Sobre
a mesa do seu quarto, no hotel da Rua dos Sablons, viam-se os restos de três garrafas de champanhe e de aguardente que ele tinha bebido. Ebner, um sobrevivente de Estalinegrado e de Monte Cassino, festejava nessa manhã o seu trigésimo oitavo aniversário. Noutro ponto de Paris, no vestíbulo do Hotel Continental, uma das últimas cocottes que ainda lá residiam, Irmgard Kohlage, celebrava também o dia dos seus anos. O seu mais belo presente nesse dia seria, de facto, uma predição. Pegando na palma da sua mão, um oficial, recém-chegado da frente da Normandia, disse-lhe: ”Prevejo para si momentos bem duros, Irmgard, mas depois tudo correrá bem.” Nessa manhã, oHauptmann Otto Nietzki, da Wehrmachtstreife (Polícia Militar) estava certo de que não encontraria quem quer que fosse nos bares e nos bordéis habitualmente frequentados pelos militares alemães. Mas estava enganado. Num bordel da Rua de Provença, sob o olhar aterrorizado da patroa, um major alemão, perdido de bêbedo, destruía as velas dum candelabro e tiros de revólver, berrando como um possesso: ”Meu Deus! De que é que estão todos à espera para sair daqui?”
No entanto, nenhum outro soldado da guarnição receberia uma missão tão estranha como aquela de que foi encarregado o Feldgendarme Rudolf Ries, da Platskommandantur, de 32 anos de idade.
Durante todo o dia precedente, emboscados por detrás do parapeito do Cais de Montebello, Ries e os seus homens tinham disparado sobre os sitiados da Prefecture. Nessa manhã, acompanhado por dois dos polícias sobre os quais fizera fogo na véspera, Ries percorria as ruas de Paris, num automóvel da Polícia, para anunciar o cessar-fogo conseguido por Nordling. Por toda a parte viam-se os Parisienses, em mangas de camisa ou com vestidos ligeiros, reunidos à volta do único jornal que lhes restava: as paredes da sua cidade. Estas estavam cobertas de avisos contraditórios, anunciando ou denunciando as tréguas. À esquina da Avenida da Ópera com a Praça das Pirâmides, o Feldgendarme Ries viu, estupefacto, o dono dum pequeno café precipitar-se para o veículo com uma garrafa de vinho tinto e copos nas mãos. Então os polícias franceses e o alemão começaram a fazer brindes, tocando com os copos uns nos outros, pelo êxito do cessar-fogo, sob o olhar surpreendido das pessoas que passavam.
Capítulo sétimo
A trégua anunciada pelo Feldgendarme Ries e pelos seus dois companheiros franceses dava aos gaulistas, a quem o espectro de Varsóvia em chamas apavorava, uma derradeira possibilidade de salvar Paris. O cessar-fogo trazia-lhes um meio inesperado de dirigir a insurreição que tinham sido impotentes para impedir. Tentariam a todo o custo impor as tréguas aos insurrectos, pois, aos seus olhos, nada no Mundo havia mais importante e indispensável, nessa manhã de domingo, do que ganhar tempo.
O telefone começou a tocar em todos os P.C. das F.F.I, de Paris. Falando em nome do próprio coronel Rol, ou de outros chefes comunistas, vozes misteriosas participavam a conclusão dum acordo de tréguas. Um adjunto de Rol, ao-levantar o auscultador, teve a surpresa de ouvir-se a si próprio ordenar o cessar-fogo. Alguém falava em seu nome. De Londres, no comprimento de onda da B.B.C., o general Pierre Koenig, chefe supremo das F.F.L, dirigiu um apelo aos Parisienses. ”Nenhum perigo seria mais grave para a cidade de Paris - declarou numa voz patética- que aquele que lhe faria correr a população, se esta respondesse à chamada para a revolta.” Na sua Direcção-Geral de Polícia, transformada em fortaleza, o novo Préfecte, Charles Luizet, ordenou aos seus homens que não se servissem das suas armas ’senão em caso de ataque ou de provocação’’. Luizet pôs os carros da polícia à disposição do cônsul Nordling, a fim de se anunciarem as tréguas à população.
Os gaulistas não se pouparam a qualquer esforço para vencer os seus adversários em rapidez e impor a trégua aos combatentes. Jacques Chaban-Delmas, perante os oficiais do próprio estado-maior de Rol, não hesitou em exclamar: ”Rol e os homens que o rodeiam conduzem Paris para um massacre.”
Alexandre Parodi apresentou a trégua aos seus colegas do C. N.R. sob uma luz hábil. Tinham sido, disse ele, os alemães quem a pedira, e compunha-se de quatro cláusulas. Os F.F.I, eram considerados como tropas regulares e seriam tratados segundo as leis da guerra. Os alemães aceitavam a presença dos F.F.I, nos edifícios que ocupavam. Os F.F.I, comprometiam-se a não atacar os pontos de apoio alemães. As tropas alemãs poderiam circular livremente, num certo número de itinerários bem definidos. Parafraseando o seu amigo Saint-Phalle, Parodi declarou aos membros do C.N.R.: ”Quando uma tropa de insurrectos sem experiência aceita assinar um acordo com um exército que foi, quer se queira quer não, o mais poderoso do Mundo, não é ela que se desonra, mas sim esse exército.” Para reforçar as palavras de Parodi, Jacques Chaban-Delmas revelou que metade dum exército alemão, mais do que o que era necessário à loucura hitleriana para reduzir a cinzas a cidade, estava prestes a entrar em Paris. Quase no mesmo momento em que Chaban-Delmas lançava este aviso angustioso, a 250 quilómetros de distância, o general americano George Patton, que acabara de ter conhecimento do levantamento de Paris, gritava, encolerizado, aos oficiais do seu estado-maior: ”Desencadearam-na, a sua insurreição... Pois bem, agora que se tramem!’’
Parodi e os gaulistas haviam ganho a segunda partida, na rivalidade que os opunha aos comunistas. Segundo as palavras de um deles, tinham conseguido ”congelar” a insurreição que antes não tinha podido evitar. Surpreendidos pela rapidez da acção, os comunistas só reagiriam passado algum tempo. Mas pouco depois, acusando os adversários de procurarem frustrar o povo de Paris à sua revolta libertadora, eles iriam contra-atacar violentamente.
Lentamente, nessas primeiras horas dominicais, a trégua ia-se estendendo, tímida e desajeitada como os primeiros passos duma criança, a toda a cidade. Apareceram centenas de bandeiras nas janelas. Aliviados, felizes, os Parisienses invadiram as ruas que a batalha da véspera esvaziara. A trégua trazia com ela, para os milhares de habitantes que a violência de sábado transtornara, um maravilhoso período de repouso. Paris parecia realmente, nesse domingo quente e húmido, estar salva.
No seu avião, o alferes Aimé Bully, de 33 anos, olhava angustiado, para as agulhas dos indicadores dos seus quatro depósitos de gasolina. No painel de comando havia um mostrador para cada reservatório. Três destes estavam vazios. Bully já premira a bomba à mão, a fim de aproveitar as últimas gotas do combustível. E agora a agulha branca do quarto reservatório aproximava-se do zero. ”Dentro de trinta minutos -pensou ele - os motores pararão por falta
de gasolina.” Havia mais de uma hora que o Lodestar France’’, sacudido e batido por rajadas de vento, se debatia na tormenta. Bully era o mecânico do aparelho. Na costa inglesa, defronte de Plymouth, o avião devia encontrar uma esquadrilha de caça que o escoltaria até à Normandia. Uma voz interrompeu as inquietas reflexões de Bully.
”A gasolina?”, perguntou o homem que estava na sua frente.
Estou a utilizar o último reservatório - respondeu o mecânico ao piloto -, será melhor não continuar a divertir-se durante muito tempo...”
Com as mãos crispadas nos comandos, o piloto André de Marmier compreendeu que devia procurar, quanto antes, um local para aterrar. Essa aterragem, teria de fazê-la sem visibilidade, sem rádio, quase sem carburante, tendo a bordo o homem a quem competia o destino da França, o qual, na sua cabina, continuava a fumar tranquilamente uma cigarrilha. Marmier reduziu o gás e o aparelho picou de cabeça. Enquanto via a agulha do altímetro descer para o zero, Aimé Bully não tinha senão um pensamento. ”Oxalá -dizia para consigo- nos encontremos já sobre a Mancha, e não sobre terra.” À retaguarda do posto de pilotagem, através da sua vigia, Charles de Gaulle, impassível e silencioso, contemplava o universo sombrio e ameaçador que o rodeava.
”Gasolina?”, perguntou de novo Marmier.
”Apenas para alguns minutos, meu coronel.”
Sob as asas do avião já podia distinguir as cristas brancas de espuma do Canal. Na frente do aparelho desenhou-se por fim, emergindo do nevoeiro, uma linha cinzenta. Era a costa inglesa. A cabeça de Claude Guy, o ajudante-de-campo de De Gaulle, surgiu na porta do posto de pilotagem.
”Que se passa?”, perguntou Guy.
”Fomos traídos -respondeu Marmier.- Os aviões de caça não apareceram. ’’
O piloto participou que teria de aterrar em Inglaterra, visto não dispor de mais gasolina.
O jovem ajudante-de-campo retirou-se, fechando a porta. Comunicou ao imperturbável passageiro que a escolta tinha faltado ao encontro. De Gaulle soltou um suspiro.
”Desta vez, de quem é a culpa? -perguntou.- Dos ingleses? Dos americanos? Ou de ambos?”
Guy acrescentou que o avião teria de aterrar em Inglaterra. O combustível estava no fim.
”Em Inglaterra? - repetiu com brusquidão De Gaulle. - Ah, isso é demais! Vá dizer a Marmier que só descerei em França.’’
”Gasolina?”
Desta vez, Bully quase engoliu as palavras. ”Zero, meu coronel.” Deslizando por cima das ondas, com menos de cem metros de visibilidade, o Lodestar obliquou para sul, em direcção à costa francesa. Com a mão na bomba da gasolina, Bully preparava-se para aproveitar as derradeiras gotas de carburante do último reservatório. Os dedos de Marmier, recorda ele, transpiravam, fincados no punho da alavanca de comando. Nunca os minutos que tinha vivido num posto de pilotagem lhe tinham parecido tão longos. A quatrocentos metros de altitude, em plena borrasca, o avião voava para o desconhecido. No fim, pensava Bully, teremos os motores parados, e a queda, ou então os canhões da Flack.
De repente, através dum buraco entre as nuvens, apareceu sobre o mar uma franja esbranquiçada. Era a costa da França. O avião sobrevoou uma praia deserta, juncada de casamatas abandonadas e de destroços de toda a espécie. Bully perguntou a si próprio que praia seria aquela. Nem ele, nem Marmier, nem Vanageon, o radiotelegrafista, conseguiram reconhecer aquele pedaço de terra francesa.
”Bully - disse Marmier -, leva este mapa ao ”patrão” e pergunta-lhe se ele consegue localizar-nos aqui.”
O alferes Bully recorda que De Gaulle colocou os óculos e começou a observar a costa. Ao fim dum curto momento, colocou o dedo sobre o mapa e disse: ”Estamos aqui, imediatamente a leste de Cherburgo.”
Era exacto. Sob as asas do Lodestar, o piloto acabava de descobrir o campo de aviação de Maupertus, em direcção ao qual iniciava já a descida.
Quando o avião começou a rolar na pista, uma lâmpada de aviso piscou no painel fronteiro ao mecânico. Bully, recorda ele, deixou escapar o maior suspiro da sua vida. Aquele sinal significava, bem o sabia, que no último reservatório do Lodestar France só havia gasolina para mais vinte segundos de voo.
Por dois minutos, portanto, o destino de Charles de Gaulle não acabou, nesse domingo, 20 de Agosto de 1944, nas águas geladas da Mancha.
Ninguém esperava De Gaulle no campo de Maupertus. Não havia banda, nem guarda de honra, nem povo. Apenas lama e aquela chuva miudinha e penetrante da Normandia.
Claude Guy entrou num celeiro que os americanos tinham sumariamente transformado em torre de controlo. ”Que é que há nesse avião’’, perguntou com indiferença o militar de serviço. ”O presidente do Governo Provisório da República Francesa!”, declarou Guy.
De Gaulle e a sua comitiva subiram para um velho Renault a gasogénio e tomaram o caminho de Cherburgo. No comissariado de polícia, diz Claude Guy, apenas encontraram uma única lâmina de barba para todos eles. De Gaulle teve o privilégio de ser o primeiro a servir-se. Depois, por ordem de antiguidade, todos os restantes se barbearam. Quando o general acabou de se arranjar, mandou vir uma folha de papel, a fim de escrever um discurso, e ordenou ao seu ajundante-de-campo que preparasse imediatamente uma entrevista com Eisenhower.
Em Maupertus, um funcionário desconhecido dera a notícia: ”Paris revoltou-se.” Ao ouvir estas palavras, diz ainda Guy, De Gaulle teve um imperceptível sobressalto. Dessa vez, os dados estavam jogados. Charles de Gaulle estava resolvido a conseguir de Eisenhower que, nesse mesmo dia, os Aliados marchassem sobre Paris.
Em Paris, Alexandre Parodi viu as horas no seu relógio. Já estava atrasado. Nem sequer teria tempo de terminar a refeição tão cuidadosamente preparada pelo novo cozinheiro do seu P.C., um prisioneiro alemão que, no intervalo das refeições, era encerrado na estufa da residência de Alexandre de Saint-Phalle. Parodi fez um sinal aos seus dois adjuntos, o engenheiro Roland Pré e Émile Laffon, pegou na sua pasta e levantou-se. Também ele tinha um objectivo preciso a alcançar. Nesse princípio de tarde, a última esperança que havia de poupar Paris à destruição era, segundo estava convencido, a trégua de Nordling. Em nome de De Gaulle, em nome da História, ele ia agora impô-la aos chefes da insurreição.
Ao volante dum Citroen preto, uma bonita rapariga de uniforme azul aguardava em frente da porta. À volta do braço tinha uma braçadeira tricolor com a Cruz de Lorena. Da sua varanda, Alexandre de Saint-Phalle observava com espanto aquele quadro,
enquanto os três homens entravam para o automóvel, conduzido por uma mulher: ”É inacreditável - pensou -, já é a Libertação!”
Capítulo oitavo
A 400 quilómetros da planície normanda onde Charles de Gaulle acabava de aterrar, nas profundas duma fortaleza subterrânea chamada ”W II”, o tenente-general Hans Speidel, de 41 anos, aguardava o regresso do seu novo comandante-chefe, o Feldmarschall Walter Model. ”W II” era o nome em cifra do novo Q.-G. do Grupo de Exércitos B, instalado numa antiga pedreira perto da vila de Margival, 10 quilómetros ao norte de Soissons. Quatro anos antes, do fundo desse labirinto de corredores, de salas de comando e de centrais telefónicas, Adolf Hitler em pessoa deveria ter dirigido a mais audaciosa operação militar jamais tentada em mil anos, a invasão da Inglaterra. Agora, nas salas húmidas iluminadas a néon, o comandante-chefe dirigia a retirada dos exércitos hitlerianos. Havia 48 horas tinha ele partido para uma inspecção à frente, e os telegramas e as mensagens telefonadas da O.K. W. acumulavam-se agora sobre a secretária do seu chefe de estado-maior. Essas ordens não tinham deixado a Hans Speidel qualquer ilusão sobre a sorte a que Hitler destinava Paris.
Quando a porta se abriu e Model apareceu, o chefe de estado-maior fechou um volumoso livro encadernado a couro preto. No fundo do seu bunker, o doutor em filosofia pela Universidade de Tubingen Hans Speidel lia, nesse momento, o terceiro tomo dos Ensaios, de Mantaigne.
O impetuoso Feldmarschall, recorda Speidel, parecia esgotado. Tinha o rosto invadido por uma barba de dois dias, a expressão vincada pela fadiga e o uniforme coberto de poeira. Deixou-se cair numa poltrona, pôs o monóculo e começou a tomar conhecimento das comunicações recebidas na sua ausência. A inspecção que fizera, confessou ele, tinha sido um pesadelo mais terrível do que todas as provas a que fora submetido na Rússia. A situação apresentara-se-lhe bem mais trágica do que ele esperava. Por toda a parte encontrara homens esgotados e desencorajados. A frente, se é que havia ainda uma frente, era um verdadeiro caos. Mas aquela inspecção revelara-lhe uma coisa capital. A obra mais urgente a realizar era, antes do mais, reagrupar as forças. Conseguir isso, disse ele a Speidel, seria realizar o primeiro dos milagres que Hitler esperava.
Dois relatórios iriam esclarecer o Feldmarschall, nesse mesmo dia, sobre a maneira como poderia conseguir esse milagre. O primeiro provinha do general Von Choltitz. Desde o início da insurreição que Choltitz, sistemática e deliberadamente, minimizava a gravidade da situação em Paris. Na sua mensagem, dirigida à O. B. West, às 8 horas e 20 de domingo, 20 de Agosto, o comandante do Gross Paris limitava-se a anunciar: ”Noite calma. Verificaram-se apenas algumas escaramuças isoladas às primeiras horas da manhã. E as suas precedentes mensagens não tinham sido mais alarmantes.
A acreditar no seu subordinado, a situação em Paris não oferecia aos olhos do comandante-chefe a Oeste qualquer gravidade especial!.
1 Vinte anos mais tarde, o general Von Choltitz revelou aos autores deste livro por que tinha deliberadamente procurado, nesse dia, diminuir aos olhos de Model a verdadeira situação de Paris. Tal como a maioria dos generais alemães, ele conhecia bem a reputação de Model. ”Eu pretendia - explicou-evitar chamar a sua atenção sobre Paris, pois receava, da parte dele, um acto impensado.”
O segundo relatório era remetido pelo chefe dos Serviços Secretos da O. B. West, o tenente-coronel I. G. Staubwasser. Redigido na noite anterior segundo as últimas informações recebidas em Margival, esse documento revelava a Model que as forças inimigas, englobando 53 divisões ’, se preparavam para lançar dois ataques de grande envergadura. Um, partindo da região de Dreux para o norte, a fim de ”envolver em profundidade todas as forças alemãs que se encontram ainda a oeste da linha Lê Havre-Paris e estabelecer diversas testas de ponte sobre o Sena” ; outro, a partir da região Chartres-Orleães, em direcção a leste, ao sul de Paris. ”No que se refere a Paris - concluía o relatório - , não é de crer que exista o perigo iminente dum ataque de grande envergadura2.”
Seguro portanto de que nenhuma ameaça imediata pesava sobre Paris, tanto no interior da cidade como no exterior, o comandante-chefe decidiu correr um risco. Assim, em vez de dar prioridade absoluta, como Hitler ordenara, ao imediato reforço da cintura defensiva em frente da capital francesa, Model resolveu salvar primeiro as suas tropas do cerco, levando-as para a retaguarda do Baixo Sena. Depois, ocupar-se-ia da cintura defensiva em frente de Paris. Quando as 26.a e 27.a Panzer, prometidas pelo Fúhrer, chegarem, disse a Speidel, elas atravessarão directamente Paris com o que resta do 7.º Exército, a fim de tomarem as suas posições tácticas diante da cidade.
Model mandou chamar o chefe da 3.a Repartição do Grupo de Exércitos, o coronel Von Tempelhoff, e numa voz grave e precisa começou a ditar-lhe as suas ordens.
O comandante-chefe só iria esquecer-se de uma coisa: avisar o general Von Choltitz de que duas divisões blindadas, enviadas pela O.K.W., estavam a caminho de Paris. Omissão essa que acarretaria, em breve, consequências bem graves.
No vasto gabinete do general Von Choltitz, por detrás da sua secretária e ao lado dum espelho suspenso sobre a lareira, o alferes Von Arnim pregara na parede, com alfinetes, um mapa da frente Oeste. Nesse mapa, o general alemão ia seguindo, dia após dia, os progressos do avanço aliado. Podia começar já a ver esboçar-se o duplo avanço mencionado no relatório dos serviços de informações do Feldmarschall Model. Manobra essa por ele há muito aguardada3. Choltitz diz-nos que, nesse dia, ele não acreditava num ataque frontal sobre Paris ”antes do princípio de Setembro”.
E quando esse ataque se produzisse, Dietrich von Choltitz defenderia Paris. O general alemão tinha consciência de que isso seria uma tarefa pouco agradável. Mas estava resignado. A sua missão em Paris continuava a ser a que o Feldmarschall Von Kluge definira pouco depois da sua chegada: ”Paris será defendida e o senhor defendê-la-á.”
Ele não ignorava que as intenções de Hitler eram transformar a cidade num Festung, uma fortaleza a defender pedra por pedra. Admitiu mesmo, mais tarde..
1 Como era frequente, os serviços de informações alemães sobreestimavam a força das tropas aliadas. Nesta data não existiam mais de 39 divisões aliadas na Normandia.
2Beitrag Zur Wochenmeldung: Die feind lichen Staerken und Operationsabsichten 110/10 de 20 de Agosto.
Segundo as recordações de Choltitz, teriam sido documentos aliados que forneceram aos alemães os traços gerais das intenções aliadas. No entanto, dentre as centenas de documentos por eles estudados, os autores deste livro não conseguiram encontrar o seu rasto.
que, ”militarmente falando, era uma ideia válida”. Para executar essa missão seriam precisas, segundo os seus cálculos, cinco divisões. Ora os exércitos dizimados da Normandia jamais lhe poderiam fornecer essas forças. Mas, com três divisões apenas, ele conseguiria, pensava, fazer de Paris um campo de batalha mortífero, que desbastaria o inimigo durante várias semanas. Era uma maneira pouco gloriosa de terminar a sua carreira de militar. Mas Choltitz sabia que, quando chegassem os reforços, não haveria qualquer escolha a fazer: teria de combater.
As reflexões do general foram interrompidas pela campainha do telefone preto que estava no canto direito da sua secretária. Esse telefone comunicava, directamente, através do quadro do chefe do seu serviço de transmissões, o alferes Von Bressensdorf, com a O.K. W. e Berlim. O coronel-general Alfred Jodl telefonava pela terceira vez. O tom rouco das primeiras palavras que ele proferiu revelou imediatamente a Choltitz o estado de ira em que se encontrava o chefe de estado-maior de Hitler.
O Fúhrer, declarou este, exigia que lhe dissessem por que razão a O. K. W. não tinha ainda recebido um único relatório referente às destruições que ele, Choltitz, tinha sido encarregado de mandar executar na região parisiense. Esta pergunta inquietou e embaraçou o general Von Choltitz. Os quatro especialistas em demolições enviados por Berlim tinham terminado, nessa mesma manhã, o seu trabalho e sobre a secretária de Choltitz encontrava-se o resultado dele: planos cuidadosamente preparados tendentes à destruição de mais de 200 fábricas. Esses homens regressariam em breve a Berlim, e Choltitz não poderia continuar a pretender que esperava a conclusão dos seus trabalhos para dar início às destruições. Forçado pela impaciência do seu interlocutor, o general acabou por encontrar uma desculpa para aquele atraso. Era a única possível, e no entanto ele não tardaria a lamentar tê-la dado. Explicou a Jodl que não tinha podido dar início às destruições porque as suas tropas tinham estado ocupadas a combater ataques ’terroristas’’, que se haviam verificado por toda a capital.
Choltitz lembra-se ainda da estupefacção de Jodl. Era aquela a primeira indicação que a O. K. W. recebia da gravidade da situação em Paris. Jodl manteve-se silencioso durante um largo momento. Tinha acabado de sair da primeira conferência quotidiana de Hitler. As ordens que recebera do Fúhrer eram ainda apenas rabiscos no seu bloco de estenografia. De novo, Jodl precisou que devia ser dada a maior importância à defesa de Paris. Era indispensável tomar todas as medidas necessárias nesse sentido.
Jodl advertiu Choltitz de que o Fúhrer iria ficar furioso ao saber que tinham estalado desordens em Paris e ordenou-lhe que restabelecesse a ordem por todos os meios”. Em seguida, numa voz seca e pausada, vincando cada palavra, Jodl, recorda Choltitz, declarou:
”Quaisquer que sejam os acontecimentos, o Fúhrer espera que o senhor proceda às mais intensas destruições na região que depende do seu comando.”
No seu Q.-G. próximo de Granville, Dwight Eisenhower ouvia a chuva normanda fustigar o tecto da sua tenda e as árvores da floresta. A visita dominical que ele esperava chamava-se Charles de Gaulle. O comandante supremo não tinha a menor dúvida de que o objectivo da sua visita dizia respeito ao destino de Paris.
Tal como De Gaulle, Eisenhower tomara conhecimento horas antes do estalar da insurreição parisiense. Ele recorda-se de que essa notícia o havia irritado profundamente, pois anunciava uma situação que desejava a todo o custo evitar, ’uma situação que nós éramos incapazes de dominar e que nos arriscava a termos de modificar os nossos planos, antes de estarmos preparados para fazê-lo.
Para aquele tranquilo americano do Médio Oeste que carregava sobre os ombros a tarefa esmagadora de conduzir os exércitos aliados à vitória, os aspectos políticos da libertação de Paris eram secundários. A sua única preocupação era derrotar as forças alemãs, e nada conseguiria afastá-lo desse objectivo. Sabia que o chefe do Governo Provisório francês iria tentar o impossível para levá-lo a modificar os seus planos ”a fim de alcançar, como era seu costume, os seus próprios desígnios políticos”. Mas estava decidido a ser intransigente. Não avançaria sobre Paris.
Charles de Gaulle atravessou, em poucas passadas, a clareira que o separava da tenda do comandante supremo. Tinha uma expressão carrancuda, de traços vincados. Nunca a missão que o esperava lhe parecera mais pesada. Regressado a França com o risco da própria vida, à sua chegada só tivera uma lâmina emprestada para se barbear, e ninguém a recebê-lo! As multidões que por toda a França vibravam ao ouvir o seu nome desconheciam as suas feições. De Gaulle não era mais do que um fantasma encarnando um ideal. Para que esse ideal se tornasse uma realidade política ele próprio teria de tornar-se num ser de carne e osso. Paris seria a ocasião para o fazer.
Para Charles de Gaulle, a nova situação criada em Paris pelo desencadear da insurreição era duma importância capital. Os comunistas poderiam, a todo o momento, apossar-se do poder. Ao baixar a cabeça para penetrar na tenda do comandante supremo De Gaulle estava tão resolvido como Eisenhower a fazer triunfar a sua vontade. Eisenhower tinha de marchar sobre Paris.
Uma hora e quinze minutos mais tarde, do posto de comando do Lodestar ”France” estacionado na pista de Molay, o coronel Marmier viu descer dum automóvel a silhueta esguia do homem que trouxera para França, com cento e vinte segundos de gasolina no último dos reservatórios. Nunca esse homem lhe pareceu tão só e tão melancólico. Com a cabeça caída para a frente, de ombros curvados, De Gaulle, nesse momento, parecia carregar sobre ele todo o peso do Mundo.”
Falhara. Eisenhower recusara-se a modificar os seus planos e a marchar imediatamente sobre Paris. Durante toda a entrevista, entrincheirados nas suas respectivas posições, os dois generais tinham-se defrontado perante os mapas de estado-maior.
Armado com um lápis, Eisenhower explicara ao francês a dupla manobra de envolvimento que projectava para rodear Paris. Segundo esse plano ’, dizia ele, nenhuma data concreta poderia ainda ser indicada para a libertação de Paris. Para De Gaulle, a mensagem inscrita nos mapas de Eisenhower não continha qualquer mistério. O programa do comandante-chefe não era o seu.
Eisenhower lembra-se de que ”De Gaulle pediu imediatamente que o problema de Paris fosse reconsiderado à luz da séria ameaça que os comunistas faziam pesar sobre a cidade.” Advertiu o comandante supremo de que, ”se ele tardasse em entrar em Paris, arriscava-se a encontrar aí uma situação política desastrosa que poderia provocar uma ruptura no esforço de guerra dos Aliados”.
1 Esse plano estava mencionado no documento ’’ Post Neptune operations’’.
Apesar da estima pessoal que tinha por De Gaulle e a despeito da compreensão que nutria pelos seus problemas, Eisenhower foi intransigente ’. Preocupado com ”a terrível batalha que poderíamos ter de travar na cidade’’, o comandante-chefe declarou ao seu visitante que a entrada dos Aliados em Paris era, de momento prematura2.
Para o homem abatido e solitário que se dirigia para a porta do Lodestar France’’, a negativa de Eisenhower trazia com ela um grave dilema. Charles de Gaulle declarara ao comandante supremo, momentos antes, que a libertação de Paris era de tal modo importante para o futuro da França que estava decidido, no caso de não conseguir realizar os seus objectivos, a retirar a
2.a Divisão Blindada do comando aliado e a enviá-la a Paris sob a sua própria autoridade.
Ao subir para o seu avião, De Gaulle voltou-se para o seu ajudante-de-campo. Rompendo o seu silêncio, fez uma única pergunta: Onde está Leclerc?’’
1 De Gaulle suspeitou que a intransigência de Eisenhower não era inspirada, exclusivamente, por considerações de ordem estratégica. ”Tive a impressão -escreve ele nas suas ”Memórias” - de que Eisenhower, no fundo, partilhava da minha maneira de ver, mas que, por razões que não eram todas de ordem estratégica, não podia ainda fazê-lo.” (Vol. II, pág. 296.) É uma alusão à convicção que tinha de que Washington inspirara as manobras de última hora de Lavai e de Herriot. Eisenhower afirmou aos autores deste livro que os motivos da sua decisão de não entrar em Paris eram ’ puramente militares”.
2 Eisenhower tinha razões para estar preocupado. O seu serviço de informações receberia nesse dia duas mensagens. A primeira, datada de 19 de Agosto, dizia: ”A 26.a Panzer sai da Dinamarca; destino desconhecido.” A segunda, datada de 20 de Agosto: ”Agentes de informação comunicam que a 26.a Panzer deve dirigir-se para a região parisiense.’’ Estas mensagens indicavam até que ponto as ordens de Hitler tinham sido rapidamente executadas - e como eram eficazes os serviços de informações aliados nos países ocupados. Essas mensagens confirmavam as suspeitas que Eisenhower tinha, nesse dia, quanto às intenções de Model.Receei que Model não enviasse para Paris duas ou três divisões, para nos obrigar a travar uma boa batalhazinha de ruas”, declarou Eisenhower aos autores deste livro. Eisenhower queria evitar a todo o custo esses inúteis combates de ruas e impor às suas tropas restrições no consumo de carburantes. ”Quando Model compreendesse o que se passava, estaríamos já algures para os lados de Reims, para aí aguardarmos as suas tropas.”
Eisenhower recorda-se que esboçou um sorriso ao ouvir esta ameaça. Estava convencido de que a 2.a D.B. ’ ’não teria podido avançar um único quilómetro se eu o não tivesse permitido.” Mais tarde, num momento crucial da guerra, durante a batalha das Ardenas, De Gaulle deveria brandir uma ameaça parecida quanto às divisões do Primeiro Exército Francês, que o comandante supremo queria evacuar de Estrasburgo. Furioso, Eisenhower declarara: ”General, manterei essas tropas em Estrasburgo tanto tempo quanto puder. Mas se o senhor quer reaver essas divisões, fique com elas. Lembre-se simplesmente duma coisa: não receberá mais um único cartucho, sequer um quilo de víveres ou um litro de gasolina. Mas se persiste em querer retomar essas divisões, general, vá para diante, fique com elas.”
Capitulo nono
Para o chefe comunista das F. F. I., o coronel Rol, as tréguas de Nordling eram uma verdadeira traição. Durante quatro anos de luta clandestina o jovem militante bretão esperara pacientemente a hora em que poderia comandar às claras as tropas que se batiam contra os ocupantes de Paris. E no momento em que, finalmente, essa hora chegara, os seus adversários políticos, os gaullistas, tentavam por meio duma derradeira manobra arrebatar-lhe essa honra e esse privilégio. Mas Rol estava decidido a contrariar, por todos os meios, com tanta energia quanta os gaullistas empregavam para a impor, a iniciativa do cônsul da Suécia. Do seu P.C. subterrâneo da Rua Schoeler, pelo telefone e por estafetas, partiram as ordens que confirmavam as que dera na véspera. ”A insurreição continua! Combateremos enquanto restar um alemão em Paris.” Ordenou também aos comandos comunistas F. T. P. que atacassem o inimigo onde quer que o encontrassem, e sem um momento de descanso. Rol pretendia acima de tudo que o ruído do tiroteio não se extinguisse nas ruas de Paris. Pois o silêncio, pensava, era o testemunho de que os Parisienses aceitavam as tréguas.
Nesse domingo, cerca do meio-dia, os comunistas começaram a afixar nas paredes milhares de avisos denunciando o cessar-fogo, fazendo-o aparecer como ”uma vergonhosa manobra dos inimigos do povo”.
Com a obstinação e a teimosia do seu sangue bretão, Rol entregou-se depois à tarefa de retomar o domínio dos oficiais dos seus estados-maiores F. F. I. que os gaullistas tinham conseguido arrastar para o caminho das tréguas. Esta implacável batalha, travada no terreno movediço das rivalidades políticas, viria envenenar definitivamente as relações entre as facções opostas da Resistência. Segundo Yvon Morandat, ”os comunistas estavam prontos para uma nova Comuna, na qual os gaullistas fariam de habitantes de Versalhes”. Na boca de André Toilet, Parodi e os homens que o rodeavam eram ”traidores que procuravam sabotar a insurreição, para que De Gaulle em pessoa pudesse libertar Paris”.
Tanto para uns como para outros, o alvo essencial desta batalha surda era a enorme e prestigiosa Prefecture, berço da insurreição. Por detrás das suas martirizadas fachadas, no labirinto dos seus corredores e dos seus gabinetes, discussões tão encarniçadas quanto os combates da véspera o tinham sido contra os alemães, opunham nesse dia os representantes das suas facções. Para fomentar a discórdia nas fileiras da polícia, e tentar subtraí-la à autoridade soberana do gaullista Yves Bayet e do novo prefeito de polícia Charles Luizet, os comunistas tinham destacado um dos seus mais brilhantes intelectuais, o jovem jurisconsulto Maurice Kriegel-Valrimont. Habilmente e com toda a experiência que lhe vinha de quatro anos de actividade clandestina, Kriegel-Varlimont manobrou no sentido de conseguir que a polícia parisiense desertasse das fileiras gaullistas e prosseguisse o combate. No decorrer duma das apaixonadas discussões que nessa tarde se desenrolaram na Prefecture, Alexandre de Saint-Phalle precipitou-se para o jovem intelectual comunista. Segurando-lhe um braço pelo punho, gritou: ”Se continua com a insurreição, esta mão cobrir-se-á do sangue de milhares de parisienses inocentes.’’
Perto, num gabinete vizinho, o inspector de finanças Lorrain Cruze, adjunto de Chaban-Delmas, lutava também pela causa das tréguas e agitava o fantasma da destruição e do massacre a que a cidade estava destinada se os comunistas persistissem na sua atitude. O seu interlocutor ouvia em silêncio, com expressão sombria e decidida. Era o próprio Rol. Lorrain Cruze, repentinamente, viu o seu antagonista desferir um murro na mesa. E ouviu-o pronunciar com fervor uma frase que jamais esqueceria: ”Paris - exclamou Rol - vale bem 200000 mortos!”
No entanto, graças aos esforços incessantes de Rol, a insurreição readquiria pouco a pouco a intensidade que perdera na véspera à noite. O som das descargas, tão estranhamente desaparecido nessa manhã, recomeçava a fazer-se ouvir nas ruas de Paris. Por toda a cidade, obedecendo ao seu chefe, os comandos comunistas F.T.P. abriam fogo sobre as patrulhas da Wehrmacht. Os alemães, dos quais muitos não tinham observado a ordem de cessar-fogo dada por Choltitz, reagiram violentamente. Por todos os lados, como um velho tecido a desfiar-se, as tréguas decompunham-se.
Os que, nesse domingo, passeavam pela cidade, e com eles muitos curiosos, viram-se subitamente apanhados entre os fogos cruzados das armas automáticas ’. Os parisienses que, poucas horas antes, tinham tão orgulhosamente engalanado as fachadas das suas residências, viram as suas janelas tornarem-se alvo das metralhadoras alemãs.
Entre o Sena e Saint-Germain-des-Prés, no dédalo de ruelas que têm nomes tão pitorescos como ”Gato que Pesca’’ e ” Jaz o Coração’’, pequenos grupos de F.F.I, prepararam, nesse princípio de tarde, uma emboscada a uma importante patrulha alemã. Sob os olhares divertidos dos habitantes desse bairro milenário, os orgulhosos soldados da Wehrmacht, regados com garrafas incendiárias, não tardaram a arder como archotes gigantescos.
A cidade começou a viver plenamente o clima de guerra. Nas suas tipografias secretas onde, antes, tinham sido compostos os jornais clandestinos da Resistência, imprimiam-se milhares de folhetos, nos quais os Parisienses encontravam estranhas receitas para fabricar uma garrafa incendiária ou construir uma barricada. As farmácias, com os seus preciosos frascos de clorato de potássio, tornavam-se em autênticos arsenais. Nos andares dos prédios ou nas lojas, estudantes de Medicina e jovens auxiliares femininas da Cruz Vermelha instalaram clínicas clandestinas. Centenas de maqueiros voluntários, na sua maioria rapazes muito novos, concentravam-se nos postos de socorro disseminados por toda a cidade. No grande mercado (Lês Halles), as F.F.I, requisitaram quantidades maciças de mercadorias e distribuíram os víveres pelas cantinas comunitárias. Quando a hora da fome chegasse cada parisiense estaria já inscrito num desses refeitórios e poderia dispor de refeições compostas por um único prato, uma tigela de ”sopa popular”.
Mas em parte alguma, na imensa cidade fervilhando de paixões e de esperança, a batalha foi organizada com tanto entusiasmo como sob o peristilo do vasto edifício que abrigava a mais célebre sala do teatro nacional, a Comédie Française. Os actores da casa de Molière tinham saído para a rua a fim de aí desempenharem o mais belo papel da sua carreira, o de enfermeira ou de guerrilheiro nessa peça histórica que em breve se chamaria ”A Libertação de Paris.” Marie Bell, Lise Delamare, Mony Dalmès, as heroínas de Racine.
Apesar das tréguas terem durado algumas horas, a batalha de Paris causou, nesse domingo, 106 mortos e 357 feridos do lado dos franceses, um número de vítimas pouco inferior ao do dia anterior, em que 125 parisienses tinham morrido e 479 sido feridos.
Tinham desenterrado dos armários do guarda-roupa do teatro os fatos com os quais tomaram a personalidade de enfermeiras. No posto de socorros que elas improvisaram constituiu-se um grupo de maqueiros voluntários. Um destes era um homenzinho de óculos com aros de ferro. Pedira para fazer o turno da noite, pois as noites, dizia ele, seriam mais calmas e assim poderia também escrever. Chamava-se Jean-Paul Sartre e estava a escrever Os Caminhos da Liberdade. Pierre Dux, tornado pintor, pintalgava enormes cruzes vermelhas nos flancos dum autocarro de que se apossara. As poucas armas escondidas na caldeira do aquecimento central tinham sido distribuídas aos galãs. Jacques Dacqmine continuava a usar o uniforme do glorioso capitão da Legião Estrangeira que encarnava no filme que tinha começado a interpretar. Coubera-lhe uma Winchester. De camisa aberta, o cabelo em desalinho, verdadeiro ”retrato dum herói”, Georges Marchai brandia uma velha espingarda de caça e doze cartuchos. O armamento dos restantes provinha do armazém de acessórios. Era, cobertas de pó mas ameaçadoras, uma dúzia de carabinas de madeira.
Apenas um, dentre os actores, empunhava uma pistola-metralhadora. Era Jean Yonnel. Mas Yonnel tinha uma missão especial a cumprir nessa manhã. Devia proceder a uma execução.
Dissimulando a arma sob uma pequena capa, Yonnel estacou na esquina da Rua Lê Sueur com a Avenida Foch. Era aí que teria a entrevista com o homem que devia abater, um oficial alemão da S. D.que traria debaixo do braço uma pasta de cabedal preto. Às 14 horas, esse homem sairia dum prédio da Rua Lê Sueur. Yonnel olhou para o relógio. ”Dentro de dez minutos”, pensou. Começou a andar para trás e para diante. De repente, uma ideia inquietante obcecou-o. ”E se eu me engano no alemão?”, perguntou a si próprio. Apertando a coronha da pistola-metralhadora, o herói de tantas tragédias pensou que nunca matara alguém. O alemão da pasta preta surgiu então no passeio fronteiro. Pontual. Yonnel, instintivamente, recuou. Entreabriu a capa e premiu o gatilho. Brutalmente, enquanto via a sua vítima cambalear, uma frase de Molière que muitas vezes declamara sob as luzes da ribalta veio-lhe ao pensamento: ”Apenas se morre uma vez e é por tanto tempo’’, murmurou, horrorizado com o que acabava de fazer. Precipitou-se para o alemão, arrancou-lhe a pasta
e largou a correr. Atrás dele ressoaram apitadelas e gritos. Enfiou pela primeira porta que encontrou aberta e atirou com a pasta para os braços do surpreendido porteiro. ”Queime isto!”, ordenou. Essa pasta continha a lista dos nomes e das moradas dos membros do ramo da Resistência dos actores franceses. Yonnel correu para as escadas. Já ouvia as vozes dos alemães que começavam a cercar o quarteirão. Com dedos nervosos, pôs-se a acariciar, no fundo da algibeira uma pequena ampola. Era a ampola de cianeto que trazia consigo para garantir o seu próprio silêncio no caso de ser capturado pelos alemães.
Dentro do Citroen preto arvorando o pavilhão da Cruz Vermelha, dois homens consternados ouviam os ”Nicht’’ repetidos dum Feldwebel que recusava deixá-los passar. Tinham conseguido, até aí, realizar o feito de transpor todos
1 A S.D. (Sicherheitsdienst) era a policia secreta das S.S. Criada por Himmler em 1932, a S.D, tornou-se, sob a direcção de Reinhardt Heydrich, uma das polícias mais temíveis da Alemanha nazi e agia independentemente da Gestapo.
os postos de fiscalização alemães. Aquele era o último, instalado à saída de Neauphle-le-Château, a 32 quilómetros a oeste de Paris. Explicaram pacientemente uma vez mais que na terra de ninguém, entre as linhas americanas e as linhas alemãs, havia uma colónia de crianças a quem deviam prestar socorro. Mas o alemão mantinha-se inabalável. Para Roger Gallois, chefe de estado-maior do coronel Rol, esse Feldwebel intratável e obstinado punha em perigo a missão mais importante que ele jamais tivera de desempenhar para a Resistência Francesa. Rol enviara Gallois aos americanos para lhes pedir que efectuassem um lançamento maciço de armas, em pára-quedas, sobre Paris. Com esse armamento, Rol contava fazer triunfar a insurreição e colocar no poder os seus amigos comunistas. Gallois, um dos raros não-comunistas do estado-maior F.F.I., encontrava-se quase por acaso no interior daquele automóvel. Rol teria preferido confiar aquela missão a um membro do Partido. Mas Gallois era o único que falava correctamente inglês e a consideração desse facto tinha-o por fim decidido.
O Feldwebel apontou a sua pistola-metralhadora Schmeisser para o automóvel e intimou os dois homens a voltarem para trás. Tinham perdido quatro horas inutilmente. Só lhes restava procurar outro meio de transpor as linhas alemãs, a fim de transmitirem a mensagem da qual dependia, na opinião de Rol, o futuro de Paris e talvez o da própria França.
Capítulo décimo
Grossas nuvens, precursoras de novas trovoadas, tinham, nesse princípio de tarde, invadido o céu de Paris. Como sempre após cada refeição, só, na varanda da sua residência, Dietrich von Choltitz respirava o ar morno de Verão. Nada no Mundo podia satisfazer mais, nesse instante, o comandante do Gross Paris do que esse torpor em que a cidade parecia ter adormecido. Mas ao longe, ténue e distante, o crepitar das metralhadoras que chegava até ele era presságio de sombrios acontecimentos.
Da mesma forma que para os seus adversários, a trégua do cônsul Nordling proporcionara ao general Von Choltitz uns momentos de repouso providenciais. Não fosse essa trégua e àquela hora, pensava ele, dirigindo o olhar para as densas ramadas amarelecidas das árvores que lhe tapavam a vista do Sena, a Prefecture e talvez toda a ilha da Cite não seriam mais do que um monte de escombros. Choltitz não sentia qualquer emoção especial com essa ideia. A sua missão era manter a ordem custasse o que custasse. Para ele, comandante do Gross Paris, essas tréguas nada mais representavam do que uma derradeira oportunidade de cumprir a sua missão, sem ser obrigado a recorrer a uma prova de força cujas consequências seriam incalculáveis. Mas agora, parecia-lhe, também essa última oportunidade estava em vias de desaparecer.
Escutando o tiroteio que, com breves intervalos, continuava a fazer-se ouvir aqui e ali, Choltitz recordou a conversa que tivera menos de uma hora antes com Jodl. A revelação que fora obrigado a fazer, da gravidade do levantamento que os seus soldados tinham tido de combater, varrera completamente a esperança secreta que ainda conservava de se fazer esquecer numa Paris tranquila. À partir desse instante, Hitler não lhe concederia o mais pequeno descanso. O general sabia que no caso duma quebra definitiva das tréguas seria obrigado a executar as ordens implacáveis que tinha recebido.
Uma vez mais, o tímido retinir duma campainha viria interromper os negros pensamentos de Choltitz. Voltou ao seu gabinete e levantou o auscultador do telefone. Na linha, uma voz desconhecida pedia para falar pessoalmente com o comandante do Gross Paris.
”Sou eu”, resmungou Choltitz.
O interlocutor declinou a sua identidade. Era um oficial de justiça militar de Saint-Cloud. Numa voz cheia de orgulho, comunicou que tinha em seu poder três civis que se intitulavam ”ministros do Governo do general De Gaulle”. No interior do automóvel em que se deslocavam, acrescentou, tinham sido encontrados documentos e armas. Considerava aquela a mais importante captura que fizera desde que se encontrava em Paris. E queria saber se deveria fuzilar imediatamente aqueles homens ou, pelo contrário, entregá-los à S.D.,^que os reclamava. Choltitz recorda que a sua primeira reacção foi responder: ”Já, naturlich, mande fuzilá-los.” As suas tropas tinham ordens para abater imediatamente qualquer civil portador de armas. Mas, de repente, mudou de opinião. Como um relâmpago, uma ideia cruzou-lhe o pensamento. Se, de facto, era verdade que esses prisioneiros representavam o general De Gaulle na capital insurgida, pensava, aquela era uma ocasião inesperada para jogar uma nova e derradeira cartada.
”Traga-me esses homens - ordenou secamente. - Quero vê-los antes que os mande fuzilar.”
Poucos minutos antes da chegada dos três prisioneiros, Choltitz viu entrar no seu gabinete o cônsul Raoul Nordling, acompanhado por Bobby Bender, o agente do Abwehr. Os dois homens pareciam encontrar-se num estado de extremo nervosismo. A sua visita era motivada por uma extraordinária coincidência. Na Avenida Henri-Martin, uma bela parisiense, que passava por acaso, vira um camião no interior do qual estavam três homens amarrados. Entre estes, Jacqueline de Champeaux reconhecera horrorizada o homem cujo nome iria usar em breve, o seu noivo Émile Laffon!. Nordling suplicou a Choltitz que arrancasse aqueles três prisioneiros às mãos dos S.S. Eram, garantiu, os próprios chefes da Resistência com os quais ele, Nordling, negociara as tréguas. Um deles era, também, ministro do general De Gaulle. Chamava-se Alexandre Parodi.
O general teve um sorriso irónico.
”Senhor cônsul - respondeu -, era precisamente a sua visita que eu aguardava neste instante.
O comandante do Gross Paris ajustou o monóculo e observou com curiosidade os três civis que dois Feldgendarmes, com os peitos cobertos por placas de prata, empurravam na sua frente. Havia vinte e quatro horas que perguntava a si próprio que cara poderiam ter os homens que comandavam a insurreição. Seriam exclusivamente, como lhe comunicava o seu serviço de informações, ”vagabundos” ou ”comunistas”?
1 Jacqueline de Champeaux precipitara-se para um telefone e chamara pelo agente de ligação da Resistência Philippe Clement, o qual, por sua vez, avisara Alexandre de Saint-Phalle, em casa de quem Parodi instalara o seu P.C. Saint-Phalle prevenira imediatamente Nordling.
Sublinhando as palavras com socos na secretária, o general mostrou-se surpreendido com o facto de três chefes da Resistência terem sido tão temerários que não receassem passear, em pleno dia, num automóvel repleto de papéis comprometeres e armas. ”Por quem tomam então os meus soldados? Por escuteiros? ’’, perguntou.
Mas o general alemão não fizera comparecer à sua presença aqueles três homens para lhes ensinar regras de bem viver. O que pretendia era ele próprio fazer-lhes ver as terríveis responsabilidades em que incorriam, no caso de as tréguas a que se tinham comprometido serem definitivamente quebradas. Por toda a cidade, explicou, as armas tinham voltado a fazer fogo. Ora, na sua qualidade de governador de Paris, responsável pela ordem e pela segurança das suas tropas, ele era obrigado a responder à violência com a violência. Fosse qual fosse o preço que isso custasse, ameaçou, estava decidido a assegurar a segurança das linhas de comunicações que passavam por Paris. Se a insurreição recomeçasse, as consequências seriam funestas para a capital e para os seus habitantes.
Enquanto proferia estas ameaças, Choltitz viu a expressão de Alexandre Parodi tornar-se mais dura. Numa voz grave e firme, com essa mesma tranquila coragem que ostentava desde que assumira o pesado encargo de representar Charles de Gaulle na França ocupada pelo inimigo, o francês, até então entrincheirado numa dignidade silenciosa, começou a responder ao general alemão. Garantiu-lhe que também ele próprio desejava ardentemente que a ordem reinasse na cidade. ”Mas -disse -o senhor é um general, dá ordens a um exército, sabe que será obedecido. Enquanto a Resistência não é mais do que um conjunto de movimentos. E nem todos esses movimentos são comandados por mim.’’
Choltitz abanou lentamente a cabeça. Depois, comprimindo o monóculo com uma careta, fitou com olhar duro o homenzinho que acabara de falar. Minutos antes, tivera vontade de o mandar fuzilar imediatamente, no Jardim das Tulherias, sob as suas janelas. No entanto, esperava sinceramente que aquele encontro viesse a dar os seus frutos. Voltando-se bruscamente para o cônsul Nordling, Choltitz declarou: ”Senhor cônsul, considerando que estes homens foram presos após a entrada em vigor do cessar-fogo, decidi entregá-los nas suas mãos.’’
Proferindo estas palavras, o general alemão ergueu-se e deu a volta à secretária. Aproximando-se de Parodi, perguntou-lhe: ”É oficial?” ”Oficial da Reserva”, respondeu o francês. Entre oficiais, pode ter-se um gesto destes.’’ O general Von Choltitz estendeu a mão ao francês a quem acabava de salvar a vida. Mas este recusou-se a apertá-la. Nordling viu a face do alemão avermelhar-se de cólera. Choltitz, vinte anos depois, não teria ainda esquecido esta ofensa.
Mas nenhum alemão estava nesse momento mais indignado que o oficial da Feldgendarmerie que acabava de ter conhecimento da libertação dos prisioneiros. Ouvidos indiscretos
ouviram-no rosnar, raivoso, nas escadas: ”Vamos tratar-lhes da saúde.’’ Esses ouvidos eram os de Bobby Bender, que imediatamente se precipitou para a rua. À esquerda, junto ao passeio da Rua Rivoli, viu um grande Packard preto estacionado, com o motor a trabalhar. Ao lado do motorista estava um civil, com os olhos encobertos pela aba dum chapéu mole. Bender, viu em frente do homem, um esguio objecto negro apoiado no rebordo do pára-brisas. Era o cano duma pistola-metralhadora.
Bender diriu-se para o Citroen arvorando o pavilhão sueco, para o qual tinham acabado de entrar Nordling e os três franceses. Metendo a cabeça pela janela, recomendou ao cônsul que não partisse antes de o carro dele ter arrancado.
Bobby pôs a trabalhar o seu Citroen de dois lugares. O motor tinha um segredo que, trinta segundos mais tarde, iria salvar a vida do cônsul sueco e dos três franceses. Graças às suas relações na fábrica Citroen, da qual fora representante em Berlim, o agente do Abwehr, antigo piloto de corridas da Daimler, mandara instalar um motor especial de três carburadores, o que tornava o seu automóvel no mais veloz veículo de Paris.
Bender fez um sinal a Nordling, e o carro do cônsul arrancou. Imediatamente, Bobby viu ”como num filme de gangsters de Chicago”, o Packard preto deslizar ao longo do passeio e lançar-se em perseguição do automóvel do corpo diplomático. Bobby carregou violentamente no acelerador.
Segundos depois, um áspero guinchar de pneus duma travagem brusca rasgou o ar. Choltitz correu para a varanda. Viu o automóvel de Bender parado obliquamente no meio da rua, bloqueando a passagem do Packard preto, enquanto um terceiro carro, o de Nordling, atravessava rapidamente a vasta Praça da Concórdia. Num momento, compreendeu o que se passava. Não tivesse sido a intervenção de Bender e os assassinos da S.D., a temível polícia secreta das S.S., teriam abatido, sob as suas próprias janelas, os homens que acabara de libertar, e com eles o cônsul da Suécia que os acompanhava. Mein Gott - murmurou -, escaparam por pouco.”
Pela quarta vez nesse dia atroz, os prisioneiros de Vincennes encontravam-se perante a vala que tinham cavado. No fundo desta, no sítio onde Georges Dubret se estendera ao comprido para ”serem tomadas as últimas medidas”, jaziam os corpos dos fuzilados que eles tinham transportado de tarde. Durante horas intermináveis, martirizados pela sede, esgotados pela fadiga, tinham apagado, uma a uma, as manchas e os rastos de sangue, ao longo do caminho que tinham percorrido enquanto carregavam os cadáveres. E, agora, era chegado o momento de eles próprios serem executados. A maior parte desejava ardentemente essa morte, que poria termo ao seu calvário. Mas no momento em que a metralhadora, finalmente reparada, ia abrir fogo, um sargento-ajudante, a quem os soldados chamavam Fúhrer, surgiu gritando: Nein! Netn! Esse homem, que se vangloriava de ter ele próprio cravado, com um golpe de baioneta, uma criança de dois anos na porta da igreja de Oradour, tinha organizado uma última encenação para aquele quadro de tragédia.
Sobre o talude, carregando uma enorme prancha de carvalho nos braços esticados sobre a cabeça, o comissário Antoine Silvestri, o único prisioneiro que jamais praticara qualquer acto de resistência, rodopiava sem cessar sobre si próprio. Incessantemente, os alemães golpeavam o desgraçado com a coronha das espingardas, fazendo-o girar cada vez mais depressa. Silvestri abateu-se uma vez, as pernas dobraram-se-lhe sem forças, mas os soldados obrigaram-no a reerguer-se. Schnell! Schnell!, vociferavam. Silvestri recomeçou a rodopiar como um pião, mas, logo depois, esgotado, caiu de joelhos. Levantou-se de novo. Olhando para aquele vulto vacilante, o polícia Antoine Jouvet pensou que ”Silvestri assemelhava-se a um Cristo”.
Quando o pequeno Fúhrer decidiu que a sessão já tinha durado bastante, fez descer o comissário para a beira da vala e declarou que ele próprio iria executá-lo. Um soldado estendeu-lhe uma pistola-metralhadora. Georges Dubret e os seus camaradas assistiram a um espectáculo tão extraordinário que os próprios alemães pareceram ficar embaraçados. Silvestri tirou da algibeira um pente e começou a alisar calmamente os seus cabelos grisalhos. Em seguida, ajustou o nó da gravata, abotoou a camisa e o colete, fechou o casaco, esticou o vinco das calças e baixou-se para sacudir o pó dos sapatos.
Depois, endireitando o corpo e erguendo a cabeça, gritou a plenos pulmões: ”Viva a Fr...” Uma rajada de metralhadora estrangulara-lhe na garganta o nome do seu país.
Vendo Silvestri cair para dentro do fosso, Georges Dubret não pôde deixar de comentar de si para si: ” Meu Deus, ele caiu como se cai nos filmes.’’
Dubret e os seus companheiros saberiam pouco depois a razão desse assassinato. Minutos antes, Antoine Silvestri realizara o seu primeiro acto de resistência: para salvar os seus homens, tinha declarado aos alemães que a braçadeira tricolor encontrada debaixo dum tapete do seu comissariado lhe pertencia.
”Tapem a vala! - urrou o Fúhrer. - Amanhã será a vossa vez!’’
Dois homens descascavam pêras à luz duma vela. Na vivenda* da pequena vila de Saint-Nom-la-Bretèche, à qual se tinham acolhido nessa noite, nada mais tinham encontrado para jantar. Roger Gallois e o seu companheiro, o Dr. Robert Monod, estavam desanimados. De fora, da rua, chegava até eles o som das passadas surdas das patrulhas alemãs que ocupavam a povoação. A despeito dum dia inteiro de esforços, não tinham conseguido atravessar as linhas alemãs.
Gallois e Mond eram dois velhos amigos, mas tinha sido o acaso que os reunira naquela mesma missão. Inspector do Serviço de Saúde para a região parisiense, o Dr. Monod dispunha duma ambulância da Cruz Vermelha, e de tão grande número de ausweis que com eles poderia deslocar-se até Berlim, se assim o desejasse. Desse privilégio raríssimo nascera a ideia daquela missão.
Mas no interior da sala antiquada onde se tinham refugiado e onde, conversando, esperavam a madrugada, os dois homens descobriram que um enorme mal-entendido os separava. Na penumbra daquela velha casa, onde os revestimentos de madeira das paredes cheiravam a bolor, Gallois e Monod representavam, nessa noite, as duas tendências em que a Resistência se fragmentara. Na sua voz igual e pausada de clínico, o médico explicava ao enviado do coronel Rol que seria uma loucura pedir aos americanos que lhes mandassem de pára-quedas ”nem que fosse um cartucho, porque a insurreição de Paris não tinha outro fim que não fosse favorecer um golpe de estado comunista”. O objectivo da sua missão, pleitou o médico, deveria ser, não pedir armas mas pôr os Aliados ao corrente
desse terrível perigo e suplicar-lhes que marchassem imediatamente sobre Paris.
Gallois sabia que Rol não tinha qualquer pressa de ver chegar os tanques da estrela branca. O que o chefe comunista pretendia era metralhadoras e não os soldados de Eisenhower. Para obter essas armas, cometera o erro de enviar o único homem do seu estado-maior susceptível de ser impressionado pelos argumentos daquele obscuro médico que devia dirigir a missão.
Na sala onde a vela acabava de se extinguir pairou um longo silêncio. Depois, o Dr. Monod ouviu a voz do seu companheiro: ”Robert, creio que tens razão , disse ele apenas.
Algumas horas mais tarde, Roger Gallois, um francês desconhecido, iria tentar realizar o que o próprio Charles de Gaulle fora incapaz de conseguir: convencer Dwight Eisenhower a modificar os seus planos e a marchar sobre Paris.
Capítulo décimo primeiro
Era uma daquelas noites sem Lua que fazem as delícias dos conspiradores. Dispersas sob as macieiras dum pomar normando, as tendas eram quase invisíveis. Os primeiros alvores da madrugada não surgiriam antes de uma hora. A beira da estrada estreita que levava à pequena vila de Écouché, um carro command, de luzes apagadas, esperava, com o motor a trabalhar. O esguio vulto dum oficial, que acabava de deslizar sem barulho pela erva molhada, subiu para o veículo e sentou-se ao lado do motorista. Na pasta de pele de antílope do Chade que o oficial transportava sobre os joelhos havia um mapa à escala 1/100000, com o número 10 G. No centro desse mapa, uma grande mancha preta e irregular. Essa mancha era a cidade de Paris.
No momento em que o carro arrancava, uma sombra empunhando uma bengala surgiu da noite e murmurou ao passageiro: ’’ Você tem sorte.
O homem da bengala era o general Leclerc, o comandante da 2.a D. B. Com a partida daquele veículo dava-se início a uma operação ordenada por ele, a despeito das ordens dos seus superiores, uma operação que, no dia seguinte, iria espalhar o pânico nos Q.-G. aliados.
Para o tenente-coronel Jacques de Guillebon, de 34 anos, a quem Leclerc tinha murmurado aquele breve adeus, a estrada de Écouché levava à mancha negra inscrita no seu mapa. Era ele, dos 600000 soldados dos Exércitos de Libertação, o primeiro a marchar sobre a capital da França. À testa de 17 carros de assalto ligeiros, duma dezena de autometralhadoras e de duas secções de infantaria, Jacques de Guillebon tinha por missão ”representar o exército francês na capital libertada’’ e ocupar ”o cargo de governador militar de Paris’’.
No mesmo instante, de todos os acampamentos disseminados pela paisagem normanda, os outros membros dessa expedição secreta deslizavam sorrateiramente para o interior dos respectivos veículos, e punham-se em marcha para o local de reunião. A fim de evitar que a sua ausência fosse notada, tinham sido escolhidos em todas as unidades. Nos seus paióis, nas suas cantinas e reservatórios empilhavam-se munições e víveres bastantes e neles havia carburante suficiente para irem até Estrasburgo. Cada oficial recebera, antes da partida, uma folha de papel amarelo, na qual Guillebon escrevera com a sua própria mão ”Confidencial’’ e a recomendação mais importante que os seus homens teriam de observar durante os 200 quilómetros de viagem que os esperavam. Esta resumia-se a uma única frase: ’ Evitem a todo o custo os americanos.’’
Nos degraus do seu atrelado, solitário e sonhador, Philippe Leclerc ouvia o barulho do carro command de Guillebon dissipar-se na noite, e pensava na audaciosa decisão que acabara de tomar. Tinha consciência do autêntico acto de insubordinação que ela constituía, no que se referia ao comando aliado do qual ele dependia. Mas Leclerc tinha um juramento a respeitar, o juramento que prestara, três anos antes, após a tomada de Koufra, nas areias do deserto da Líbia. Ali, a 3000 quilómetros da capital da França, tinha jurado libertar Paris um dia.
Os exércitos aliados encontravam-se já nas proximidades da capital - e ele, e a sua divisão, a única unidade francesa que havia na Normandia, contorciam-se de impaciência. Leclerc receava que os americanos, contrariamente ao que tinham prometido, entrassem em Paris sem ele. Seis dias antes escrevera ao general Patton participando-lhe que pediria para deixar de servir sob as suas ordens no caso de ser recusada à sua divisão a honra de libertar Paris. E agora, para evitar que essa honra lhe fosse subtraída, enviava Guillebon a Paris.
Três dias antes de De Gaulle ter ameaçado o general Eisenhower de retirar a 2.a D. B. do comando aliado para fazer marchar sobre Paris, já o próprio Leclerc tomara as suas disposições para pôr em movimento a totalidade da sua divisão. E, ao contrário do que Eisenhower parecia estar convencido ao responder com um sorriso à ameaça de De Gaulle, essa divisão podia de facto alcançar Paris sem recorrer aos depósitos de abastecimento americanos. Havia quatro dias que, cumprindo as ordens de Leclerc, os motoristas dos camiões de abastecimento carregavam, nos depósitos de gasolina, quatro toneladas de carburante em lugar das duas toneladas e meia normalmente previstas. Nos regimentos de carros de assalto, os comandantes de esquadrões tinham recebido a recomendação discreta de não declararem as suas perdas, a fim de continuarem a receber dos americanos os fornecimentos de combustível e de munições dos carros destruídos. De noite, raptando ou assaltando as sentinelas americanas, pequenos comandos franceses tinham chegado mesmo a introduzir-se nos depósitos, com o objectivo de completarem o seu equipamento e de reforçarem o seu material. Deste modo, em muitos regimentos, as dotações regulamentares em armamento e munições viram-se, subitamente, duplicadas. Com os seus 4500 veículos e os seus 16000 homens, a 2.a D. B. estava pronta a lançar-se a todo o momento na peugada de Guillebon. Mas, apesar das constantes e prementes tentativas junto dos seus superiores americanos, Leclerc continuava a receber ordens para ”aguardar nas suas posições e ser paciente”.
Nessa noite, no entanto, Leclerc estava satisfeito. Comandado por um dos seus fiéis da primeira hora, como ele natural da Picardia, o seu destacamento simbólico veria despontar a alvorada nessa estrada de Paris pela qual, em breve, também ele próprio se poria a caminho. A única preocupação que atormentava o seu espírito era que os seus superiores americanos tivessem conhecimento da fuga de Guillebon, antes de ser tarde demais para o fazer parar.
Por isso, antes de se deitar, Leclerc tomou uma última precaução. Acordou o capitão Alain de Boissieu, que comandava o seu esquadrão de protecção. Apontando com a bengala para uma tenda levantada debaixo duma macieira, ordenou a Boissieu que raptasse delicadamente, assim que eles acordassem, os dois oficiais que nela dormiam. ”Leve-os a fazer um pouco de turismo pela região”, sugeriu. Leclerc considerava indispensável que os dois oficiais não pudessem descobrir a partida do destacamento de Guillebon. Dos 16000 homens da divisão, o tenente Rifkind e o capitão Hoye eram os únicos que poderiam ter sido tentados a participar aos chefes do V Corpo de Exércitos o desaparecimento da unidade francesa: eles eram os oficiais de ligação americanos junto da 2.a D.B.
No quarto 213 do palácio adormecido apenas se ouvia um fraco arranhar. Era a caneta do general Von Choltitz, correndo sobre uma folha de papel. Lá fora, o silêncio cobria as ruas obscuras de Paris. Na mancha preta do mapa 10 G surgiriam, dentro de uma hora, os primeiros clarões da madrugada.
Numa das extremidades da secretária Luís XV sobre a qual estava escrevendo o general, encontrava-se, embrulhado num papel castanho, o presente mais precioso que a gula dum general da Wehrmacht podia proporcionar-se nesse Verão: um pacote de café. O impedido de Choltitz, o cabo Helmut Mayer, descobrira e requisitara esse produto raríssimo na cozinha do Hotel Meurice, no princípio da noite.
Envolto num roupão de seda cinzenta, ainda por barbear, Choltitz terminava a carta que acompanharia esse presente, destinado a sua mulher, em Baden-Baden.
’A nossa tarefa é dura - escrevia ele -, e os dias difíceis. Esforço-me sempre por cumprir o meu dever e peço frequentemente a Deus que me ilumine.” Em seguida perguntava a sua mulher se o filho, de quatro meses, já tinha os dentes a nascer e recomendava-lhe que beijasse, por ele, as duas filhas do casal, Maria Angelika e Anna Barbara. ”Elas poderão estar orgulhosas do seu pai, aconteça o que acontecer’’, concluía ele. Quando o general ouviu baterem à porta do seu quarto, tinha terminado a carta.
Na ombreira da porta surgiu o mensageiro que iria levar aquela última carta a Baden-Baden. Era o único homem em quem Dietrich von Choltitz depositava uma confiança absoluta. Adolf von Carlowitz era seu primo, seu conselheiro, seu confidente. Choltitz pedira-lhe que deixasse, durante algum tempo, a fábrica de aviação ”Hermann-Goering” que dirigia, e se juntasse a ele em Paris. Mas, agora, a própria cidade encontrava-se no coração da batalha. Aproveitando a escuridão daquela última hora da noite, Adolf von Carlowitz regressaria à Alemanha.
Os dois homens abraçaram-se. Mach gut, Dietz, murmurou Carlowitz afectuosamente. Em
seguida, pegou na carta e no embrulho. Observando o vulto baixo que se afasta pelo corredor, Choltitz pergunta a si próprio se jamais voltará a vê-lo, e também se alguma vez voltará a ver a mulher a quem a carta é dirigida. Quando o ruído dos passos se extinguiu, um pensamento cravou-se no cérebro do general alemão. Naquela imensa cidade de Paris ele era agora, apenas, um homem só.
Algures em Paris, com gestos de conspiradores idênticos aos dos soldados de Guillebon, outros homens deslocavam-se furtivamente, aos primeiros alvores da madrugada. Um velho Renault deu a volta ao Leão de Belfort e estacou em frente do edifício da Direccção das Águas e dos Esgotos, no n.º 9 da Rua Schoelcher. Entre as sombras que se infiltraram sem ruído pela porta vidrada estava o inimigo mais intratável de Choltitz, o homem que comandava os insurrectos. Como um herói de Eugène Sue, o coronel Rol, chefe das F.F.I, de Paris, acendeu a sua lanterna eléctrica e desceu os 138 degraus do seu novo P.C. Ao chegar ao fim da escada, uma pesada porta blindada abriu-se, com um ranger metálico. Aí, 26 metros abaixo das ruas de Paris, junto aos esqueletos e crânios de quarenta gerações de parisienses, situava-se a fortaleza secreta donde iria dirigir a batalha. Através das suas portas estanques ao gás, Duroc’’ - era este o nome em cifra da fortaleza- comunicava com uma cidade sob a cidade: os 500 quilómetros de labirinto tecido, sob os prédios da capital, pelas catacumbas, os esgotos, o metropolitano e as galerias de antigas pedreiras.
Ao entrar na ”Duroc”, o chefe da insurreição teve uma surpresa da qual, passados vinte anos, ainda se recordará. Sob o aparelho especial de ventilação, Rol descobriu a chapa contendo o nome do construtor. Era um nome bem seu conhecido. Oito anos antes, prestes a partir para combater em Espanha nas brigadas internacionais, Rol, então simples operário de ”Nessi, Irmãos’’, montara ele próprio aquele aparelho que agora distribuía o precioso oxigénio que iria respirar durante as horas mais gloriosas da sua vida.
Em breve, na sala abobadada, fervilhando de actividade, o retinir duma campainha do telefone iria provocar uma nova surpresa. Por esse telefone secreto, independente da rede dos C. T. T. e das centrais de escuta alemãs, Rol podia comunicar com 250 postos do Serviço de Águas e dos Esgotos de Paris e dos subúrbios, e desta forma dirigir a insurreição. Desde a madrugada que as chamadas se sucediam sem interrupção: ”Atenção, Batignolles: isso vai bem? Atenção, Prefecture...” Mas, agora, na linha aparecia uma voz gutural que sobressaltou Rol e os seus homens. Alies gut?, perguntou ela. Ya, ya, dies gut, respondeu o F.F.I, que desempenhava as funções de telefonista. A 2 quilómetros de distância, na sala n.º 347 do Hotel Crillon, tranquilizado com a resposta que recebera, o único alemão que sabia da existência daquele abrigo, o Oberleutnant Otto Dummler, da Platzkommandantur, desligou.
Dummler conhecia tão bem os esgotos de Paris como as ruas da sua Estugarda natal. Todas as manhãs, durante dois anos, com a regularidade dum autómato, telefonara à sentinela da ”Duroc’’ para fazer aquela mesma pergunta. E, em cada manhã daquela semana, continuaria a telefonar à mesma hora, e continuaria a receber do quartel-general da insurreição que os seus compatriotas combatiam, a mesma resposta tranquilizadora: Alies gut’.
Um estafeta desceu a quatro e quatro os 138 degraus da Duroc’’, transpôs a porta blindada e atirou para cima da secretária um embrulho mal atado. Eram os primeiros jornais duma nova época, que os próprios nomes anunciavam já: O Parisiense Libertado, Libertação, Defesa da França... Rol desdobrou febrilmente as páginas ainda húmidas de tinta. Em cada uma delas havia um apelo tão velho como as ruas de Paris. Esse apelo era o próprio Rol quem o lançava, a fim de dar à insurreição um ânimo novo e de comunicar directamente com o povo da capital. Em letras enormes, os primeiros jornais dessa segunda-feira, 21 de Agosto, gritavam: ”ÀS BARRICADAS!”
Capítulo décimo segundo
Das margens do Sena, em Saint-Cloud, aos pardos arrabaldes de Pantin e de Saint-Denis, das faldas de Montmartre às ruas estreitas do Quartier Latin e de Montparnasse, as barricadas do coronel Rol brotaram do solo de Paris como
1 Treze meses antes, os alemães tinham-se subitamente inquietado com o perigo que representava essa cidade subterrânea no subsolo de Paris. Dummler tinha sido encarregado de mandar barricar as galerias sob os edifícios ocupados, com grades, arame farpado e armadilhas explosivas munidas de campainhas de alarme.
cogumelos depois duma chuvada de Outono. Nessa mesma noite, contavam-se já por dezenas. À chegada dos Aliados, haverá para cima de quatrocentas, todas diferentes em tamanho e na forma, consoante os materiais utilizados e o engenho dos seus construtores.
À esquina da Rua de Saint-Jacques, de cachimbo ao canto da boca, sotaina erguida até aos joelhos, o prior da freguesia, um antigo engenheiro, dirigia em pessoa a construção da barricada que os seus companheiros levantavam. Omou-a com enormes retratos de Hitler, de Mussolini e de Goering. Na Rua da Huchette, perto do Sena, frente à Prefecture de Polícia cercada, era uma mulher chamada Colette Briant quem, com a cara meia tapada por um imenso capacete da Wehrmacht, dirigia os trabalhos.
Tudo o que podia ser arrancado e transportado servia para a construção das barricadas. As mulheres e as crianças passavam de mão em mão os paralelipípedos do pavimento à medida que os homens os arrancavam do chão. Os sacos de areia da defesa passiva, as placas dos esgotos, as árvores, os camiões alemães incendiados, um piano de cauda, cobertores, móveis e até velhas tabuletas da lotaria nacional nas quais se lia: ”Tente a sua sorte - Extracção esta noite”, tornavam-se assim em perigosos obstáculos atravessados nas ruas de Paris. A esquina da Rua Dauphine e da Ponte Nova, a chapa metálica dum urinol servia de armadura à obra. Na Rua de Buci, um antiquário esvaziou a sua cave de móveis velhos para consolidar a construção erguida diante da sua porta.
A barricada mais imponente, talvez, era obra dum grupo de estudantes da Escola de Arquitectura. Levantada na esquina dos boulevards Saint-Germain e Saint-Michel, no coração do Quartier Latin, com dois metros de espessura, toda de paralelipípedos arrancados do pavimento, dominava um cruzamento importante da cidade, que em breve iria tomar o nome de ”Encruzilhada da Morte’’.
Defronte da Comédie Française, em frente do café do Universo, também os próprios actores da casa de Molière tinham construído a sua barricada. Se bem que a tivessem atulhado de tudo quanto tinham encontrado no armazém de acessórios do teatro, ela parecia-lhes tão ridícula que resolveram, a fim de impressionar os blindados alemães, utilizar armas psicológicas. Rodearam a sua construção de bidões, nos quais pintaram em letras enormes: Achtung Minen. Durante toda a semana, nenhum carro alemão ousou avançar contra essa fortaleza fictícia.
A rapidez com que as barricadas surgiram nas ruas abalou de estupefacção os alemães. Nessa
noite, o Feldwebel Hans Schmidtlapp escreveria aos seus pais, fazendeiros na Baviera, dizendo que as ruas de Paris pareciam-se com ”os campos depois das lavras da Primavera’’. Elas foram a causa do primeiro castigo do soldado de l.a classe Willy Krause, da 1a Waffenamt Kompanie O.K. W. Por não ter
conseguido destruir uma barricada das Buttes-Chaumont, Krause, atirador dum tanque Hotcbkiss, foi imediatamente transferido para a Infantaria.
Para o coronel Rol, esta brusca erupção de barricadas proporcionou-lhe intensa satisfação. Mas ela não resolvia, no entanto, o angustioso problema que o preocupava, a falta de armas. A Lorrain Cruse, o adjunto de Chaban-Delmas a quem na véspera garantira que ”Paris valia bem 200000 mortos”, reclamou ”os meios de fazer com que entre esses mortos uma boa percentagem seja de alemães’’. Sem quaisquer novas de Roger Gallois e da sua missão, Rol pediu que se efectuasse um lançamento maciço de armas em pára-quedas sobre a própria cidade. Entregou a Cruse uma lista com as necessidades que ele considerava de maior urgência: além do armamento e das munições, reclamava 10 000 granadas Gammont’ , cinco toneladas de explosivo plástico e milhares de metros de fio Bickford. No entanto, Rol não tinha qualquer ilusão quanto à sorte desse seu pedido. Sabia que era Chaban-Delmas quem controlava o tráfego de mensagens com Londres, e que a sua provavelmente nunca lá chegaria.o jovem desligou bruscamente o telefone. Yvon Morandat pretendia 30 F. F. I. dedicados a De Gaulle, para uma missão perigosa. Mas, em toda a Paris em armas, não conseguia encontrar um único. Tinha sido encarregado por Alexandre Parodi de desempenhar o papel principal na operação ”Tomada do Poder”. Esse papel iria ele portanto representá-lo só, ou quase. A única pessoa que nesse dia estava disponível para ajudar Morandat a apoderar-se do Palácio Matignon, residência dos presidentes do Conselho, era Claire, a sua loura secretária.
Fora nesse modesto apartamento da Rua Saint-Augustin, onde Claire e Morandat esperavam, que Alexandre Parodi resolvera, momentos antes, lançar a operação ”Tomada do Poder”. Cuidadosamente preparada havia meses, sancionada por Londres, essa espectacular manobra era, no espírito dos seus autores, ”uma enorme mistificação psicológica destinada a suster os comunistas’’. Parodi tinha consciência de que o gesto imprevisto de Choltitz libertando-o, na véspera, lhe salvara a vida, mas comprometera definitivamente a sua autoridade perante os seus adversários políticos. Suspeito por estes de ter concluído um acordo com o inimigo”, Parodi perdera todas as esperanças de salvar a trégua. Visto a insurreição ter recomeçado e, parecia, nada mais haver que pudesse estancá-la dali em diante, era necessário agora preservar o futuro: com uma audaciosa manobra, os gaullistas iriam bater os comunistas na meta de chegada, instalando oficialmente o Governo do general Charles de Gaulle em Paris rebelada. Havia muito que, na sombra, estavam designados os homens que deveriam sentar-se nas cadeiras ministeriais, e esperar que chegassem de Argel, ou da França libertada, os delegados do Governo Provisório de De Gaulle. A operação ”Tomada do Poder’’ consistia precisamente em instalar esses homens nos seus postos e em garantir a sua protecção até à libertação definitiva. No decorrer dum primeiro conselho oficial desse gabinete fantasma, que reuniria no Palácio Matignon, Parodi proclamaria publicamente a existência em Paris dum Governo da República francesa. E, deste modo, para se instalarem eles próprios no Poder, os comunistas teriam primeiro de liquidar os homens de Parodi e negar pública e oficialmente a autoridade de Charles de Gaulle e do seu Governo. Mas, nesse dia, aos comandos do general Rol deparar-se-iam no seu caminho vários milhares de homens, formando uma verdadeira guarda pretoriana. Havia vários dias que os gaullistas faziam entrar clandestinamente em Paris armamento proveniente dos esconderijos secretos da floresta de Nemours, onde os homens de Delouvrier aguardavam a mensagem cifrada Almoçaste bem, Jacquot?” Essas armas eram distribuídas pelos elementos de confiança da polícia, da guarda republicana e da guarda móvel que constituíam a ”força governamental”. A esta competia apoderar-se dos postos-chaves da capital até à chegada de Charles de Gaulle. Os
1 Granadas com carga de plástico que, tal como os obuses, explodiam ao impacto.
seus chefes tinham sido avisados que teriam sem dúvida de defender pela força os edifícios que iriam ocupar. E foram também prevenidos de que os seus assaltantes não usavam necessariamente o uniforme feldgrau.
O jovem sindicalista que Parodi designara para jogar a primeira carta dessa audaciosa partida política afastou devagar a cortina da janela do apartamento da Rua Saint-Augustin. Num reflexo de desconfiança, inspeccionou a rua. Estava cheia de alemães. O edifício estava cercado.
Morandat teve um sobressalto. ”Estamos perdidos”, murmurou. Assim, poucos dias antes da Libertação, ia cair nas mãos da Gestapo. Mas Morandat enganava-se. Os soldados, com equipamento de combate, que vira através da janela, não tinham vindo prendê-lo. Sob o comando do Hauptmann Otto Nietzki, da Wehrmachtstreise, vinham apenas restabelecer a ordem num bordel das vizinhanças.
Aliviado, Morandat desceu à rua. Com Claire instalada no porta-bagagens, partiu de bicicleta à conquista do Palácio Matignon, residência oficial dos presidentes do Conselho. Na sua ideia, o palácio em questão não poderia localizar-se senão na Avenida Matignon. Mas na Avenida Matignon, Morandat e Claire encontraram apenas um único edifício com as características daquele que procuravam, e esse, cravejado de cruzes gamadas, estava guardado por sentinelas alemãs. Morandat continuou a pedalar até que, por fim, na avenida deserta, encontrou um transeunte. Um cavalheiro de meia idade, de chapéu preto, passeando o seu cão. Embaraçado, o jovem gaullista que tinha sido encarregado de se apoderar da residência do presidente do Conselho fez ao solitário passeante uma pergunta surpreendente: ”Desculpe-me, senhor, onde fica o Palácio Matignon?”
Capítulo décimo terceiro
O ferroviário Heinrich Hauser, de 39 anos de idade, adido à Eisenbahn Bezirk Direktion Nord (a direcção regional dos caminhos de ferro do Norte) não necessitava, esse, de perguntar o seu caminho. Nessa mesma manhã, o gordo Hauser e os seus 48 camaradas sabiam com exactidão aonde pretendiam ir: queriam regressar a casa, na Alemanha. Havia oito meses, desde que tinha sido mandado para Paris a fim de chefiar o posto de comando de agulhas da estação de Batignolles, que a vida de Hauser se repartira entre a gare e o Soldatheneim da Praça de Clichy, onde residia. Na véspera, na imensa sala do refeitório, Hauser e os seus camaradas tinham festejado a sua última noite em Paris. Acompanhando com várias garrafas de champanhe o goulash com spaghetti da ementa, tinham-se embebedado. Hauser caíra rapidamente numa melancólica bebedeira. Segurando a taça de champanhe numa das mãos, os olhos embebidos em lágrimas, começara a cantar ”À beira do Reno, do belo Reno...” A sala em peso entoara em coro a canção, acompanhada pelos violinos da orquestra feminina. Durante toda a noite, no seu quarto, Hauser e os seus camaradas tinham continuado a festejar a noite de despedida, esvaziando as garrafas de vinho e de aguardente que os seus últimos marcos de ocupantes lhes tinham permitido adquirir.
E agora, com a cabeça entontecida pelo álcool que ingerira, de Mauser na mão, duas granadas penduradas do cinturão, Hauser esperava o camião que o seu chefe, Wacker, o Oberinspektor da Reichbahn, prometera enviar para a evacuação dos ferroviários de Batignolles. Desde a madrugada que homens duma secção da 813.a Pionierkompanie desenvolviam intensa actividade, minando a estação e a gare, cujas instalações estavam incluídas no plano de demolições preparado pelo capitão Ebernach. Hauser sabia que, dentro de poucas horas, tudo aquilo explodiria. Juntamente com os seus camaradas, arriscava-se, segundo pensava, a ser surpreendido nos escombros daquela gare dos comboios de mercadorias, e aniquilado pelos ”terroristas” que já ocupavam o bairro.
Para substituir o camião que tardava em aparecer, Hauser decidiu praticar a única acção de que era capaz. De facto, durante toda a guerra, exercera sempre a única actividade que nunca implicava na concessão da Cruz de Guerra: conduzira comboios. Numa das vias do imenso cais deserto, no qual Hauser e os seus homens estavam encerrados, permaneciam uma velha locomotiva e um único vagão de mercadorias. Hauser escapar-se-ia, nessa composição providencial, do vespeiro de Paris e fugiria para leste. Ninguém o poderia deter. Conhecia a rede ferroviária de Paris melhor do que as ruas da sua terra natal, Estugarda.
Hauser subiu para o posto de agulhagem e efectuou uma manobra que poderia fazer de olhos fechados: abriu a via que, pelo Bourget, levava directamente a Estrasburgo e à Alemanha. Como pacíficos operários regressando a casa após um dia de trabalho, Hauser e os seus 48 camaradas instalaram-se na composição. A locomotiva arrancou, numa nuvem de vapor branco, e depressa a cidade e os seus perigos desapareciam no horizonte. Só um perigo ameaçava os fugitivos, antes da chegada à Alemanha: os aviões aliados. Durante largo espaço de tempo, Heinrich Hauser contemplou pelo postigo traseiro do vagão as cúpulas do Sacré-Coeur, resplandecentes ao sol do meio-dia. Depois, tentou passar pelo sono.
Quando, instantes mais tarde, acordou, Hauser viu, surpreendido, que o Sol mudara de direcção. Brilhava agora em frente da locomotiva. Esfregou os olhos e comentou para consigo que bebera demais na véspera. Mas, logo a seguir, erguendo-se de um salto, sacudiu os camaradas e gritou: ”Com mil diabos, aqueles malandros manobraram as agulhas! Fizeram com que sigamos direitos a Paris.”
Yvon Morandat descobrira finalmente o Palácio Matignon. Estava localizado no n.º 57 da Avenida de Varenne, na outra margem do Sena, e não na Avenida Matignon. Arrumando a sua bicicleta junto à parede, Yvon e Claire aproximaram-se do grande portão verde que, quatro dias antes, se fechara à partida do Hotchkiss preto de Pierre Laval. Morandat
bateu à porta, autoritariamente. O postigo abriu-se e apareceu um rosto. Morandat declarou que desejava falar com o comandante da guarda.
Quando a pesada porta de carvalho se abriu, rangendo nos gonzos, os dois jovens estremeceram, à vista do espectáculo que tinham perante os olhos. Lá dentro, no vasto pátio interior coberto de saibro, de armas ensarilhadas, granadas à cintura, estavam os 250 homens da guarda pessoal de Lavai, envergando os seus uniformes pretos. Puxando Claire por um braço, Morandat bateu prudentemente em retirada para um canto do pátio. Claire tirou da sua mala de mão um pedaço de pano amarrotado. ”Toma, Yvon - sussurrou ela -, põe isto.” Era uma braçadeira tricolor. Fez surgir outra e colocou-a no próprio braço. Quando Morandat viu o comandante da guarda atravessar o pátio na sua direcção, perguntou para consigo o que iria fazer. ”Em caso de oposição - dissera-lhe Parodi -, não insista; parta.” ” Em caso de oposição - pensava Morandat naquele instante -, partirei, dentro dum caixão.” .
”Sou o comandante - declarou numa voz seca o pequeno e gordo oficial, parado diante dos dois civis.- Que querem?”
Com ênfase e autoridade, num tom de voz imperioso, que se julgava incapaz de ter, Morandat declarou solenemente: ”Em nome do Governo Provisório da República Francesa, venho tomar posse destes lugares.”
O pequeno oficial que, durante quatro anos, servira fielmente o governo de Vichy, respondeu, fazendo a saudação militar: ”Às suas ordens, sempre fui um bom republicano.”
Deu uma voz de comando e, no pátio, todos os homens se puseram em sentido. Claire, no seu multicor vestido de Verão, e Morandat, em mangas de camisa, passaram revista com dignidade àqueles ferozes guerreiros e subiram a escadaria da solene residência.
No alto das escadas, de casaca e laço branco, uma medalha de prata pendurada duma cadeia colocada ao pescoço, o chefe do pessoal menor da Presidência do Conselho acolheu o pequeno grupo. Muito digno, inclinou-se respeitosamente, como diante dum chefe de Estado estrangeiro e, fazendo um gesto com a mão, de luva branca, convidou-os a visitar o local. Conduziu-os primeiro ao escritório de Lavai, onde as gavetas se mantinham abertas desde a sua partida. Depois levou-os, escadas acima, até aos aposentos particulares. Mostrou-lhes a sumptuosa casa de banho, onde Pierre Laval tomara o seu último banho quatro dias antes. E, numa voz cheia de deferência, o chefe dos bedéis perguntou a Morandat se o quarto verde, anexo à casa de banho, serviria para o seu uso pessoal.
Morandat indagou o que era o quarto verde. Imperturbável, o bedel enluvado de branco respondeu ao filho do tipógrafo: ”É o quarto de cama do presidente do Conselho.’’
Deitado no chão, de barriga para baixo, atrás da balaustrada da Rua da Crimeia, o artífice Germain Berton viu as horas no seu relógio de pulso. Dentro de 7 minutos, a velha locomotiva de Batignolles surgiria na boca do túnel das Buttes-Chaumont e ficaria na linha de mira da sua espingarda. Quinze minutos antes, o telefone tocara, numa sala de aula da escola infantil da Rua Tandou, transformada em posto de comando F.F.I. O chefe da estação de Charonne participava a Berton que um comboio de mercadorias alemão, que se dirigia para Ivry, passaria no túnel das Buttes-Chaumont. Berton e três dos seus homens tinham-se precipitado para atacar aquela presa inesperada.
Havia uma hora que cada volta das rodas afastava o ferroviário Heinrich Hauser e os seus camaradas do destino que se tinham proposto alcançar. Em vez de dirigirem para as margens do belo Reno a sua locomotiva, com o seu único vagão, presos no intrincado labirinto da rede de cintura na posse da Resistência, rolavam agora para Ivry. Em breve teriam atravessado Paris de norte a sul e se o seu comboio não parasse, acabariam por desembocar directamente no meio dos americanos. O que era, pensava Hauser, para especialistas da circulação ferroviária como eles, uma maneira pouco digna de terminar a guerra.
Subitamente, fez-se noite. O comboio entrara no túnel das Buttes-Chaumont. Na outra extremidade, Germain Berton apontou a sua arma. Como um toiro saindo do curro, a locomotiva surgiu e Berton e os seus homens abriram fogo. Fazendo imediatamente parar e, depois, recuar a composição, o maquinista abrigou-se no túnel. Hauser e os seus camaradas saltaram para terra e viram outro comboio estacionado na via paralela. Hauser acendeu um fósforo e aproximou-se dum vagão. A luz pálida da chama, deparou-se-lhe um aviso branco pintado nos taipais que o fez apagar instantaneamente o fósforo. Era o desenho duma caveira encimada por uma única palavra: Achtung. Viu então que estavam encerrados naquele túnel ao lado dum comboio de munições.
A última viagem que, por muitos anos, o ferroviário Heinrich Hauser, da Reichbanh, organizaria tinha terminado. Aborrecido, ergueu os braços acima da cabeça dorida e decidiu marchar para a saída do túnel, onde Germain Berton e os seus homens esperavam.
Também a viagem de Roger Gallois atingia o seu termo. Oculto atrás duma meda de palha, um soldado alemão observava o francês extenuado enquanto este avançava pelo campo de trigo maduro. Era o último alemão que separava Gallois dum pequeno grupo de americanos que se encontrava a cerca de 400 metros dali. Muitas horas tinham já passado desde que o chefe F.F.I, iniciara a sua caminhada em direcção à vila de Pussay, nos arredores de Rambouillet.
Esgotado, sem forças, Gallois decidiu jogar tudo por tudo. Também ele vira o alemão, mas pensava que aquela sentinela isolada não ousaria revelar a sua posição disparando sobre ele. Com a garganta seca, o coração a palpitar, transpirando de medo, Gallois continuou a avançar no silêncio.
Finalmente, ganhara. As linhas alemãs tinham ficado para trás. Louco de alegria, lançou-se numa corrida para junto dos soldados americanos. O primeiro que se lhe deparou estava acocorado num buraco, entretido a comer o conteúdo duma lata de conserva. Gallois precipitou-se para ele e gritou: ”Acabo de chegar de Paris e trago uma mensagem para o general Eisenhower!’’
Ao ouvir estas palavras, o G. I. encheu cuidadosamente de feijões a sua colher e levantou molemente a cabeça:
”Ah, sim? - disse. - E depois?”
Capítulo décimo quarto
Diante do mapa mural representando o Gross Paris, ao lado do general Von Choltitz, espartilhado no seu belo uniforme azul-cinzento, estava um comandante da Luftwaffe. Quatro anos antes, num dia de Agosto como aquele, os aviões da Terceira Frota Aérea Alemã, que esse oficial representava, tinham obscurecido o céu da França com as suas asas ameaçadoras. Surgindo sobre a Mancha em vagas sucessivas, dirigiam-se para Londres e as cidades inglesas. Fora em Agosto de 1940. Agora, o que restava desse exército do ar, uns 150 bombardeiros, concentravam-se a menos de 10 quilómetros do Hotel Meurice, nos casulos de sacos de areia do aeródromo do Bourget. Em breve esses aviões levantariam voo para outras bases mais a leste, a fim de escaparem à destruição. Mas, antes desse último recuo, o novo comandante da Terceira Frota Aérea encarregara um dos seus oficiais de propor a Choltitz que coroasse, com derradeiros louros, o brasão duma unidade que ostentava já os nomes de Roterdão, Londres e Coventry.
Esse novo comandante, o Generaloberst Otto Dessloch, substituía desde 18 de Agosto o obeso e incapaz Feldmarschall Hugo Sperrle à testa da Terceira Frota Aérea. E uma das primeiras decisões que tomara tinha sido oferecer ao comandante do Gross Paris o concurso da Luftwaffe ”para reprimir os motins de Paris’’. Estabelecera nesse sentido um plano bastante simples, plano esse que poderia ser executado de noite contra um objectivo muito mais vasto que a Prefecture de Polícia. Nem a defesa antiaérea, nem os caças inimigos seriam susceptíveis de impedir a sua realização. Era um meio seguro, radical e implacável de terminar com os levantamentos que se verificavam no território dependente do Gross Paris: o comandante propunha-se arrasar, duma só vez, toda a região Nordeste da cidade, pelo lançamento de vagas ininterruptas de bombardeiros.
Com o seu gordo dedo indicador, o oficial traçou um círculo em redor da zona de Paris que sugeria fosse destruída. Esta estendia-se desde a colina de Montmartre até aos arredores de Pantin, e das Buttes-Chaumont aos armazéns da Villette. O comandante preferira essa zona a qualquer outra, explicou, porque estava situada a cerca de 8 quilómetros apenas do Bourget e a proximidade do aeroporto permitiria que cada aparelho efectuasse durante a noite pelo menos dez viagens de ida e volta, para esvaziar completamente os depósitos de bombas que a Luftwaffe não poderia levar consigo para as novas bases. Dessa forma, garantiu, cerca de uma quarta parte da capital, onde ainda viviam cerca de 800000 habitantes, poderia ser arrasada em tempo record.
”Quando o dia nascer - anunciou o oficial - , nem um gato ou um cão estarão vivos na zona Nordeste de Paris.” Será ”uma pequena Hamburgo”. Choltitz jamais esqueceria essa comparação, porque o homem que estava junto dele nesse momento era, ele próprio, natural do grande porto hanseático. E a mulher dele e os seus dois filhos tinham aí morrido, na ”noite de fogo’’ de 27 de Julho de 1943.
A única coisa que o comandante da Luftwaffe pedia ao general, para pôr em prática esse plano, era que mandasse os seus soldados evacuar a zona de bombardeamento, balizasse esta com precisão por meio de foguetões luminosos e mandasse fechar as canalizações de água, de electricidade e de gás. Eventualmente, acrescentou, se achasse necessário, poderia avisar a população uns minutos antes do ataque.
Ora, nessa manhã, Choltitz tentara precisamente encontrar um meio de ”obrigar os Parisienses a submeterem-se”. O gesto que tomara na véspera, mandando em liberdade Alexandre Parodi e os seus dois adjuntos, não tivera o efeito que esperava. Em vez de acabar com a insurreição, parecia pelo contrário que apenas conseguira alastrá-la. As barricadas surgiram por toda a capital. Sobre a sua secretária, a longa relação dos soldados alemães mortos dava ao general a prova flagrante e dolorosa da virulência da insurreição. Na véspera, quando supunha ter concluído uma trégua com os insurrectos, perdera 75 homens, mais do que no dia anterior, em que a insurreição estalara.
Para Dietrich von Choltitz não havia qualquer dúvida de que o seu primeiro dever era defender os seus homens. O plano que o comandante da Luftwaffe lhe enviava era sem dúvida ”brutal e selvagem”. Mas tinha o mérito de proporcionar um meio de provar aos Parisienses que ele, Choltitz, podia ”combater e defender-se”. E disso ele era devedor para com os seus soldados. Pondo termo à entrevista, Choltitz declarou ao visitante que iria encarregar o seu estado-maior de estudar o seu plano de ataque.
Sobre a grande secretária coberta de telegramas estava uma folha de papel branco. Em cima, no canto esquerdo o chefe do Governo Provisório da República Francesa mandara imprimir, como único timbre do seu papel oficial, três palavras. No espírito da alta e digna figura que se sentava a essa secretária, essas três palavras ”General de Gaulle” personificavam a soberania da França. Naquele momento, só, no gabinete do Prefeito de Rennes, Charles de Gaulle preenchia a folha branca: na sua letra esguia e altiva dirigia um último apelo ao general Eisenhower.
Durante toda a noite precedente e durante toda a manhã, ”Pleyel Violeta’’, ”Montparnasse Preto” e ”Apoio Preto”, os postos emissores clandestinos de Parodi e de Chaban-Delmas, tinham enviado de Paris S. O. S. alarmantes, pedindo ’’ a entrada imediata dos Aliados’’. Num dos telegramas, que tinha na sua frente, De Gaulle lera que ’’ a insurreição desencadeada no sábado e abrandada dois dias por trégua muito favorável à Resistência não poderá continuar a ser detida para lá desta noite. Amanhã haverá batalha em toda a cidade, com desproporção trágica de meios”.
Aos olhos de Charles de Gaulle, a situação descrita por essas mensagens revelava-se tão grave que nenhuma consideração deveria demorar mais a entrada dos Aliados, e a sua, em Paris. Em cada hora que passava, ele bem o sabia, aumentavam as possibilidades dos seus adversários políticos, numa cidade onde o recomeço da insurreição faria em breve reinar o caos e a anarquia. Quando ele lá chegasse, seria talvez tarde demais. Charles de Gaulle considerava esse perigo tão iminente que resolveu correr, nesse dia, em nome da França, um risco cujas consequências eram imprevisíveis. A ocupação da capital pelos Aliados é tão urgente, escreveu ele a Eisenhower, que deve ser efectuada ”mesmo que tenham de verificar-se alguns combates e algumas destruições no próprio interior da cidade”.
De Gaulle enviou esse apelo a Eisenhower por um dos raros homens que tinham o privilégio de tratá-lo por tu. Entregou-o ao vencedor de Monte Cassino, o general Alphonse Juin. Pediu ainda a Juin que declarasse de viva voz ao comandante supremo que, em caso de resposta negativa, ver-se-ia forçado a retirar a 2.a D. B. do comando aliado e a mandá-la marchar por sua iniciativa e sob a sua autoridade, sobre Paris.
Quando a porta se fechou por detrás do vulto maciço de Alphonse Juin, o general De Gaulle pegou noutra folha de papel e começou a escrever uma mensagem destinada a Leclerc. Nessa mensagem, De Gaulle ordenava ao impaciente comandante da 2.a D.B.,
da qual alguns homens, nesse momento, avistavam já as torres da catedral de Chartres, que estivesse pronto a pôr as suas forças em movimento. Advertiu-o formalmente de que deveria, por muito que isso lhe custasse, desobedecer a todas as ordens provenientes dos seus superiores americanos e considerar-se, quaisquer que fossem os riscos, sob o comando único do chefe do Governo francês. Se Eisenhower não o enviasse a Paris, ele, De Gaulle, lhe ordenaria que o fizesse.
Finalmente, no caso de os Aliados impedirem Leclerc pela força de marchar sobre Paris, restaria a Charles de Gaulle uma última possibilidade de impor a sua presença na capital francesa. Nos recônditos das densas matas de Nemours, ansiosos e impacientes, os homens do comando de Paul Delouvrier não abandonavam a escuta da B.B.C. Tudo estava a postos na pequena pista de aterragem. Para esses combatentes da Resistência nada mais faltava do que ouvir a frase cifrada: ”Almoçaste bem, Jacquot?”
Corado o ofegante, Dietrich von Choltitz escutava a voz seca do Feldmarscball Model ressoar no auscultador. Com a arrogância característica com que costumava dirigir-se aos seus subordinados, Model crivava de censuras o comandante do Gross Paris. Não apenas, dizia-lhe ele, se tinha mostrado incapaz de manter a ordem na cidade, como havia também fortes rumores de que ele tinha negociado com os ”terroristas”. Choltitz tentara replicar, mas o marechal cortara-lhe bruscamente a palavra para o advertir de que não deveria ’ ’ultrapassar os seus poderes’’. O que esperava do seu subordinado, era que ele restabelecesse a ordem ”por todos os meios necessários’’, e não que procurasse fazer ”alta política’ ’. Choltitz garantiu ao seu chefe que cumpriria essa missão, mas avisou-o, ao mesmo tempo, de que, se os motins alastrassem, não haveria a menor dúvida de que seria incapaz de dominar a situação sem a ajuda dos reforços várias vezes prometidos. Esta observação desencadeou a ira de Model. ”Arranje-se com aquilo que tem”, trovejou ele através do aparelho. E, no entanto, o irascível marechal acedeu em enviar para Paris alguns elementos da 48 .a Divisão de Infantaria, que regressava dos Países Baixos.
A impaciência e a irritação reveladas pelo comandante-chefe da O. B. West demonstravam em que estado de nervosismo este se encontrava. Havia quase 48 horas que nenhuma das ordens que dera, na esperança de reconstituir a frente, respeitava a vontade expressa do Fúhrer. Por que razão este homem, conhecido pela sua devoção incondicional ao Fúhrer, decidira executar o seu próprio plano, e não aquele que o comandante supremo das forças alemãs tinha imposto? Era inexplicável Na véspera, horas antes de ter decidido, na presença de Speidel, dar prioridade absoluta à retirada das suas tropas que se encontravam para lá do Sena, Model recebera
uma nova ordem. Essa ordem prescrevia da maneira mais categórica que a sua primeira missão era defender a testa de ponte de Paris. Assinava-a pessoalmente o patrão do III Reich: ’’ Gez: Adolf Hitler.’’ Model devia, dizia essa ordem, ”conservar a testa de ponte a todo o custo, qualquer que fosse a amplitude das destruições” que Paris pudesse sofrer2. Ninguém melhor do que Model sabia o que a expressão ”a todo o custo’’ significava no espirito do homem que assinara aquele telegrama. Ela subentendia que Paris deveria ser defendida até ao último homem, tal como acontecera em Estalinegrado, Smolensko e Monte Cassino.
1 Segundo Martin Blumenson, o historiador oficial do exército americano, a atitude de j Model, sob o ponto de vista do comando, era não só inexplicável como indesculpável’’.
(Break out and Pursuit -US Army in World War II; European Theatre of Operations vol. II, pág. 598.) - J n.° 772 956/44 -Gez: Adolf Hitler.
Aquela ordem, a primeira saída de Rastenburgo depois da conferência estratégica da noite, chegara à O. B. West às 23 horas e 30. As instruções de Model, ordenando ao 5.° Exército Blindado que se preparasse para retirar para leste do Sena, já tinham sido expedidas quando a mensagem de Hitler foi recebida em Margival. O Feldmarschall terá aparentemente julgado que era tarde demais para anular esse movimento que já se iniciava - as divisões Panzer que Hitler queria enviar para Paris transpunham nesse momento o Sena.
Preso entre as exigências da O. K. W. e as suas próprias concepções estratégicas, constantemente postas em causa pelo avanço aliado, Walter Model equilibrava-se num terreno movediço. A sua única consolação, nessa segunda-feira à tarde, era que a situação complicada que ele criara diante de Paris parecia poder prolongar-se. O seu Serviço de Operações apenas assinalava ”tímidos reconhecimentos inimigos” nesse sector ’. O comandante-chefe da O. B. West ignorava ainda que um destacamento simbólico do exército francês rolava nesse momento em direcção à capital.
Seria porque se sentia demasiado comprometido nas suas próprias manobras ao longo do Baixo Sena, ou porque, no fundo de si próprio, duvidava do interesse estratégico dum combate aniquilador por Paris? A verdade é que, nessa segunda-feira à noite, Model sugeriu à O. K. W. que defendesse Paris ao norte e a leste da cidade 2.
Antes de desligar, Model proferiu uma última frase, vincando bem as palavras, para que o governador de Paris a notasse convenientemente: ”Restabeleça a ordem na cidade”, repetiu ele. Mas, pela segunda vez em vinte e quatro horas, Model não quisera avisar o general Von Choltitz que o reforço de duas divisões blindadas, as 26.a e 27? Panzer, estava já a caminho de Paris -ou não se lembrara de o fazer.
Capítulo décimo quinto
Pelas ruas de Paris, onde na própria manhã desse dia, ressoara o velho brado histórico: ÀS BARRICADAS!, alastrava agora, por detrás dessas estranhas fortificações, um novo e angustiado grito: ”Vêm aí os tanques!” Furiosa com aquele desafio simbólico que surgira por toda a cidade, a Wehrmacht fazia sair dos seus covis os monstros blindados que, quatro anos antes, tinham entregue a Adolf Hitler as chaves de Paris. Por todos os lados, ao ruído do tiroteio juntava-se agora o estampido das explosões e o barulho das lagartas retalhando o asfalto.
Raymond Sarran, o estudante a quem um polícia moribundo dissera: ”Toma a minha arma e vai vingar-me”, soube da chegada dos carros por intermédio dos próprios alemães. Quando o telefone tocou e ele pegou no auscultador, Sarran ouviu uma voz com sotaque germânico dizer: ”Senhor oficial F.F.L, daqui fala o coronel Von Berg, comandante do Luxemburgo. Exijo que destruam imediatamente a vossa barricada. Em caso contrário, farei sair
1 Army Group B Wachenmelding n.~º 6375/44.
2 O. B. West Ia n.º 6390/44 -18.00 - 21.8.44-ModelO.K.W.
imediatamente os meus carros de assalto.” Estupefacto, Sarran hesitou um segundo. Depois, secamente, respondeu: ”O senhor já nada tem a exigir, coronel.” Dez minutos mais tarde, o estudante viu surgir três Panthers na Rua Soufflot. Amarrados a cada uma das torrinhas estavam dois civis franceses. Para se protegerem contra as garrafas incendiárias dos parisienses, os alemães tinham
se decidido servir-se daqueles escudos vivos.
No boulevard Voltaire, no enfiamento das metralhadoras dos carros do Quartel Prinz Eugen, duas mulheres corriam com tanta rapidez quanta o fôlego lhes permitia. Clara Bonte, mulher dum deputado comunista deportado, e a sua filha Margarida tinham atulhado o grande cesto de roupa que transportavam, segurando cada uma sua asa, com garrafas incendiárias. Na sua estranha oficina de costura da Maine do 11.° bairro, as mulheres das redondezas tinham elas próprias preparado essas garrafas, que os maridos, emboscados nas janelas da Praça da República, aguardavam para repelir os carros.
No lado oposto de Paris, perto da estação de Batignolles, donde o ferroviário alemão Heinrich Hauser acabava de partir para as margens do Reno, era um verdadeiro Rossinante de ferragem que os insurrectos opunham aos carros de Choltitz, um velho tanque Somua capturado numa fábrica de Saint-Ouen. Quando o incrível engenho apareceu na Praça da Mairie, a multidão tinha coberto a sua torrinha com uma bandeira tricolor. Seria essa a sua única arma. O Somua de Batignolles, o único carro de assalto da Resistência parisiense, apenas podia lançar um desafio silencioso: os F.F.I, do 17.° bairro não possuíam um único obus para o seu canhão...
Havia outras ameaças, além dos Panzer do general Von Choltitz, pesando nesse dia sobre grande número de parisienses. Na cela escura da fortaleza hexagonal do Mont-Valerian, para onde tinha sido atirado após os combates sangrentos da Mairie de Neuilly, o salsicheiro Pierre Berthy escutava um som familiar. Durante três anos, quase diariamente, o eco surdo desse ruído chegara até aos fundos da sua loja de Nanterre. Era o estampido das salvas dos pelotões de execução. O salsicheiro sabia que, em breve, aquelas detonações ressoariam por si.
Noutra fortaleza, noutro extremo de Paris, mais prisioneiros esperavam também a sua vez de serem fuzilados. Nos fossos de Vincennes, o polícia Georges Dubret e os seus companheiros iniciavam um novo epiródio do seu calvário. O pequeno Filhrer de Oradour, que executara o comissário Silvestri, ordenara-lhes que exumassem os cadáveres que tinham enterrado na véspera, e cavassem uma vala mais profunda ”de modo a que pudesse comportar também os vossos corpos”, precisara ele.
Em plena Paris, outro prisioneiro, o falso miliciano Paul Pardou, observava da janela da cozinha, onde os seus carcereiros do Palácio do Luxemburgo o tinham posto a trabalhar, um grupo de civis passar no pátio pela segunda vez, carregando aos ombros pás e picaretas. Eram quatro, nesse dia’. Pouco depois, Pardou ouviu uma série de tiros e compreendeu que os desgraçados tinham sido fuzilados após terem cavado os seus próprios túmulos. Ao ouvir aqueles estampidos, Franz, o gordo cozinheiro alemão, voltou-se para ele e repetiu pela centésima vez a única frase que parecia capaz de articular em francês: ”Tu
Os quatro patriotas fuzilados nesse dia no Luxemburgo eram: Jean Robaux, Henri Bessot, André Monnier e Arthur Pothier fuzilado amanhã, portanto limpar bem cozinha hoje.” No mesmo edifício, dois andares abaixo, o electricista Marcel Dalby, prisioneiro voluntário do Palácio do Luxemburgo, ouvira também as detonações. Em três dias de trabalho, conseguira provocar dezassete horas de falta de energia nas instalações eléctricas do Senado, dezassete horas durante as quais, nas caves, as brocas automáticas dos sapadores da organização Todt se tinham imobilizado e cessado de cavar os buracos destinados a receber as cargas explosivas. Mas Dalby sabia que a luta solitária que travava com os demolidores da Wehrmacht não poderia evitar indefinidamente a destruição do palácio, para a salvaguarda do qual se arriscava, também, a ter de vir a abrir a sua própria sepultura no jardim.
No lado oposto do Sena, a menos de um quilómetro do zimbório de oito faces do Luxemburgo, um homem impaciente passeava nervosamente sobre a passadeira vermelha do corredor do primeiro andar do Hotel Meurice. Em seis dias de labor metódico e aplicado, o capitão Werner Ebernach e os seus homens da 813.a Pionierkompanie tinham praticamente terminado o seu trabalho. Utilizando os torpedos armazenados no ”Pilz’’, o túnel de Saint-Cloud, haviam espalhado doze toneladas de explosivos por toda a cidade. Na véspera, dois polícias aflitos tinham entrado no gabinete de Edgar Pisani, na Direcção-Geral de Polícia, para informar que os alemães tinham minado as pontes da ilha da Cite. E num último gesto de zelo, Ebernach, segundo ele próprio confidenciaria ao alferes Von Arnim, tinha até mandado preparar os explosivos necessários para estourar com esse símbolo de Paris, a Torre Eiffel. O capitão Ebernach esperava apenas a ordem de largar fogo aos rastilhos que desencadeariam as devastadoras explosões. Mas o fogoso oficial iria esperar em vão, nesse dia, que o comandante do Gross Paris o recebesse. Choltitz contentou-se em mandar dizer-lhe pelo seu ajudante-de-campo ”que prosseguisse com os seus preparativos e aguardasse instruções”.
Pelo fim da tarde, com as primeiras gotas de chuva duma nova trovoada, espalhou-se por toda a cidade um boato extraordinário. No seu pequeno quarto da Rua do Bac, um jovem dramaturgo chamado André Roussin escrevia então no seu diário: ”Nascido no medo, o dia de hoje termina em esperança. Diz-se que duas divisões americanas chegaram a Rambouillet. Amanhã os americanos estarão em Paris.”
Os americanos estavam de facto em Rambouillet. Mas André Roussin, no seu diário, havia de certo modo sobreestimado o seu número, pois eles não eram mais de três. E nenhum deles tinha qualquer motivo oficial para se encontrar em Rambouillet. O primeiro, alto e distinto, era um coronel, natural da Virgínia, chamado David Bruce. Era o chefe, para toda a Europa, do O.S.S.1, o famoso serviço secreto americano. A sua captura teria sido, para os alemães, o mais belo feito da guerra secreta. O segundo era
um motorista de jipe, um G. L taciturno de nome ”Red” Pelkey. Quanto ao terceiro, tratava-se de um correspondente de guerra de imponente estatura que três outros jornalistas, Fernand Moulier, André Rabache e Pierre Gosset, tinham deixado adormecido sobre a mesa dum hotel da Normandia uma semana antes. Batido pelos seus colegas franceses na corrida para Paris, Ernest Hemingway, era este o terceiro membro do pequeno grupo, jurara no entanto vir a ser o primeiro jornalista americano a entrar na capital francesa.
1 Office of Stategic Service.
A caminho de Paris, a sua primeira acção tinha sido ”libertar” a garrafeira do Hotel do ”Monteiro-Mor”, uma estalagem de Rambouillet muito apreciada pelos Parisienses nos seus fins-de-semana. No bar, tinha amontoado no seu saco, de qualquer maneira, uma caixa de granadas, uma carabina, uma garrafa do melhor conhaque que encontrara e um mapa das estradas Michelin, no qual localizara as posições alemãs nos arredores.
Precedendo de 48 horas as guardas-avançadas aliadas, o trio libertador encontrava-se já no meio das linhas alemãs. ”De cada vez que nos voltávamos recorda Bruce -, homens com o uniforme feldgrau surgiam, vindos não se sabe donde, para se renderem a nós.” Hemingway procedia então a uma breve cerimónia. Mandava-os retirar as calças e punha-os a trabalhar nas cozinhas no descasque das batatas destinadas aos F.F.L, cada vez mais numerosos, que com ele ocupavam o hotel.
Para esse bando F.F.I, que espontaneamente se colocara sob as ordens do pitoresco americano, Hemingway era ”o meu capitão”. No dia da libertação de Paris, numa das mais rápidas promoções da história militar da França, Hemingway tornar-se-ia em ”o meu general”.
Capítulo décimo sexto
Nas suas molduras douradas, os frades risonhos das gravuras que decoravam a sala pareciam ter deixado de rir. Um grupo de homens em mangas de camisa discutia apaixonadamente, à luz das seis velas que a dona da casa acendera. No fundo da cozinha, a Sr.a Alphonse Juge ouvia as exclamações que eles proferiam. Jamais ela se desculpará de não ter podido oferecer aos participantes dessa reunião histórica mais do que um ersatz de limonada.
Mas naquela sala duma residência da Avenida do Parque Montsouris, os hóspedes da Sr.a Juge não pensavam sequer em beber. Nunca, excepto nas prisões da Gestapo, tantos chefes da Resistência se tinham encontrado reunidos. Nunca, também, as declarações trocadas entre membros .da Resistência tinham sido tão tempestuosas.
A discussão dessa noite dizia respeito ao destino que conviria dar oficialmente à trégua conseguida pelo cônsul Nordling, de facto já quebrada. Para o decidirem, gaullistas e comunistas tinham-se reunido pela última vez.
Ao lado de Alexandre Parodi, o general Chaban-Delmas defendia as tréguas, como se estas fossem uma trincheira de Verdun. Ao aceitá-las, dizia ele, ”a Resistência concluiu um acordo de honra com Choltitz”. A expressão provocou um autêntico terramoto. ”Não se concluem acordos de honra com um assassino!”, gritou uma voz escandalizada. Segurando pela gola da camisa o autor desta observação, o impetuoso jogador de rugby gritou, furioso: ”O que você quer, é mandar matar inutilmente 150000 pessoas!”1 Ao ouvir estas
1 Enquanto gaulistas e comunistas se enfrentavam na sala de jantar da Sr.a Juge, o general Koenig lançava, através das ondas da B.B.C., um novo apelo aos Parisienses. ”A insurreição -repetia ele- não conduz senão ao sacrifício inútil de vidas francesas. Parisienses, aguardai um pouco mais...”
palavras Koger Víllon, chefe dos comunistas presentes, resmungou com desprezo: ”Nunca encontrei um general francês tão cobarde.” Seguiu-se então uma tão grande balbúrdia que a pobre senhora Juge, na cozinha, disse para consigo que ”os alemães iam acabar por aparecer”. De repente, sobrepondo-se ao tumulto, ela ouviu o estilhaçar dum vidro. Imediatamente se fez silêncio. O jornalista gaullista Jacques Debú-Bridel tinha empregado uma velha manha de parlamentar. Partira uma larga chapa vidrada contra o chão, conhecedor de que o ruído do vidro ao quebrar-se acalma sempre as exaltações. Um homem, embora não comunista, levantou-se então e começou a refutar, numa voz calma e grave, os argumentos evocados por Chaban-Delmas. Esse homem tinha um grande nome francês. Havia quatro anos que, afastado dos salões elegantes onde passara a vida, o conde Jean de Vogue vivia na clandestinidade, no coração dum bairro popular dos subúrbios. Num dia de chuva, ao cruzar-se inesperadamente com sua mãe, perto do palacete onde ela residia, puxara para os olhos, com um aperto no coração, a aba do seu chapéu mole, a fim de não ser reconhecido por ela. Agora, esse aristocrata falava em nome dos milhares de parisienses que apenas desejavam bater-se contra os alemães, fossem quais fossem o preço e as consequências. Nas barricadas - dizia ele - apagaremos a vergonha de 1940.”
Roger Villon aproveitou a deixa. Em breves palavras, secas e cortantes, deu o golpe de misericórdia nas tréguas que Parodi e os gaullistas tanto tinham procurado impor: ”De Gaulle - exclamou ele -negou-se a aceitar o armistício de
1940! Por que razão devem os comunistas aceitar o de 1944? Porque, desta vez, o armistício convém ao general?” Fixando o olhar duro e hostil em Parodi, Villon, que acabara de tomar conhecimento das últimas manobras dos gaullistas para se apoderarem das alavancas do poder, ameaçou cobrir as paredes da cidade com avisos acusando os gaullistas ”de apunhalarem pelas costas o povo de Paris”.
Por fim, passaram à votação. Por uma única voz de maioria, naquela sala de jantar de cadeiras gastas, as tréguas de Nordling foram oficialmente denunciadas. Alexandre Parodi ergueu-se e vestiu o casaco. Lágrimas de raiva e de tristeza caíam-lhe dos olhos. ”Deus meu - murmurou ele numa voz quase imperceptível-, Paris vai ser destruída!” Arrogante, triunfante, Villon exclamou: ”Que importa isso! É preferível que Paris se torne numa nova Varsóvia, a sofrer de novo a humilhação de 1940!”
Durante toda essa noite, nos seus esconderijos sob os telhados de Paris, ”Apoio Preto”, ”Montparnasse Preto” e ”Pleyel Violeta”, os postos emissores dos gaullistas, iriam crepitar incessantemente mensagens angustiantes. Agora, só a chegada dos Aliados podia, efectivamente, salvar Paris.
Capitulo décimo sétimo
Dietrich von Choltitz jamais passaria outra noite tão
abandonado como aquela. Vinte anos mais tarde, o seu fiel impedido, o cabo Helmut Mayer, lembrar-se-ia ainda de que, pela primeira vez desde que, havia sete anos, o servia, o seu patrão, nessa noite, lhe falara encolerizado: ”Vai-te embora e deixa-me em paz!”, gritara Choltitz, quando Helmut entrara no quarto para abrir a cama.
Sentia-se só, irremediavelmente só, o pequeno general que tinha nas mãos o destino de Paris. De tronco nu, respirando a custo em virtude do calor sufocante que fazia, Choltitz sentia a falta do único homem que teria podido atenuar a sua solidão, o seu primo Adolf von Carlowitz, agora em viagem para a Alemanha. Naquele momento, pensava o general, já ele deveria estar a chegar a Ba-den-Baden.
Pela janela aberta, Choltitz via desdobrar-se até longe a linha escura e imóvel das árvores das Tulherias, para lá das quais os disparos das armas de fogo cortavam o silêncio e as trevas. Cada uma dessas detonações soava-lhe como um remorso. Estava convencido de que o Universo bem organizado no qual tinha vivido começava a desintegrar-se. Na ilusória esperança de restabelecer a ordem sem cometer um acto irreparável, apostara na trégua de Nordling e libertara os chefes da Resistência. Os tiros que agora ouvia revelavam-lhe a amplitude da sua derrota.
Model e Berlim sabiam já que ele negociara com o inimigo. Também não executara as ordens de destruição dadas pela O. K. W. - na antecâmara do seu gabinete estavam empilhados os numerosos processos dos quatro peritos em demolições da O.K. W. Não abrira um, sequer. Quatro dias depois do Feldmarschall Von Kluge lhe ter dado o sinal para a destruição das instalações industriais da região parisiense, e vinte e quatro horas após Jodl lhe ter repetido, pessoalmente, a mesma ordem ao telefone, o comandante do Gross Paris não fizera ainda explodir uma única fábrica. Evitara até receber, durante o dia, o capitão Ebernach, o qual lhe vinha anunciar que todos os preparativos estavam concluídos.
Pela primeira vez em vinte e nove anos de vida militar, o general Von Choltitz perguntava a si próprio se não se encontraria em estado de insubordinação.
A essa ideia, surgiu-lhe no espírito uma imagem abominável. Era o rosto do Reichleiter que encontrara no comboio de Rastenburgo. A Sippenhaft, a lei impiedosa de que aquela personagem lhe falara, ameaçava agora cair sobre aqueles seres cuja fotografia, numa moldura de cabedal preto, acompanhava o seu sono na mesa-de-cabeceira, ao lado do telefone e da História da Guerra Franco-Prussiana. Entre Uberta e as suas duas filhas faltava Tino, o mais novo. Não nascera ainda quando a fotografia, que durante quatro anos nunca o abandonara, tinha sido tirada.
Seria o peso da noite abafada, sem um sopro de ar, ou a convicção crescente em que se sentia
de não ter estado até aí à altura da sua missão? Choltitz achou-se bruscamente extenuado e sem ânimo. Começou a passear para trás e para diante na penumbra. Grandes gotas de suor caíam-lhe ao longo das costas, e vinham perder-se na cintura. Frente àquela insurreição, que alastrava como uma epidemia, frente às dúvidas que os seus superiores começavam a nutrir quanto à eficácia do seu comando, apenas um recurso lhe restava: impor a sua autoridade, afirmar a sua força. Vieram-lhe à memória as palavras do comandante da Luftwaffe que nesse dia recebera. O plano que esse obscuro oficial lhe propusera tinha pelo menos um mérito: era simples, e fácil de executar. Uma curta distância separava nessa noite aquele oficial e os seus bombardeiros do general Von Choltitz, o espaço que este teria de percorrer para ir ao fundo do quarto levantar o auscultador do telefone preto, junto ao retrato da sua família. A ideia dum ”bombardeamento maciço que poria fim à insurreição’’ começava a obcecá-lo. Só um acto como esse poderia, na sua opinião, apagar o erro que cometera ao cancelar o bombardeamento e o assalto à Prefecture,
Sentia uma opressão no peito. Choltitz estacou em frente da janela e pôs-se a contemplar as sombras indistintas daquela cidade da qual era o comandante todo-poderoso. Lá em baixo, ao fundo, na direcção do sul, um punhado de homens febris, sob o telhado dum edifício anónimo, acabava de tomar a decisão irrevogável de lutar contra ele até à morte. A fuzilaria cessara. Da sua janela, o general que esmagara Sebastopol sob um dilúvio de fogo e metralha nada mais ouvia do que o martelar tranquilizador e regular dos passos das sentinelas, de guarda à frontaria do seu palácio. E perguntava de si para si quantas ruínas seriam necessárias para restabelecer a ordem na cidade.
Outros pensamentos deveriam também assaltar o espírito do general Von Choltitz nessa noite. Jamais ele duvidara dos princípios de educação que recebera, ou dos valores do código a que se comprometera, ao escolher a carreira das armas. Como todos os Alemães, acreditara em Hitler e no destino excepcional da Alemanha. Mas agora, com 49 anos de idade, no auge da sua carreira, Choltitz sentia as primeiras dúvidas insinuarem-se-lhe no cérebro. Quinze dias antes, no bunker sem janelas de Rastenburgo, tivera uma terrível revelação: Adolf Hitler, o senhor todo-poderoso do III Reich, tinha, ele estava certo, enlouquecido. Após aquela fatal meia hora que passara na sua companhia, Choltitz sentira instalar-se em si a convicção de que nenhum milagre salvaria a Alemanha, que o caminho que o seu país seguia conduzia direito à maior derrota da sua história.
Naquele momento, conforme as ordens desse homem cuja razão, no seu entender, soçobrava, via-se a si próprio encarregado duma missão cujo aspecto militar lhe parecia, visto não lhe fornecerem os meios que pedira, repentinamente secundário. Defender Paris contra o inimigo, mesmo pelo preço da sua destruição, era, em sua opinião, um acto militar justificável. Mas destruir deliberadamente a cidade pela única satisfação de apagar do mapa do Mundo uma das suas maravilhas, era um crime absurdo. E, no entanto, suspeitava o comandante do Gross Paris, era o que Hitler, Jodl e Model pareciam agora esperar dele. Vinte anos mais tarde, Choltitz recordará ainda, com emoção, a luta que nessa noite se travou na sua consciência. Entre a sua obediência instintiva às ordens que recebera e o espectro apocalíptico que surgia perante os seus olhos, sentia-se preso nas garras dum terrível dilema. A História, não o duvidava, jamais perdoaria ao homem que tivesse destruído Paris. Mas, sobretudo, mais forte que aquela convicção, a imagem do seu próprio corpo balançando, pendurado duma corda, sobre as ruínas da cidade que tinha destruído, impôs-se ao seu espírito. Nunca Choltitz sentira qualquer apreensão especial perante a morte, já tantas vezes enfrentada. Mas tratava-se da morte gloriosa dos soldados, não aquela, ignominiosa, dos criminosos. Horas antes, ao receber o telegrama de Jodl confirmando a ordem de destruição, deixara cair a sua pesada mão sobre o ombro do seu ajudante-de-campo e murmurara: ”Meu pobre Arnim, nada mais me resta do que ir colocar-me sobre a última ponte e deixar-me esmagar sob os escombros.”
Para sair daquele dilema, não parecia haver senão uma única hipótese. Essa saída, visto os reforços pedidos jamais chegarem, era o próprio acontecimento que Charles de Gaulle, Leclerc e muitos outros franceses tentavam desesperadamente provocar: a entrada imediata dos Aliados em Paris. Nessa manhã, Choltitzafirmou:
DENTRO DE VINTE E CINCO DIAS, ELES ESTARÃO EM PARIS
Para os dezasseis mil homens da divisão Leclerc concentrados nos campos ingleses junto dos seus quatro mil veículos, a longa espera vai terminar dentro de algumas horas. No dia seguinte desembarcarão em terras de França. Vinte e quatro dias mais tarde, arrancarão sobre o objectivo com o qual sonham há seis longos meses: Paris. De todas as unidades que combatem sob as ordens de Eisenhower nenhuma é mais heterogénea do que esta que irá tomar Paris. Nas suas fileiras há franceses evadidos da França ou da Alemanha; franceses do Ultramar que jamais pisaram o solo pátrio; árabes, negros do Chade, tuaregues; espanhóis do antigo exército republicano; libaneses, mexicanos, chilenos, vindos do outro lado do Mundo porque nunca tinham podido aceitar a derrota da França. Nos seus Sherman» acabados de sair das fábricas, vão entrar dentro de dias nessa cidade de Paris, que muitos deles nem conhecem. Nesse dia. cumprir-se-á o juramento feito pelo seu chefe, o general Leclerc, nas areias do deserto, em Kufra. três anos antes. A bandeira francesa flutuará de novo na capital libertada.
ATRAVÉS DUM MAR HUMANO, A MARCHA TRIUNFAL
Nunca, na sua história, a Praça da Concórdia conhecera tamanha multidão. Depois de ter descido, a pé, os Campos-Elísios, De Gaulle seguiu de automóvel, pela Rua de Rivoli e o Largo dos Paços do Concelho, para Notre-Dame. Enquanto passa, comovido e tranquilo, rebenta a trovoada de vozes que gritam, a compasso, o seu nome, numa onda sonora que rola sem fim. A multidão enche os passeios, sobe às árvores, agarra-se aos candeeiros, debruça-se das janelas. Cachos de pessoas pendem das fachadas dos edifícios. As varandas estão apinhadas de gente. A mole humana alastra aos telhados. È a apoteose.
O comandante do Gross Paris recebera a visita do general Kurt von der Chevallerie, comandante do 1.º Exército. Da própria boca desse general, tivera conhecimento de que as tropas do 1.º Exército, até então colocadas num dispositivo de tampão entre Versalhes e Arpajon, tinham recebido ordem de Model para se deslocar e ocupar posições mais ao sul, na região de Melun-Fontainebleau. Essa notícia revelara a Choltitz que a estrada de Paris, se eles a quisessem utilizar, estava aberta aos Aliados. Nenhum obstáculo sério os poderia deter.
A campainha do telefone interrompeu os pensamentos do general. Fechou a janela, correu o reposteiro e acendeu a luz.
Choltitz reconheceu a voz do chefe do pessoal do exército, o general Wilhem von Burgdorf, o homem que o escolhera para governador de Paris. Dois anos antes, o arrogante chefe do pessoal dissera ao vencedor de Sebastopol: ”Tenho tantos generais que poderia utilizá-los para alimentar os porcos.” Agora, telefonava a Choltitz para lhe anunciar que já não havia generais disponíveis nos ficheiros da O. K. W. Em lugar de lhe enviar o oficial-general que Choltitz reclamara, para comandar a defesa exterior de Paris, Hitler, declarou ele, decidira promover a general-de-brigada Hubertus von Aulok, o tenente-coronel com quem o governador de Paris estivera a beber champanhe cinco dias antes numa vivenda de Saint-Cloud.
O comandante do Gross Paris agradeceu a Burgdorf a sua ”solicitude” e colocou o auscultador no descanso. Depois, estendeu-se sobre a cama, fixou o olhar no tecto e começou a reflectir. Após um largo momento de hesitação, decidiu conceder a si próprio uma última prorrogação. Esperaria mais vinte e quatro horas, antes de telefonar para o Bourget e ordenar o bombardeamento pela Luftwaffe. Tomada esta decisão, esforçou-se por resolver em pensamento um problema militar bem mais simples. ”Como poderei encontrar, na cidade revoltada-perguntou a si próprio - , as dragonas de general para Hubertus von Aulok?”
Capítulo décimo oitavo
Para Roger Gallois, o dia terminava com uma última surpresa. Enclausurado numa tenda hermeticamente fechada, perguntava de si para si quem seria ”the important american’’ perante o qual ia comparecer.
Na sua alegria por ter alcançado o termo da sua missão, o francês nem sentia a fadiga das horas febris e movimentadas que acabara de viver até chegar àquele misterioso Q.-G.
Depois do acolhimento indiferente do primeiro soldado americano, Gallois tinha sido embarcado num jipe, cujo motorista recebera ordens para não lhe dirigir a palavra. Maravilhado, emocionado, cruzou-se então, durante duas longas horas, com intermináveis colunas do exército americano. O jipe estacou por fim numa clareira coberta de tendas.
Pouco depois, um grande rapagão de cabelos desgrenhados e olhos inchados pelo sono, de fralda da camisa fora das calças, entrou na tenda aonde tinha sido conduzido. ”Desculpe-me-disse -, estava a dormir.” E acrescentou, enquanto examinava cuidadosamente o francês: ”O.K. Sou todo ouvidos. Que tem para me dizer?”
Com todo o seu fervor de patriota, Gallois começou então a expor a situação em Paris. Quando terminou, o americano fixou nele os olhos pretos e disse: ”O senhor é um soldado. Eu sou um soldado. Vou pois responder-lhe como um soldado.” A resposta do misterioso americano era: ”Não”. Explicou depois porquê. Primeiro, o objectivo dos Aliados era fazer a guerra à Alemanha, e não ”tomar capitais’’. Depois, visto a Resistência ter desencadeado a insurreição sem ter recebido ordem para tal, ela teria de ”sofrer as consequências’’ da sua iniciativa. Finalmente, os exércitos aliados, lutando eles próprios com falta de combustível, não poderiam, de forma alguma, ”tomar a responsabilidade de abastecer Paris”. Proferidas estas palavras, estendeu a mão ao francês e foi deitar-se.
O tom tinha sido tão seco, tão brutal, que esta resposta parecia irremediável. E, de facto, podia muito bem sê-lo e dela não haver qualquer possibilidade de apelo. O general desgrenhado e desabotoado que tinha sido acordado a meio da noite era o próprio Patton.
Assim, para Roger Gallois, a derradeira esperança de ver Paris escapar ao destino trágico de Varsóvia acabava de se desmoronar. Foi essa, dirá ele mais tarde, a mais cruel decepção da sua vida. No meio da sua tristeza, não reparara que o americano voltara a entrar na tenda. Patton levantara-se da cama novamente para pedir ao francês que fosse a Lavai falar com outro general americano.
Perto de Lavai, noutro Q.-G., também no interior duma tenda, outro francês preocupava-se da mesma forma com a sorte que ameaçava Paris. Sentado sobre a sua cama de campanha, um coronel chamado Lebel escrevia, à luz duma lanterna de petróleo, um patético apelo a favor da capital do seu país. As palavras que esse oficial empregava eram tão prementes como as do general Charles de Gaulle. ”Se o exército americano não vem em socorro de Paris, que sabe encontrar-se em plena insurreição-escrevia ele -, o povo francês jamais poderá perdoar-lhe.” Era a primeira vez, desde que servia como oficial de ligação junto do exército americano, que Lebel se permitia intervir junto dos seus superiores. Mas, no dia seguinte, o seu chefe, o general Omar Bradley, comandante do 12.º Grupo de Exércitos, teria uma entrevista com o comandante supremo. E o modesto coronel francês estava tão persuadido de que a sorte de Paris se decidiria nessa conferência, que resolvera introduzir no meio dos papéis de Bradley o apelo pessoal que acabava de redigir.
Capítulo décimo nono
O tenente-coronel Chuck Heflin teve um arrepio de frio. A noite estava fria e húmida. Para se aquecer, o oficial apertou entre as mãos a sua chávena de café escaldante.
De cima dos degraus da sua barraca, via ao longe, destacando-se sobre a colina, a extensa linha dos aviões ”B24” da esquadrilha dos Carpet-Baggers que comandava. Para lá dessa colina, encaixada
num vale, encontrava-se a pequena igreja inglesa de Harrington. Havia sombras movendo-se em redor dos aviões. Eram os homens de Chuck Heflin carregando os depósitos com os milhares de quilos de armas e munições que iriam lançar de pára-quedas, dentro de algumas horas, sobre a Europa ocupada.
Os 3000 homens da esquadrilha dos Carpet-Baggers formavam uma unidade altamente especializada. Desde Janeiro de 1943 haviam já realizado mais de 300 missões sobre a Europa ocupada. Tinham lançado em pára-quedas toneladas de armas e de munições às forças das Resistências francesa, belga, holandesa, norueguesa e polaca. Mas nenhuma dessas missões lhes parecera tão difícil como aquela que nessa manhã preparavam. O seu nome era: ”Operação Beggar”. Efectuar-se-ia em pleno dia e os aviadores de Heflin deveriam, a menos de 150 metros de altitude, atingir objectivos dos quais alguns não tinham sequer as dimensões dum campo de futebol.
O coronel Rol tinha ganho. As mensagens que enviara pela rádio reclamando armas tinham sido, apesar de tudo, transmitidas e tomadas em consideração. Dentro de poucas horas, assim que a madrugada começasse a clarear o céu de Inglaterra, os 130 ”B24” da esquadrilha dos Carpet-Baggers levantariam voo. No decorrer dessa operação única nos anais da guerra, eles fariam chover 200 toneladas de armas em pleno coração de Paris, no Bosque de Bolonha, nos campos de corridas de Auteuil e de Longchamp, na Esplanada dos Inválidos, na Praça da República... e até no pátio da Prefecture sitiada.
Para o coronel Lebel, a chegada daquele parisiense sujo e mal barbeado era providencial. Lebel iria ter, minutos mais tarde, às 6 horas em ponto, numa tenda do quartel-general da E.A.G.L.E.T.A.C., uma última entrevista com o seu superior, o general Edwin Siebert, chefe dos Serviços Secretos do 12.° Grupo de Exércitos. Imediatamente a seguir, este partiria, com o general Bradley, para o estado-maior de Eisenhower. No decorrer da conferência que então se realizaria, ficaria decidido o destino de Paris.
Havia 48 horas que Siebert repelia a ideia duma mudança na estratégia dos exércitos aliados, recusando-se terminantemente a encarar a hipótese dum avanço imediato sobre Paris. Mas a chegada inesperada de Roger Gallois poderia talvez, esperava Lebel, fazê-lo mudar de opinião. Nenhum dos argumentos apresentados por ele, por mais fervorosos que fossem, seria tão persuasivo como o testemunho directo daquele evadido da cidade insurgida.
Gallois sentiu que chegava num momento decisivo. Compreendera que o ”não” brutal do general Patton, na véspera, não era irremediável. Os americanos concediam-lhe uma última oportunidade.
O povo de Paris - começou a dizer numa voz patética - quis libertar a capital para a oferecer aos Aliados. Mas não pode acabar o que começou. É absolutamente necessário que venham em seu socorro,
caso contrário haverá um terrível massacre e centenas de milhar de franceses serão mortos...” Gallois pintou então um quadro dramático da situação em Paris.
Quando terminou, um longo silêncio pairou no interior da tenda. O general Siebert pigarreou, agradeceu ao visitante e reuniu os seus papéis. Ao sair, deu uma ligeira cotovelada ao coronel Lebel e disse-lhe: ”Leclerc, ’your impacient Hon’, chega hoje. Cuide dele. Talvez tenhamos notícias a dar-lhe esta noite.”
Depois, com os documentos debaixo do braço, perdido nos seus pensamentos, esse general, originário duma minúscula ilha do Massachusetts, dirigiu-se para o Piper-Cub que o esperava. As palavras que acabara de ouvir tinham-no ”impressionado profundamente”. Ainda hoje se lembra de ter pensado, enquanto apertava o cinto de segurança: ”Se não chegamos a Paris dentro de dois dias, haverá ali uma monstruosa chacina.”
Na orla dum pequeno bosque, perto da vila bretã de Grandchamps, Dwight Eisenhower pensava também em Paris, nessa manhã de terça-feira. Sobre a secretária envernizada do seu atrelado de comando estava a folha de papel na qual, 24 horas antes, Charles de Gaulle redigira o seu premente apelo para a libertação de Paris ao comandante supremo.
Eisenhower pegou na caneta e, numa letra segura e bem legível, começou a escrever na margem, sem entusiasmo, algumas palavras: ”Parece que seremos obrigados a marchar sobre Paris.”1
Era muito contra a sua vontade que Eisenhower se decidia a tomar essa decisão. Num curto telegrama dirigido ao seu superior, o general George Marshall, em Washington, Eisenhower resumia, nessa manhã, as suas reticências: ”Considerando as necessidades de abastecimento que teríamos de satisfazer ao libertar Paris, é preferível adiar a tomada da cidade até ser resolvido o importante problema da destruição das forças inimigas, incluindo aquelas que se encontram no estreito de Calais.’’
Tomou, no entanto, a precaução de advertir Marshall de que não estava ”se’guro que lhe fosse possível fazê-lo”. Na eventualidade duma libertação iminente de Paris, acrescentou que, ”alguns dias depois desta, De Gaulle seria autorizado afazer a sua entrada oficial na capital.’’2 Afirmação essa que denotava uma falta de observação espantosa, por provir de um homem que tão bem conhecia De Gaulle. Nas palavras do próprio Eisenhower, ”ninguém podia impedir De Gaulle de ir aonde ele queria”.
O plano de Eisenhower não previa a entrada em Paris do chefe do Governo Provisório francês senão para vários dias após a libertação da capital. E, mesmo assim, essa entrada devia fazer-se ”sob os auspícios dos Aliados”. Nessa manhã de Agosto, o Daily Herald de Londres, citando fontes diplomáticas bem informadas, noticiara que o presidente Roosevelt e Winston Churchill tinham a intenção de encabeçarem eles próprios o desfile triunfal dos Aliados em Paris poucos dias após a libertação. e o jornal acrescentara: ”Nesse dia, é provável que o lugar de honra pertença a De Gaulle.”
O comandante supremo tinha sido informado de que Charles de Gaulle se encontrava em França apenas para fazer uma inspecção temporária. O acordo franco-americano relativo aos Negócios Civis, aceite nas suas linhas gerais por Washington em Julho, ainda não tinha sido assinado. O general Julius Homes, adjunto de Eisenhower para os Negócios Civis, sabia quanto Washington se sentia pouco inclinada a deixar Charles de Gaulle transferir imediatamente de Argel para Paris a sede do seu Governo Provisório. O Departamento de Estado era da opinião de que se devia agir por etapas. Num primeiro tempo, De Gaulle seria ”autorizado” a exercer simbolicamente a sua autoridade ”provisória”
1 Nota manuscrita na carta de De Gaulle-SGS, S.H.A.E.F., Arquivo O92.
2 C.P.A. 3O 235, 22 Agosto -S.H.A.E.F., Arquivos Operações 322 OH/I. Sublinhado pelos autores.
numa cidade francesa libertada. Mas essa cidade só poderia ser Paris no dia em que a América tivesse reconhecido oficialmente o Governo Provisório de Charles de Gaulle.
De Gaulle sabia tudo acerca das reticências aliadas a seu respeito. Mas, nessa manhã, no seu quartel-general temporário da Prefecture do Mans, não tinha a menor intenção de deixar Eisenhower, ou quem quer que fosse, ”autorizá-lo’’ a fazer a sua entrada oficial em Paris. Estava resolvido a entrar em Paris ao mesmo tempo que as tropas aliadas - e a lá ficar. De resto, quisesse-o ou não o comandante supremo, De Gaulle decidira enviar para Paris, nas horas mais próximas, a 2.a Divisão blindada. Jamais Charles de Gaulle aceitaria fazer a sua entrada em Paris incluído na ”mobília” dos Aliados. Entraria só, na sua qualidade de chefe da França Livre. Como Charles de Gaulle, enfim. Recomendara até ao seu ajudante-de-campo que descobrisse um automóvel de marca francesa para o conduzir a Paris. Guy, na noite anterior, requisitara em Rennes um magnífico Hotchkiss aberto, pertencente a um negociante suíço.
Instalado nesse automóvel francês, conduzido por um motorista francês, escoltado por motociclistas franceses, Charles de Gaulle preparava-se pois para tomar o caminho de Paris. Tal como se descuidara em avisar os Aliados de que o seu regresso a Paris era, desta vez, definitivo, abstinha-se agora de lhes dar a conhecer que não tinha a menor intenção de voltar a sair de Paris, uma vez lá chegado. Para De Gaulle, a entrada da sua pessoa na capital era o primeiro acto marcando a instalação no poder do seu Governo. Sabendo com que reticências os Aliados acolheriam semelhante acto, decidiu evitar nesse dia, a todo o custo, que uma manobra americana de última hora pudesse pôr em perigo a sua entrada triunfal na capital libertada. Deu aos seus mais próximos colaboradores instruções formais para que discretamente procedessem de forma a que, de futuro, os Aliados ”jamais soubessem exactamente onde se encontra Charles de Gaulle.
Na sala de operações da base aérea inglesa de Harrington, os homens da esquadrilha dos Carpet-Baggers tiveram um sobressalto. O telefone verde, da linha secreta que os ligava directamente ao estado-maior O. S. S. de Thayer House, em Londres, enchia a sala com o retinir da sua campainha contínua. O tenente-coronel Bob Sullivan pegou no auscultador. ”Suspendam a Operação Beggar’’, ouviu alguém dizer. Londres acrescentou que a operação ficava adiada para o dia seguinte, quarta-feira, 23 de Agosto.
Tal como Dietrich von Choltitz, o general Koenig, comandante-chefe das F. F. I., decidira também conceder a si próprio vinte e quatro horas de reflexão. E, no entanto, tinha sido o próprio Koenig quem organizara a operação ”Beggar’’, Mas, antes que os aviões tivessem levantado voo, decidira bruscamente suspendê-la. Lançar armas de pára-quedas sobre Paris era, para Koenig e para os outros oficiais das Forças Francesas Livres do quartel-general de Bryanston Square, uma iniciativa muito contingente. Poderia levar ao massacre dos parisienses que procurassem recolher as armas.
1 Estas instruções foram tão bem observadas e o resultado tão plenamente atingido, que, 24 horas mais tarde, o comandante americano que acabava de ser nomeado oficial de ligação junto do general De Gaulle corria dum estado-maior para outro tentando saber onde se encontrava o general. ”Como quer que eu saiba onde ele está? - respondeu-lhe o general Walter Bedell-Smith, o próprio chefe do estado-maior de Eisenhower.- O senhor supõe que ele nos participa para onde vai?”
Na Mairie de Neuilly, que acabavam de reocupar após a partida dos alemães, a André Caillette e aos seus homens deparou-se-lhes uma agradável surpresa: dez caixas te Schweinefleisch, a conserva clássica da Wehrmacht, que os ocupantes tinham abandonado na Mairie saqueada. Mas nenhum parisiense, na sua miséria alimentar, teria nesse dia maior surpresa do que Paul Fardou, o prisioneiro do Senado, a quem o gordo cozinheiro Franz participava sem cessar que ia ser fuzilado. Antes que o seu companheiro fosse passado pelas armas, quis Franz que ele saboreasse um prato de ”Rinderbratten”, boi assado com toucinho, uma especialidade da sua Wurtemberg natal.
Ao seu prisioneiro, o altivo capitão Wilhelm von Zigesar-Beines, o alemão que dias antes ainda assistia às corridas de cavalos de Longchamp, os agentes do comissariado do Grand-Palais nada mais podiam oferecer do que uma especialidade da ocupação: um prato de nabos suecos cozidos. Havia 24 horas que o capitão do monóculo estava encerrado numa cave do Grand-Palais. Conhecia bem esse edifício. Antes da guerra, Zigesar-Beines tinha ai vivido horas bem mais gloriosas. Chefiando a equipa militar alemã, viera conquistar, sob os vitrais do Grand-Palais, a taça de ouro do campeonato da Europa de hipismo. O oficial não esquecera ainda a trovoada de aplausos com que milhares de parisienses tinham saudado as suas vitórias. Agora, no fundo da sua cela, um ruído diferente chegava até ele. Eram os rugidos dos tigres e dos leões esfomeados do circo que se havia instalado no Grand-Palais. Fazendo uso de um humor macabro, digno do gordo cozinheiro Franz, os carcereiros do capitão Von Zigesar-Beines tinham-lhe respeitosamente comunicado que ele poderia, eventualmente, constituir ”uma excelente refeição para as feras”.
Através do respiradouro da cave, ao capitão alemão deparou-se-lhe um espectáculo que jamais esqueceria. Como tendo saído dum desenho animado, oito leitões cor-de-rosa, conduzidos por um soldado alemão, surgiram nos Campos Elíseos desertos. Cumprindo as ordens que recebera dos seus superiores, o Oberfeldwebel Heinrich Obermuller, chefe do Fahrbereitschaft, o parque automóvel do estado-maior do Gross Paris, fazia evacuar nesse momento, à ponta da Mauser, a vara de porcos que criava na sua garagem de Rua Marbeuf.
Nesse quarto dia de insurreição, o homem mais triste da imensa e esfomeada Paris era talvez um pobre velho da Rua Racine. Um carro do coronel Von Berg tinha pulverizado com um tiro de canhão o pequeno carro que ele empurrava. Nessa carrocinha, o velhote escondera um tesouro: dois quilos de batatas. O desgraçado pôs-se precipitadamente a recolher os pedaços do seu veículo e os tubérculos que tinham rolado para a sarjeta. Resignado com a sua infelicidade murmurou: ”Ao menos, terei alguma lenha para cozer as batatas que restam.”
O general recém-promovido apresentou-se junto da porta blindada da fortaleza subterrânea ”Duroc” e pediu para falar com o coronel Rol. Trazia um boné coberto de brilhantes folhas de carvalho douradas, as botas reluzentes como espelhos e segurava numa das mãos um par de luvas brancas. Na manga do casaco, duas estrelas novas em folha.
- Quem é o senhor? - perguntou com indiferença a sentinela, em mangas de camisa.
- O general Henri Martin - respondeu o visitante.
Quando o bretão comunista viu avançar para ele o impecável oficial, hesitou. A 26 metros de profundidade, no subsolo de Paris, trespassados pela humidade e vivendo no desconforto da vida comunitária, os homens da ”Duroc” que comandavam a insurreição parisiense não usavam uniformes ou insígnias. Fazia ali tanto frio, que um dos primeiros actos de Rol tinha sido organizar uma expedição de comandos à loja dum camiseiro colaboracionista da Rua de Vaugirard, a fim de requisitarem uma vintena de grossas camisolas de angora. Alimentando-se de batatas cozidas e de toucinho, os homens da ”Duroc” aqueciam o estômago depois das refeições com um copo de ”Benedictine”. Era a única bebida alcoólica que existia no fundo daquele buraco. Podia a insurreição durar um ano: o proprietário F.F.I, dum restaurante das vizinhanças tinha mandado entregar-lhes 10 caixas de garrafas desse licor.
O general Henri Martin cumprimentou o chefe da insurreição com um gesto cortês. Martin comandava a ”força governamental’’, a guarda pretoriana que os gaulistas tinham constituído para defender dos próprios homens de Rol, pela força se necessário, os edifícios que ocupavam. Os dois homens observaram-se em silêncio. Encontravam-se pela primeira vez frente a frente.
Noutro ponto de Paris, na vivenda de Saint-Cloud onde instalara o seu P.C., outro general recebia nesse instante uma visita. O alferes Dankvart von Arnim vinha entregar a Hubertus von Aulock, promovido a general na noite anterior, uma pequena caixa embrulhada em papel branco. O seu superior, o general Von Choltitz, conseguira resolver o problema que o atormentava na véspera. Na pequena caixa estavam as insígnias da promoção de Aulock. Dietrich von Choltitz retirara as dragonas de um dos seus próprios uniformes.
Capitulo vigésimo primeiro
O cônsul Raoul Nordling perguntava a si próprio o que procuraria o general Von Choltitz no pequeno armário colocado por detrás da sua secretária. Jamais o vira abrir aquele móvel na sua presença. Passados momentos, o general fez surgir uma garrafa bojuda que discretamente poisou num canto da secretária. Curvando-se então para o diplomata sueco, com um ar repentinamente misterioso, disse-lhe em ar de confidência: ”Não o diga, sobretudo aos ingleses, mas vou tomar um uísque. Suponho que me fará companhia, não é verdade?” Surpreendido, Nordling baixou a cabeça.
Decididamente, pensou, aquele general era desconcertante. Seria então apenas para lhe oferecer um copo de uísque que lhe pedira que viesse ter com ele com a maior urgência, pondo até à sua disposição, para o ir buscar, se tivesse querido, um automóvel blindado?
Choltitz deitou o líquido nos copos, ergueu o seu, fez um sinal com a cabeça, disse Prosit e engoliu o uísque dum trago. Soltou então um longo suspiro e mergulhou na sua poltrona. Repentinamente preocupado, começou a brincar com o monóculo entre os dedos gordos: ”Senhor cônsul - exclamou -, a sua trégua é um falhanço!” Antes que o diplomata tivesse tido tempo de replicar, o comandante do Gross Paris acrescentou com amargura que os três chefes da Resistência não tinham correspondido às esperanças que neles depositara ao libertá-los. A insurreição continuava.
Nordling suspirou. Fez notar que o único homem que de facto possuía real autoridade sobre a Resistência era o general De Gaulle. E este não se encontrava em Paris. Estava provavelmente algures na frente da Normandia, entre os Aliados.
Choltitz fitou o diplomata e manteve-se em silêncio durante um largo momento. Depois, numa voz calma e nítida, disse: ”Não seria possível mandar-se alguém buscá-lo?”
Estupefacto, o sueco ficou vários segundos incapaz de articular uma palavra. Seria uma brincadeira? Ou, pelo contrário, o general alemão falava a sério ao sugerir que alguém fosse ao encontro de De Gaulle e dos Aliados?
Nordling acabou por perguntar se o general estaria na disposição de conceder um salvo-conduto, autorizando a travessia das linhas alemãs, para ele entrar em contacto com os Aliados.
”E porque não?”, respondeu o alemão.
Então, ao ouvir essas palavras, Nordling declarou que, na sua qualidade de diplomata dum país neutro, estava pronto a organizar uma expedição para ir até junto dos Aliados. Choltitz pareceu satisfeito com a ideia. Tirou da algibeira do casaco do uniforme uma folha de papel azul que pôs bem em evidência sobre a secretária. Explicou ao cônsul que se tratava duma das numerosas ordens que recebera no decorrer daqueles dias. Se tivesse obedecido a uma dessas ordens, revelou, Paris seria já, naquele momento, uma cidade em ruínas. Mas, mesmo recebendo constantes pressões de Hitler para que tomasse medidas decisivas, tendentes a esmagar a insurreição, se necessário arrasando grande parte da cidade, preferira jogar a cartada das tréguas. Mas, agora, via chegado o momento de ter de executar aquelas ordens.
Numa voz grave, o general explicou então ao diplomata que seria destituído do seu comando se não cumprisse a missão de que fora encarregado. Em seguida, num tom de voz mais lento, separando bem as palavras como que para sublinhar a importância do que dizia, o general, recorda Nordling, declarou que só uma intervenção rápida dos Aliados poderia agora impedi-lo de executar essas ordens. Julgo - acrescentou ele -, que o senhor compreende até que ponto o facto de pedir semelhante intervenção pode ser interpretado como um acto de traição da minha parte?”
Ao pesado calor do meio-dia, o vasto gabinete ficou em silêncio durante um largo momento. Nordling perguntou por fim se o general consentiria, para que a sua missão tivesse mais peso, em entregar-lhe uma carta que ele pudesse transmitir ao comando aliado.
Admirado, o alemão olhou para o diplomata: ”É-me impossível escrever o que acabo de lhe dizer”, respondeu.
Depois, tirou duma gaveta uma folha de papel encimada pela águia e pela cruz gamada e começou a redigir o único documento que consentia em entregar a Nordling, para lhe facilitar a sua missão. Numa letra larga e redonda, escreveu: O cônsul da Suécia R. Nordling
está autorizado a sair de Paris e a transpor as linhas ocupadas pelo exército alemão.”
Estendeu a folha de papel ao diplomata, acrescentando que o aconselhava a fazer-se acompanhar por Bobby Bender até às linhas alemãs. Se se lhe deparasse qualquer dificuldade para atravessá-las, Bender poderia facilitar-lhe as coisas telefonando-lhe directamente.
O general Von Choltitz levantou-se então. Tinha a testa encharcada pelo suor, mas ainda se recorda que se sentira ”bruscamente aliviado dum grande peso”. Achava que tinha encontrado, duma maneira que não lhe parecia incompatível com a sua honra militar, o meio de fazer saber aos Aliados o perigo que ameaçava Paris, e de fazer-lhes compreender que o caminho para Paris estava, de momento livre. Mas por quanto tempo o estaria? Não o sabia. Sabia, isso sim, que se os reforços que pedira chegassem a Paris, uma coisa era certa: seria obrigado a cumprir o seu dever de soldado. Porém, defenderia Paris. Nessa mesma noite, os Aliados seriam avisados. Se não aproveitassem imediatamente a ocasião, seriam eles, e mais ninguém, quem carregaria com a responsabilidade do que pudesse vir a acontecer.
Dietrich von Choltitz segurou o braço de Nordling. Respirando a custo, pois sentia aproximar-se um ataque de asma, acompanhou-o à porta. Então, apertando repentinamente a mão do cônsul, disse-lhe: ”Tem vinte e quatro horas à sua frente, talvez quarenta e oito horas. Depois, não posso garantir o que se passará aqui.
Capítulo vigésimo segundo
Jamais em 35 anos de carreira diplomática, Raoul Nordling tivera problemas mais complicados a resolver. Sair das linhas alemãs era uma coisa, dizia para consigo, ter êxito na sua missão junto do general De Gaulle e dos Aliados era outra, bem mais difícil. Para ter todas as possibilidades do seu lado, Nordling resolveu levar com ele, sem que o general Von Choltitz o soubesse, duas individualidades que, em sua opinião, poderiam facilmente entrar em contacto com o chefe da França Livre. Uma, era Alexandre de Saint-Phalle, o tesoureiro da Resistência gaulista em Paris, outra, o banqueiro Jean Laurent, que pertencera ao gabinete de De Gaulle em 1940, quando este era subsecretário de Estado da Guerra. O sueco ignorava que nenhum destes dois homens figurava na lista das personalidades que podiam ter acesso, naquelas horas dramáticas, à intimidade de Charles de Gaulle.
Mas não seriam esses dois os únicos homens a participar na estranha expedição que se preparava. Enquanto Nordling aguardava a chegada de Saint -Phalle, para conhecer qual a estrada que mais conviria tomar para alcançar as linhas aliadas, a campainha da porta do consulado tocou. Apresentou-se um homem de elevada estatura, ligeiramente calvo, com olhos de um azul profundo, que dizia chamar-se Ollivier. Representava, disse, a Cruz Vermelha e pedia para acompanhar a missão, pensando que poderia ser útil na travessia das linhas alemãs. Esta pretensão irritou e surpreendeu o cônsul. Não via qualquer razão para incluir um membro da Cruz Vermelha nessa missão de plenipotenciários. Além disso, espantava-o que a notícia da sua expedição tivesse podido, já, transpirar até àquele ponto.
Nordling informou secamente o misterioso visitante que considerava inútil a sua presença. Mas Saint-Phalle, que entretanto chegara, interveio junto do diplomata, para que este acedesse a levar com eles o representante da Cruz Vermelha. Nordling acabou por ceder. Na realidade, o homem a quem Raoul Nordling dispensou nesse dia um lugar no pequeno Citroen preto da expedição imaginada pelo próprio comandante do Gross Parts era o chefe de todos os serviços do ”Intelligence” britânico em França, o coronel Claude Ollivier, chamado ”Jade Amicol” ’.
Um terceiro comparsa chegou pouco depois, também sem ser convidado. Nordling, no entanto, conhecia-o. Era um jovem barão austríaco que lhe fora apresentado por Bobby Bender, dez dias antes. As três letras do monograma bordado na sua camisa eram, Nordling sabia-o, as iniciais do seu nome. Chamava-se Erich Poch Pastor. O sueco suspeitava que o jovem aristocrata era um agente de informações alemão ao serviço do general Von Choltitz.
Nordling, de certo modo, tinha razão. Pastor era de facto um agente de informações. Mas não ao serviço dos alemães. Para os membros do ramo de Resistência francesa ”Goélette”, as três letras E.P.P. bordadas na sua camisa tinham outro significado. Eram as iniciais do pseudónimo que ele usava desde que entrara para a Resistência, em Outubro de 1943. O austríaco Erich Poch Pastor chamava-se, na clandestinidade, Étienne Paul Pruvost. Neto do último embaixador do império austro-húngaro junto do Vaticano, Erich Poch Pastor fornecera aos Aliados um número importante de informações militares, nomeadamente os primeiros planos das VI. Mobilizado na Wehrmacht, tinha sido oficial de segurança numa fábrica de foguetões em Niort. Durante a sua passagem pelo importante cargo conseguira fazer reduzir a produção mensal da fábrica de
13000 foguetões para menos de 1000 unidades.
Nordling ignorava esses pormenores. Convencido, pelo contrário, de que Choltitz enviava Poch Pastor para o vigiar, consentiu, de má vontade, em incluí-lo na sua expedição 2.
1 O cônsul Nordling só conhecerá a verdadeira identidade do coronel Olliver várias semanas mais tarde.
2 A natureza exacta das relações entre o general Von Choltitz e Poch Pastor, bem como o verdadeiro papel que o austríaco desempenhou nos dias que precederam a libertação de Paris, estão ainda por esclarecer. Dentre as centenas de pessoas que os autores interrogaram no decorrer do seu inquérito, Poch Pastor é a única personagem que recusou categoricamente responder às perguntas respeitantes à libertação de Paris. Poch Pastor vive hoje em Zurique, onde é um dos directores duma fábrica metalúrgica. Nascido em Innsbruck , em 15 de Junho de 1915, Erich Poch Pastor von Camperfeld era tenente do exército austríaco no momento do Anschluss. O seu regimento foi uma das poucas unidades que resistiram pela força às tropas hitlerianas. Feito prisioneiro, foi internado em Dachau durante um ano. Incorporado no exército alemão, chegou a França em Fevereiro de 1942, depois de ter sido ferido na frente russa. Entrou para a Resistência Francesa em Outubro de 1943. Devido ao seu brilhante comportamento, recebeu a medalha da Resistência, com a seguinte citação: ”...durante oito meses consecutivos, transmitiu informações de ordem económica e militar da maior importância para os Aliados, incluindo vários dos primeiros planos das VI.” Os alemães afastaram-no das suas funções em Niort por ”incompetência”, em Julho de 1944. Foi então destacado para uma unidade de infantaria em Itália, da qual desertou. Regressou clandestinamente a Paris. Na altura da Libertação de Paris, Poch Pastor era frequentador do Hotel Meurice. Choltitz negou formalmente, perante os autores deste livro, ter ordenado a Poch Pastor que acompanhasse a missão Nordling. Pelo contrário, assegurou-lhes que o austríaco decidira fazê-lo por sua livre iniciativa. Quanto a Poch Pastor, este recusou-se a discutir o assunto. Contudo, Daniel Klotz, agente americano da O.S.S., que o interrogou a seguir à Libertação, recorda-se de que Poch Pastor foi imediatamente reclamado pelo Intelligence Service. No dia seguinte à
libertação de Paris, Poch Pastor já estava de volta. E usava, nesse dia, um uniforme americano.
A única declaração que Poch Pastor acedeu a fazer acerca do seu papel durante a libertação de Paris é a descrição duma cena passada na segunda-feira, 21 de Agosto, no decorrer da qual o general Von Choltitz lhe salvou a vida. Encontrando-se na antecâmara do gabinete do general, ouviu através da porta as vozes de três agentes do S. D. que perguntavam ao comandante do Gross Paris onde estava Erich Poch Pastor. Ouviu então o general responder calmamente que ignorava completamente a quem eles pretendiam referir-se. Choltitz recorda-se deste incidente. A este respeito, limitou-se a explicar aos autores deste livro que nem sequer um cão vadio teria entregue ao S. D.".
Em 1945, Poch Pastor casou com Silvia Rodriguez de Rivas, neta dum antigo presidente do Equador e aparentada, por afinidade, com uma das mais antigas famílias de França, os Talleyrand-Valençay. Teve duas filhas. Depois, em 1954, desapareceu. Durante dez anos a sua mulher -que, entretanto, obtivera o divórcio por abandono do lar- e as duas filhas mantiveram-se sem notícias suas, ignorando mesmo se ele estava vivo ou morto. Os autores deste livro acabaram por encontrar o seu rasto graças a um dos seus antigos companheiros de guerra americanos, actualmente funcionário civil em Frankfurt. A este deparara-se-lhe casualmente Poch Pastor no bar do Hotel Beira do Lago, em Zurique, em Julho de 1963. Por intermédio deste americano, os autores deste livro conseguiram localizar o misterioso austríaco.
O único vestígio que resta em Paris da passagem do estranho Étienne Paul Pruvost é um processo poeirento num andar da Rua Royer-Collard. Aí, entre os arquivos esquecidos do ramo "Goélette", uma camisa castanha com a indicação "CLAYREC RJ4570'' contém o relatório das actividades dum certo Erich Post Pastor e as suas citações.´
Para encerrar aquela incrível tarde, o diplomata sueco iria receber uma última surpresa. Enquanto terminava os preparativos finais da sua expedição, Nordling, esgotado por várias noites sem dormir, sentiu bruscamente uma dor fortíssima rasgar-lhe o peito. Caiu por terra. Esse homem que devia fazer uma viagem de 100 quilómetros, para levar aos Aliados o apelo de Choltitz, mal pôde arrastar-se alguns metros para alcançar a cadeira da sua secretária. Acabara de sofrer um ataque cardíaco.
No entanto, menos de meia hora mais tarde, a expedição partia em direcção a Versalhes, com a mensagem do general alemão, deixando o diplomata meio despido deitado no divã na sua sala. No Citroen preto, além dos dois gaullistas e dos dois agentes de informações, desconfiados um do outro, encontrava-se também um falso diplomata sueco. Raoul Nordling enviara em seu lugar o único homem em Paris que podia desempenhar a sua missão e responder simultaneamente ao nome ”R. Nordling”, escrito por Choltitz no ausweis: o seu irmão Rolf.
Quarenta e cinco minutos mais tarde, depois de ter atravessado três barragens, o Citroen ostentando o pavilhão sueco cruzou a pequena vila de Saint-Cyr. Atrás, ao volante do seu dois lugares de três carburadores, seguia Bobby Bender. Repentinamente, surgindo dum dos lados da estrada, um rapaz seminu, de capacete de aço, começou a gesticular no meio da estrada. Depois, quando o carro parou, enfiou o cano duma pistola-rnetralhadora pela janela aberta do veículo e ladrou um Was is t das? aterrador. Saint-Phalle lembra-se de que, durante um instante, foi incapaz de articular qualquer som, hipnotizado pela medalha que pendia do pescoço do soldado. Era a Cruz de Ferro. Por cima do ombro nu da sentinela, viu então, assustado, as torrinhas de 8 carros Tigre, camuflados na orla dum bosque, a 50 metros da estrada. ”Estamos perdidos”, pensou. Pelo retrovisor, viu que os dedos do falso representante da Cruz Vermelha passavam entre eles as contas pretas dum terço. A seu lado, fumando calmamente um Gitane Maryland, Erich Post Pastor mantinha-se numa calma olímpica. Saint-Phalle saberia mais tarde que a única prova de identidade que o austríaco levava consigo nesse dia era, escondido na meia esquerda, um falso bilhete de identidade francês passado em nome de Étienne Paul Pruvost.
Saint-Phalle podia agora ouvir as vociferações germânicas de Bobby Bender, indignando-se que uma simples sentinela ousasse impedir o caminho a uma missão diplomática. Um capitão de Panzer, envergando um fato camuflado, surgiu nesse momemto. Bender gritou Heil Hitler e estendeu ao oficial S. S. o seu Ausweis pessoal do Abwehr. Em seguida, apresentou o salvo-conduto assinado pelo general comandante do Gross Paris. Num gesto brusco, o oficial repeliu o bocado de papel. ”Não interessa qual o general que assinou este ausweis - exclamou.-Desde o dia 20 de Julho que existem muitos generais da Wehrmacht a quem deixámos de obedecer!’’ Ao ouvir estas palavras, Saint-Phalle viu Bender estremecer. Depois, viu o rosto do agente do Abwehr deformar-se bruscamente de raiva e ouviu-o crivar de ameaças o capitão. Surpreendido com essa brutal reacção, o oficial consentiu em telefonar para o quartel-general do Gross Paris, pedindo instruções. Acompanhado por Bender, o oficial afastou-se, deixando Saint-Phalle e os seus companheiros guardados pela sentinela seminua. Uma hora mais tarde, os dois homens estavam de volta. Bender conseguira estabelecer uma ligação telefónica com o único alemão que em Paris estava ao corrente da existência daquela missão. O general Von Choltitz, numa voz furiosa, ordenara ao capitão S.S. que deixasse passar o automóvel, ”caso contrário viria ele próprio fazê-lo”.
Com um gesto indiferente, o oficial alemão fez sinal a Saint-Phalle para prosseguir o seu caminho. Terminara a missão de Bobby Bender. Este, aliviado,
viu o carro partir.
Mas mal Saint-Phalle acelerara, surgiu duma vala outra sentinela, que literalmente se atirou sobre a cobertura do motor. Saint-Phalle travou, e perguntou de si para si o que gritaria o soldado. Este berrava uma palavra que, quando eles perceberam qual era, fez tremer os cinco ocupantes do veículo. Minenf, gritava o homem. Três metros à frente do pára-choques dianteiro do Citroen começava realmente um campo de minas ’. A primeira dessas minas era suficientemente potente para fazer explodir um carro de assalto. Teria reduzido a nada aquele Citroen, os seus cinco passageiros e a mensagem verbal que um general alemão desesperado enviava aos seus inimigos.
A sentinela tirou então uma folha de papel da algibeira. Examinando cuidadosamente o pavimento, fez sinal a Saint-Phalle para avançar atrás dela, e ela
1 É impossível saber exactamente se o capitão de Panzer se esquecera da existência deste campo de minas ou se mandara deliberadamente seguir o Citroen pela estrada minada, na esperança de que ele explodiria. Oficial duma unidade de choque, nenhuma dúvida pode no entanto subsistir de que o capitão devia ter algumas suspeitas acerca da delegação que nessa tarde se apresentou no seu posto avançado.
própria começou a caminhar em ziguezague Durante 35 minutos, ofegantes, a respiração suspensa e as costas encharcadas de suor. os cinco ocupantes do automóvel transpuseram o campo de minas, num lento e assustador slalom. No cruzamento de duas estradas, o sargento endireitou-se finalmente, e dobrou a folha de papel. Depois, apontando com a mão para oeste, anunciou com orgulho: Die amerikaner gerad aus: 500 meter.
Perante as duas estradas, Saint-Phalle não teve tempo de hesitar. Ao volante desse veiculo que transportava as esperanças do general Von Choltitz e o destino de 3 milhões e meio de parisienses, tomou, instintivamente, à direita, a estrada de Neauphle-le-Vieux, a mesma que ele tinha percorrido, todos os domingos, desde que nascera. Era o caminho para casa da sua avó.
Capitulo vigésimo terceiro
Philippe Leclerc, o general que os americanos tinham cognominado The impatient lion, andava impacientemente para trás e para diante no campo de aterragem do estado-maior da E.A.G.L.E.T.A.C. Nervoso, decepava com a bengala as altas ervas da pista. Atrás dele, a uma distância respeitosa, seguia Roger Gallois. O general Bradley não regressara ainda da sua conferência com Eisenhower. Dentro de poucos minutos, com os últimos clarões do dia, Leclerc
teria de levantar voo e regressar de Piper-Cub ao P. C. da sua divisão Minutos antes, Gallois tivera oportunidade de dirigir algumas palavras ao general francês. Mas apenas conseguira obter como resposta uma única frase, Frase essa que Leclerc continuava a repetir como uma litania: "É necessário que a ordem de marcha chegue hoje à noite."
Subitamente ouviu-se um ronco no céu. Ao ouvir esse barulho, Leclerc imobilizou-se e levantou a cabeça. Um Piper-Cub descia sobre o terreno. O general precipitou-se para o aparelho, cuja hélice ainda girava. Abriu-se a porta e surgiu o general Siebert. Este exclamou para o "leão impaciente" : "O senhor venceu. Mandam-no seguir para Paris."
Vinte minutos antes, perto da vila bretã de Grandchamps, na tenda do Grande Quartel-General, o general Siebert transmitira a Eisenhower e a Bradley
as informações que nessa mesma manhã recebera de Roger Gallois. Ao oubir Siebert, Eisenhower franzira as suas espessas sobrancelhas. Depois, suspirara e dissera a Bradley. "É aborrecido, Brad. Mas parece-me que vai ser necessário irmos. Diga a Leclerc que parta."
O Piper-Cub de Bradley aterrou por sua vez na pista da E.A.G.L.E.T.A.C.
Ao descer do avião, o fleumático general do Missuri chamou Leclerc e Gallois:
"A decisão de avançar sobre Paris está tomada - declarou. - A responsabilidade cabe a nós três. A mim, porque dou a ordem. A si, general Leclerc, porque vai executá-la, e a si, comandante Gallois, porque foram as suas informações que nos levaram a tomar esta decisão."
Em seguida, Bradley voltou-se para Leclerc e, na sua voz arrastada do Médio Oeste, disse: "Lembre-se apenas duma coisa: não quero que haja combates no interior de Paris. É a única restrição que faço à ordem para se apoderar de Paris. Por preço nenhum deverá travar-se uma batalha de ruas na cidade.’’ ’
Ornar Bradley presenciara um dia o terrível espectáculo de Saint-Lo arrasada pelas bombas. E jurara a si próprio impedir que semelhantes destruições se verificassem nessa Paris que ele tanto amava...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















