



Biblio VT




É claro que a vida é sempre um processo de ruptura, mas os golpes que fazem a parte dramática do trabalho — os golpes fortes e súbitos que vêm ou parecem provir do exterior —, aqueles de que nos recordamos, nos quais pomos a culpa por isso ou aquilo, e a respeito dos quais, em momentos de fraqueza, falamos aos amigos, não mostram de imediato todo o seu efeito. Existe outro tipo de golpe que vem de dentro — que não sentimos até ser tarde demais para fazer alguma coisa, até entendermos, de maneira categórica, que em algum sentido nunca mais seremos os mesmos. O primeiro tipo de ruptura nos parece ocorrer de repente. O segundo acontece quase sem que a gente note, mas sua percepção vem de um momento para o outro.
Antes de dar prosseguimento a esta historieta, peço licença para fazer uma observação geral: o teste de uma inteligência de alto nível está na capacidade da mente de manter, ao mesmo tempo, duas ideias opostas e, ainda assim, continuar a funcionar. Deveríamos, por exemplo, ser capazes de entender que as coisas não têm remédio, mas ainda assim nos determinarmos a consertá-las. Essa filosofia era apropriada ao começo de minha vida adulta, quando vi o improvável, o implausível e, com frequência, o “impossível” acontecer. A vida era algo que dominávamos se tivéssemos alguma aptidão. A vida submetia-se facilmente à inteligência e ao esforço ou a qualquer proporção das duas coisas que pudesse ser mobilizada. Parecia romântico ser um literato bem-sucedido: nunca seríamos famosos como um astro do cinema, mas o renome que conseguíssemos seria, provavelmente, mais duradouro. Nunca teríamos o poder de um homem de fortes convicções políticas ou religiosas, mas com certeza éramos mais independentes. É claro que, na prática do ofício, estaríamos sempre insatisfeitos. Entretanto, falando por mim, eu não teria escolhido nenhum outro.
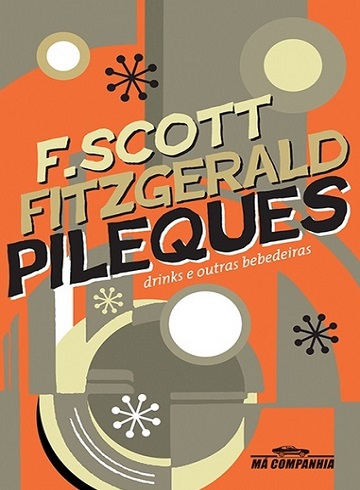
À medida que decorria a década de 20, com meus próprios vinte anos avançando um pouco à frente, minhas duas frustrações juvenis — não ter estatura (ou habilidade) para jogar futebol americano na faculdade e não ter cruzado o Atlântico durante a guerra — desvaneceram-se em devaneios pueris de heroísmo imaginário capazes de me fazer adormecer em noites insones. Os grandes problemas da vida pareciam se resolver por si mesmos, e, se solucioná-los era difícil, a tarefa deixava a pessoa cansada demais para pensar em problemas mais gerais.
Há dez anos a vida era, sobretudo, uma questão pessoal. Eu precisava equilibrar o senso da inutilidade do esforço e o senso da necessidade de lutar; a convicção da inevitabilidade do fracasso e, ainda assim, a determinação de “vencer” — e, mais do que isso, a contradição entre a mão morta do passado e as admiráveis intenções para o futuro. Se eu conseguisse fazer isso apesar dos males comuns da vida — domésticos, profissionais e pessoais —, o ego seguiria como uma flecha atirada do nada para o nada e com tal força que só a gravidade a traria por fim de volta à terra.
Durante dezessete anos, com um ano de vadiação e descanso deliberado no meio deles, as coisas se mantiveram assim, sendo cada nova tarefa somente uma perspectiva agradável para o dia seguinte. Eu estava também vivendo intensamente, mas “Até os quarenta e nove não haverá problema”, dizia. “Posso contar com isso. Para um homem que viveu como eu, isso é tudo o que se pode pedir.”
... E aí, dez anos antes dos quarenta e nove, percebi de repente que tinha sofrido um colapso nervoso prematuro.
II Ora, um homem pode se quebrar de várias formas: pode se ferrar na cabeça (e nesse caso outras pessoas tiram-lhe o poder de decisão!); no corpo, caso em que ele não pode evitar o mundo branco do hospital; ou nos nervos. Num livro nada sensível, William Seabrook conta, com certo orgulho e um final cinematográfico, como passou a viver à custa do governo. O que o levou ao alcoolismo, ou estava relacionado ao álcool, foi um colapso nervoso. Embora o autor destas linhas não estivesse enrolado como ele — pois na época não tomei mais que um copo de cerveja durante seis meses —, eram os meus reflexos nervosos que estavam indo por água abaixo: raiva demais, lágrimas demais.
Além disso, para voltar à minha tese de que a vida tem ofensivas variadas, a percepção de ter sofrido um colapso nervoso não ocorreu junto com um golpe, e sim com um alívio momentâneo.
Não muito tempo antes, eu estivera no consultório de um médico famoso e ouvi uma grave sentença. Com o que, em retrospecto, parece certa serenidade, eu fui cuidar de minha vida na cidade onde vivia na época, sem me importar muito, sem pensar em tudo que não fora feito ou no que aconteceria com esta ou aquela responsabilidade, como as pessoas fazem nos livros. Eu tinha um bom seguro e, devo reconhecer, cuidara apenas de maneira medíocre da maioria das coisas que me diziam respeito, até mesmo meu talento.
Entretanto, um instinto forte e súbito me disse que eu devia ficar sozinho. Não queria ver ninguém. Tinha visto tantas pessoas durante toda a vida — era um homem medianamente sociável, mas com uma tendência mais do que mediana para identificar a mim mesmo, minhas ideias e meu destino, com pessoas de todas as classes com que entrava em contato. Eu estava sempre salvando ou sendo salvo — numa única manhã, passava por todas as emoções que podemos atribuir a Wellington em Waterloo. Eu vivia num mundo de inimigos inescrutáveis e de amigos e apoiadores inalienáveis.
Agora, porém, eu queria estar absolutamente sozinho e, por isso, procurei certo distanciamento dos problemas habituais.
Não foi um período infeliz. Afastei-me e passou a haver menos gente. Percebi que estava cansado, mas não doente. Podia não fazer nada e gostava disso, às vezes dormindo ou cochilando vinte horas por dia, e nos intervalos tentava, resolutamente, não pensar. Em vez de pensar, fazia listas, centenas delas, e as rasgava em seguida: listas de líderes de cavalaria, de jogadores de futebol americano, de cidades, de músicas populares, de arremessadores de beisebol, de tempos felizes, de passatempos, de casas em que tinha morado, dos ternos e sapatos comprados desde que saí do Exército (não contei o terno que comprei em Sorrento e que encolheu, nem os sapatos de verniz e a camisa de peito duro e o colarinho que levei comigo de um lado para outro durante anos sem nunca usar, porque os sapatos mofaram e ficaram quebradiços, e a camisa e o colarinho amarelaram e a goma estragou). Fazia também listas de mulheres de que tinha gostado e das ocasiões em que permiti ser afrontado por pessoas que não eram melhores do que eu em caráter ou capacidade.
E aí, de repente e surpreendentemente, melhorei.
E rachei como um prato velho assim que soube da notícia.
Esse é o fim real dessa história. O que viria a ser feito terá de ficar naquilo que era chamado de “ventre do tempo”. Bastará dizer que, depois de mais ou menos uma hora de papo com o travesseiro, comecei a me dar conta de que durante dois anos eu tinha vivido sacando recursos que não possuía, que eu vinha me hipotecando, física e espiritualmente, ao máximo possível. O que era o pequeno dom da vida, que me fora devolvido, em comparação com isso, quando antes houvera orgulho pela direção seguida e confiança numa independência duradoura?
Compreendi que naqueles dois anos, a fim de preservar alguma coisa — uma paz interior, talvez, mas talvez não fosse isso —, eu me negara todas as coisas que antes adorava; o próprio ato de viver, desde a escovação dos dentes de manhã até o jantar com um amigo, se tornara um esforço. Percebi que durante muito tempo eu deixara de gostar das pessoas e das coisas, e apenas cumpria a velha e frouxa simulação de gostar delas. Percebi que até meu amor pelas pessoas mais próximas se tornara apenas uma tentativa de amar, que minhas relações casuais — com um editor, o dono da tabacaria, o filho de um amigo — eram apenas aquilo que eu lembrava, de outros tempos, que devia fazer. Em um mesmo mês passaram a me irritar coisas como o som do rádio, os anúncios nas lojas de departamentos, o guincho dos trilhos, o silêncio morto do campo — desprezava a bondade humana, implicava de imediato (ainda que em segredo) com a maldade — odiando a noite em que não conseguia dormir e odiando o dia porque ele caminhava para a noite. Eu me deitava agora sobre o lado do coração, por saber que quanto mais cedo eu o cansasse, mesmo que só um pouco, mais cedo chegaria a bendita hora de pesadelo, que, como uma catarse, me possibilitaria receber melhor o novo dia.
Havia certos lugares e certos rostos que eu suportava ver. Como a maior parte dos oriundos do Meio-Oeste, nunca tivera senão os mais vagos preconceitos raciais — sempre sentira uma atração secreta pelas lindas louras escandinavas que eu via sentadas nas varandas de St. Paul, mas que ainda não tinham ascendido o suficiente na escala econômica para fazer parte do que era então a sociedade. Eram demasiado belas para serem “garotas” e tinham deixado cedo demais as fazendas para conquistar um lugar ao sol, mas eu me lembro de rodear quarteirões inteiros para ver de relance uma única cabeleira brilhante — o choque fulgurante de uma moça que eu nunca viria a conhecer. Isto é conversa urbana, malvista. Ela se afasta do fato de que naquele tempo eu não suportava ver celtas, ingleses, políticos, estrangeiros, virginianos, negros (claros ou escuros), arrivistas, caixeiros de lojas e intermediários em geral, todos os escritores (eu evitava com muito cuidado os escritores, porque podem perpetuar problemas como ninguém) — e todas as classes enquanto classes, e a maioria delas por causa de seus membros...
Tentando me apegar a alguma coisa, eu gostava de médicos, além de meninas de até mais ou menos treze anos e de meninos bem-educados a partir de uns oito anos. Era capaz de sentir paz e felicidade com essas poucas categorias de pessoas. Esqueci de dizer que eu gostava de velhos — homens com mais de setenta anos, às vezes com mais de sessenta se seus rostos parecessem marcados pelo tempo. Eu gostava do rosto de Katharine Hepburn na tela, não me importando com o que se dizia de sua presunção; do rosto de Miriam Hopkins e de velhos amigos se só os visse uma vez por ano e pudesse recordar seus fantasmas.
Tudo meio desumano e desnutrido, não? Bem, crianças, esse é o verdadeiro sinal do colapso nervoso.
Não é um quadro bonito. Inevitavelmente, era levado de um lado para o outro em sua moldura e exposto a vários críticos. Entre eles havia uma mulher que só pode ser descrita como uma pessoa cuja vida faz com que a vida das outras pessoas pareça a morte — mesmo nessa ocasião, em que ela representou o papel em geral desinteressante do consolador de Jó. Embora esta história já esteja acabada, permitam-me transcrever nossa conversa como uma espécie de pós-escrito.
“Em vez de ter tanta pena de você mesmo, ouça”, disse ela. (Ela sempre diz “ouça”, porque ela pensa enquanto fala — pensa mesmo.) Por isso, disse: “Ouça. Imagine que não foi você que teve um colapso... Imagine que foi o Grand Canyon”.
“Fui eu”, respondi, heroico.
“Ouça! O mundo só existe através dos seus olhos... Da concepção que você faz dele. Você pode torná-lo grande ou pequeno, do tamanho que quiser. E você está tentando ser uma pessoinha insignificante. Deus do céu, se um dia eu tiver um colapso, vou tentar fazer o mundo ir junto comigo. Ouça! O mundo só existe através de como você o vê, e por isso é muito melhor dizer que não foi você que sofreu o colapso... foi o Grand Canyon.”
“Meu bem, já pôs para fora todo o seu Spinoza?”
“Não sei nada de Spinoza. O que eu sei...” Ela falou, então, de velhas agonias de si mesma, que quando contadas pareciam ter sido mais dolorosas do que as minhas, e de como as havia enfrentado, superado, derrotado.
Tive certa reação ao que ela contava, mas sou um homem que pensa devagar, e ocorreu-me, ao mesmo tempo, que, de todas as forças naturais, a vitalidade é a única que não pode ser comunicada. No tempo em que a seiva chegava a nós como um artigo isento de taxas alfandegárias, a gente tentava distribuí-la — mas sempre sem êxito. Para empregar outra metáfora, a vitalidade nunca “pega”. Ou a temos ou não a temos, como saúde, olhos castanhos, honra ou voz de barítono. Eu poderia ter pedido um pouco da vitalidade dela, num pacotinho, pronta para ser cozida e digerida em casa, mas eu nunca poderia ganhá-la — nem que esperasse mil horas, estendendo a latinha da autopiedade. Eu poderia sair da casa dela, protegendo-me com muito cuidado, como uma peça de louça quebrada, e partir para o mundo da amargura, onde eu construía um lar com os materiais que encontrava, e citar para mim mesmo, depois de deixar sua casa: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos?”
Mateus 5,13
Colando os pedaços
Março de 1936
Num artigo anterior, este autor escreveu a respeito de sua constatação de que o prato que tinha diante de si não era aquele que pedira para seus quarenta anos. Na verdade, já que ele e o prato eram a mesma coisa, ele se descreveu como um prato quebrado, do tipo que a gente fica pensando se vale a pena conservar. Meu editor achou que o artigo apontava para um grande número de aspectos, sem examiná-los de perto, e é provável que muitos leitores tenham achado a mesma coisa — e sempre havia aqueles para quem toda atitude confessional é desprezível, a menos que termine com um nobre agradecimento aos deuses pela Alma Inexpugnável.
Contudo, eu vinha agradecendo aos deuses havia tempo demais, e agradecendo por nada. Queria pôr um lamento em minha narrativa, mesmo sem o fundo dos montes Eugâneos para lhe dar cor. Não havia nenhum monte Eugâneo que eu pudesse ver.
Às vezes, porém, o prato quebrado tem de ser preservado na copa, tem de ser mantido em serviço como um bem doméstico essencial. Nunca mais ele poderá ser esquentado no forno ou misturado aos outros pratos na bacia de lavar louça; não será levado à mesa com convidados, mas servirá para carregar biscoitos tarde da noite ou para ir à geladeira com sobras de comida...
Daí essa continuação, a história posterior do prato rachado.
Ora, o tratamento convencional para uma pessoa que entrou em colapso consiste em pensar sobre pessoas em estado de indigência real ou que sofrem fisicamente — esse é o conselho padrão para melancolia em geral, e é um conselho bastante salutar para o dia a dia de qualquer pessoa. Entretanto, às três horas da madrugada, um pacote esquecido tem a mesma importância trágica de uma sentença de morte, e o tratamento não funciona — e numa noite realmente escura da alma é sempre três horas da madrugada, dia após dia. A essa hora tendemos a nos recusar a encarar as coisas até onde for possível, refugiando-nos num sonho infantil, mas vários contatos com o mundo continuamente nos tiram, sobressaltados, desse sonho. Reagimos a essas ocasiões com o máximo possível de rapidez e despreocupação, e retornamos ao sonho com a esperança de que as coisas se consertem sozinhas, graças a um sensacional golpe de sorte, material ou espiritual. No entanto, à medida que persiste o refúgio, há cada vez menos chance de sobrevir esse golpe de sorte — não estamos à espera da dissolução gradativa de uma infelicidade isolada, mas somos a testemunha involuntária de uma execução, da desintegração de nossa própria personalidade...
A menos que entre em cena a loucura, as drogas ou o álcool, mais cedo ou mais tarde essa fase termina num beco sem saída, sendo sucedida por uma calmaria inane. Nela podemos tentar estimar o quanto nos foi tirado e o quanto restou. Só quando me sobreveio essa calmaria foi que percebi que passara por duas experiências paralelas.
A primeira vez ocorreu há vinte anos, quando deixei Princeton no terceiro ano com um problema que foi diagnosticado como malária. Doze anos depois, soube-se, por meio de uma radiografia feita então, que tinha sido tuberculose — um caso brando, e depois de alguns meses de repouso voltei para a faculdade. No entanto, eu perdera alguns cargos, sendo o principal deles a presidência do Triangle Club — uma proposta de trupe de comédia musical —, e tive de repetir o ano. Para mim, a faculdade nunca mais seria a mesma. Depois disso, não haveria troféus de excelência, medalhas, nada. Numa manhã de março, tive a sensação de ter perdido tudo o que tinha desejado — e naquela noite, pela primeira vez, persegui o espectro da feminilidade, que durante certo tempo faz com que tudo o mais pareça desimportante.
Anos mais tarde, compreendi que meu fracasso como figurão da faculdade fora até bom — em vez de participar de comitês, passei a me interessar pela poesia inglesa. Quando vim a entender do que se tratava, dediquei-me a aprender a escrever. De acordo com o princípio de Shaw, de que “se você não tem aquilo de que gosta, é melhor gostar do que tem”, aquilo foi um golpe de sorte — mas no momento foi duro e amargo saber que minha carreira como líder tinha chegado ao fim.
Desde aquele dia, não fui capaz de despedir um empregado preguiçoso, e fico pasmo e impressionado com as pessoas capazes de fazê-lo. Algum velho desejo de domínio sobre as pessoas se rompeu e sumiu. A vida ao meu redor era um sono solene, e eu vivia das cartas que escrevia a uma garota de outra cidade. Um homem não se recupera desses solavancos — torna-se uma pessoa diferente, e, por fim, a nova pessoa encontra coisas novas com que se preocupar.
O outro episódio paralelo à minha situação atual aconteceu depois da guerra, quando mais uma vez expus demais meu flanco. Foi um daqueles amores trágicos fadados ao fracasso pela falta de dinheiro, e um dia a garota acabou com ele na base do bom senso. Durante um longo verão de desespero, escrevi um romance em vez de cartas, de modo que no fim as coisas deram certo, mas deram certo para uma pessoa diferente. O homem que, com dinheiro tilintando no bolso, casou-se com ela um ano depois haveria de sempre alimentar uma suspeita pertinaz, uma animosidade, em relação à classe ociosa — não a convicção de um revolucionário, mas o ódio fumegante de um camponês. Desde então nunca fui capaz de parar de me perguntar de onde vinha o dinheiro de meus amigos, nem deixar de pensar que houve um tempo em que algum droit du seigneur poderia ter me obrigado a entregar minha garota a um deles.
Durante dezesseis anos vivi muito como essa última pessoa, desconfiando dos ricos, mas, no entanto, trabalhando pelo dinheiro com o qual poderia imitar a mobilidade e o refinamento com que alguns deles levavam a vida. Durante essa época tive muitos cavalos habituais abatidos a tiro. Lembro-me dos nomes de alguns: Orgulho Ferido, Expressão Frustrada, Descrença, Ostentação, Golpe Duro, Nunca Mais. E passado algum tempo eu já não tinha vinte e cinco anos, e, depois, nem mesmo trinta e cinco, e nada era tão bom. Em todos esses anos, porém, não me lembro de um só momento de desânimo. Vi homens honestos em estados de espírito de tristeza suicida — alguns desistiram e morreram; outros se ajustaram e tiveram mais sucesso do que eu; mas meu moral nunca caiu abaixo do nível de sentir repulsão por mim mesmo, o que acontecia quando eu dava um feio espetáculo pessoal. O desgosto não está ligado, necessariamente, ao desânimo. O desânimo tem um germe próprio, e é tão diferente do desgosto como a artrite é diferente de uma junta dura.
Quando um céu diferente toldou o sol na primavera passada, de início não o relacionei ao que tinha acontecido havia quinze ou vinte anos. Só aos poucos percebi certa semelhança familiar — uma exposição exagerada do flanco, um desperdício constante de energia; uma utilização de recursos físicos que eu não tinha, como um homem que saca a descoberto em sua conta bancária. Esse golpe teve um impacto mais violento que os outros dois, mas era da mesma espécie — uma sensação de que eu estava, ao crepúsculo, num lugar perigoso e deserto, com uma espingarda vazia na mão e os alvos abatidos. Nenhum problema definido — apenas um silêncio quebrado só pelo som de minha própria respiração.
Havia nesse silêncio uma vasta irresponsabilidade em relação a todas as obrigações, um esvaziamento de todos os meus valores. Uma crença apaixonada na ordem, um menosprezo dos motivos e das consequências em favor de palpites e profecias, uma sensação de que a habilidade e a dedicação teriam seu lugar em qualquer mundo — uma a uma, essas e outras convicções foram eliminadas. Percebi que o romance, que em minha maturidade era o meio mais forte e mais ágil para transmitir reflexões e emoções de um ser humano para outro, estava se subordinando a uma arte mecânica e coletivista que, nas mãos dos mercadores de Hollywood ou nas dos idealistas russos, só era capaz de refletir o pensamento mais trivial, a emoção mais óbvia. Era uma arte em que as palavras estavam subordinadas a imagens, em que a personalidade era desgastada até a inevitável marcha lenta da colaboração. Já em 1930 tive a premonição de que o cinema sonoro tornaria até o romancista mais bem-sucedido tão arcaico quanto o cinema mudo. As pessoas ainda liam, nem que fosse apenas o livro do mês do professor Canby1 — crianças curiosas fuçavam o lodo do sr. Tiffany Thayer nas bibliotecas adjuntas a farmácias —, mas havia uma exasperante indignidade, que para mim se tornara quase uma obsessão, em ver o poder da palavra escrita subordinado a outro poder, este mais coruscante, mais grosseiro...
Falo disso como um exemplo do que me perseguia durante a longa noite — isso era algo que eu não conseguia nem aceitar nem combater, algo que tendia a tornar meus esforços obsoletos, tal como as cadeias de grandes empresas acabaram com os pequenos lojistas, uma força exterior, invencível...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















