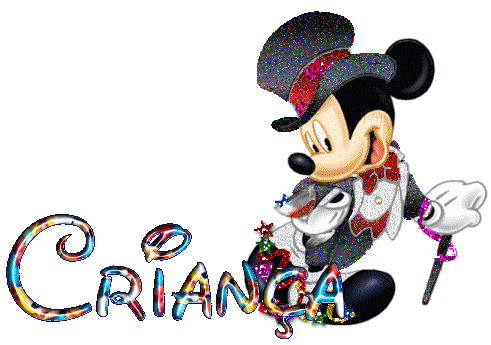Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




“Porque Não Sou Cristão”
AQUILO EM QUE CREIO
Aquilo em que creio foi publicado, em forma de opúsculo, em 1925. No prefácio, escreveu Bertrand Russell: “Procurei dizer o que penso quanto ao lugar do homem no universo e de suas possibilidades quanto a uma vida satisfatória... Nos assuntos humanos, podemos ver que há forças que contribuem para a felicidade, e forças que contribuem para a infelicidade. Não sabemos quais delas prevalecerão, mas, para que possamos agir sensatamente, precisamos ter conhecimento de ambas”. No processo instaurado, em Nova York, contra Bertrand Russell, em 1940, Aquilo em que creio foi um dos livros apresentados como prova de que Russell não estava em condições de ensinar no City College. Trechos desse livro foram amplamente citados pela imprensa, de modo a dar, em geral, uma falsa impressão quanto às opiniões de Russell.
I. A NATUREZA E O HOMEM
Homem é uma parte da natureza, e não algo que contraste com ela. Seus pensamentos e seus movimentos corporais seguem as mesmas leis que descrevem os movimentos das estrelas e dos átomos. O mundo físico é amplo comparado com o homem – mais amplo do que se supunha no tempo de Dante, mas não tão grande quanto parecia há cem anos. Tanto para cima como para baixo, tanto quanto ao que se refere ao grande como ao pequeno, a ciência parece estar atingindo certos limites. Pensa-se que a extensão do universo seja finita no espaço, e que a luz possa percorrê-lo em algumas poucas centenas de milhões de anos. Pensa-se que a matéria consiste de elétrons e prótons, os quais são de tamanho finito e dos quais há somente um número finito no mundo. É provável que suas transformações não sejam contínuas, como se costumava supor, mas se processem por meio de repuxões, os quais não são nunca menores do que um determinado repuxão. As leis dessas transformações podem ser, ao que parece, resumidas num pequeno número de princípios muito gerais, os quais determinam o passado e o futuro do mundo, ao conhecer-se qualquer pequena parte de sua história.
A ciência física está, assim, se aproximando da fase em que será completa e, por conseguinte, desinteressante. Admitidas às leis que governam os movimentos dos elétrons e dos prótons, o resto não passa de geografia – uma coleção de fatos particulares referentes à sua distribuição por determinada parte da história do mundo. O número total de fatos geográficos requeridos para se determinar à história do mundo é, provavelmente, finito; teoricamente, poderiam todos ser anotados num grande livro conservado em Somerset House junto a uma máquina de calcular que, por meio de uma manivela, permitiria ao pesquisador descobrir fatos ocorridos em outras épocas que não aquelas registradas. É difícil imaginar-se algo menos interessante ou que se diferencie mais dos apaixonados deleites da descoberta incompleta. É como se se galgasse uma alta montanha e não se encontrasse nada no topo senão um restaurante onde se vendesse gengibirra uma montanha cercada de névoa, mas equipada com aparelhos de radiotelegrafia. Talvez no tempo de Ahmes a tábua de multiplicação fosse excitante.
O homem faz parte deste mundo físico, em si mesmo desinteressante. Seu corpo, como qualquer outra matéria, é composto de elétrons e prótons, os quais, tanto quanto sabemos, obedecem às mesmas leis que compõem parte dos animais e das plantas. Há os que afirmam que a fisiologia não pode ser reduzida à física, mas seus argumentos não são muito convincentes e parece prudente supor-se que eles estão enganados. Aquilo que chamamos de nossos “pensamentos” parece depender de trilhos existentes no cérebro, do mesmo modo que as viagens dependem de rodovias e de estradas de ferro.
A energia usada em nossos pensamentos parece ter uma origem química; uma deficiência de iodo, por exemplo, transformará um homem inteligente num idiota. Os fenômenos mentais parecem estar ligados a uma estrutura material. Se assim for, não podemos supor que um elétron ou um próton solitário possa “pensar”; seria o mesmo que imaginar que um indivíduo pudesse, sozinho, jogar uma partida de futebol. Tampouco podemos supor que o pensamento individual sobrevive à morte corporal, já que esta destrói a estrutura do cérebro e dissipa a energia utilizada pelo mesmo.
Deus e a imortalidade, dogmas centrais da religião cristã, não encontram apoio na ciência. Não se pode dizer que uma ou outra dessas doutrinas seja essencial à religião, uma vez que nenhuma delas é encontrada no budismo. (Quanto à imortalidade, esta afirmação, feita de forma inadequada, poderia ser enganosa, mas, em última análise, é correta). Nós, porém, no Ocidente, passamos a considerá-las como sendo o mínimo irreduzível da teologia. Não há dúvida de que as pessoas continuarão a alimentar tais crenças, pois que estas são agradáveis, assim como é agradável pensar que somos virtuosos e que nossos inimigos são maus. Quanto a mim, não consigo ver nenhuma base para qualquer uma delas. Não pretendo ser capaz de provar que não existe Deus. Tampouco posso provar que Satanás é uma ficção. É possível que o Deus cristão exista – como também talvez possam existir os deuses do Olimpo, do Egito antigo ou de Babilônia. Mas nenhuma dessas hipóteses é mais provável do que qualquer outra: permanecem fora da região mesmo do conhecimento provável e, por conseguinte, não há razão para que consideremos qualquer uma delas. Não me estenderei sobre esta questão, pois que já tratei dela alhures1.
A questão da imortalidade pessoal firma-se em base um tanto diferente. Aqui, é possível a evidência em ambos os sentidos. As criaturas humanas fazem parte do mundo cotidiano de que a ciência se ocupa, e as condições que determinam sua existência são verificáveis. Uma gota de água não é imortal; pode converter-se em oxigênio e hidrogênio. Se, por conseguinte, uma gota de água afirmasse que possuía uma qualidade aquosa que sobreviveria à sua dissolução, nós nos sentiríamos inclinados a mostrar-nos céticos. Do mesmo modo: sabemos que o cérebro não é imortal, e que a energia organizada de um corpo vivo é desmobilizada, por assim dizer; com a morte, não se achando, pois, disponível para uma ação coletiva. Todas as evidências demonstram que aquilo que encaramos como sendo a nossa vida mental está ligado à estrutura do cérebro e à energia corporal organizada. Por conseguinte, é racional supor-se que a vida mental cesse, ao cessar a vida do corpo. O argumento baseia-se apenas em probabilidade, mas é tão convincente como aqueles em que se baseiam quase todas as conclusões científicas.
Há vários terrenos em que esta conclusão poderia ser atacada. A pesquisa científica declara haver evidência científica verdadeira quanto à sobrevivência e, sem dúvida, a sua maneira de proceder é, em princípio, cientificamente correta. Provas dessa espécie poderiam ser tão esmagadoras, que ninguém, dotado de espírito científico, seria capaz de rejeitá-las. A importância a ser atribuída à evidência, porém, deve depender da probabilidade antecedente da hipótese da sobrevivência. Há sempre maneiras diferentes de se explicar qualquer conjunto de fenômenos e, destes, devemos preferir aquele que é, antecedentemente, menos improvável. As pessoas que já pensam que é bem provável que sobrevivamos à morte, estarão prontas a encarar esta teoria como sendo a melhor explicação dos fenômenos psíquicos. Aqueles que, baseados em outras razões, encaram esta teoria como pouco plausível, procurarão outras explicações. De minha parte, considero as provas até agora apresentadas pela pesquisa psíquica, a favor da sobrevivência, muito mais fracas do que as provas fisiológicas apresentadas pelo outro lado. Mas admito plenamente que poderiam, a qualquer momento, tornar-se mais fortes e, nesse caso, não seria científico descrer da sobrevivência.
A sobrevivência à morte corporal é, porém, assunto diferente da imortalidade: poderá significar apenas um adiamento da morte psíquica. É na imortalidade que os homens desejam acreditar. Os que crêem na imortalidade objetarão aos argumentos fisiológicos, tais como os que venho usando, sob alegação de que alma e corpo são coisas inteiramente díspares, e que a alma é algo completamente diverso de suas manifestações através de nossos órgãos corporais. Creio que isto não passa de uma superstição metafísica. Tanto “espírito” como “matéria” são, para certos propósitos, termos convenientes, mas não constituem realidades supremas. Os elétrons e os prótons são, como a alma, ficções lógicas; cada qual é realmente uma história, uma série de ocorrências, e não uma entidade persistente e isolada. No caso da alma, isso é óbvio, tomando-se os fatos relativos ao desenvolvimento. Quem quer que considere a concepção, a gestação e a infância, não pode seriamente acreditar que a alma seja algo indivisível, perfeito e completo durante todo o seu processo. É evidente que ela se desenvolve como o corpo, e que provém tanto do espermatozóide quanto do óvulo, de modo que não pode ser indivisível. Isto não é materialismo: é simplesmente o reconhecimento de que tudo que é interessante constitui uma questão de organização e não de substância primacial.
Os metafísicos apresentaram inumeráveis argumentos no sentido de provar que a alma deve ser imortal. Há um simples teste pelo qual todos esses argumentos podem ser demolidos. Todos eles provam, igualmente, que a alma deve penetrar todo o espaço. Mas, assim como não nos interessa tanto sermos gordos como viver longos anos, assim também nenhum dos referidos metafísicos jamais percebeu essa aplicação de seus raciocínios. Eis aqui um exemplo do poder surpreendente do desejo, capaz de acorrentar mesmo homens competentes a ilusões que, de outro modo, seriam imediatamente evidentes. Se não temêssemos a morte, não creio que a idéia da imortalidade nos houvesse jamais ocorrido.
O medo constitui a base do dogma religioso, bem como de muitas outras coisas na vida humana. O medo dos seres humanos, individual ou coletivamente, domina grande parte de nossa vida social, mas é o medo da Natureza que faz com que surja a religião. A antítese entre espírito e matéria é, como já vimos, algo mais ou menos ilusório; mas há uma outra antítese ainda mais importante – isto é, a que existe entre as coisas que podem ser afetadas pelos nossos desejos e as coisas que não podem ser por eles afetadas. A linha divisória entre essas coisas não é nítida nem imutável: à medida que a ciência progride, mais e mais coisas são colocadas sob o controle humano. Não obstante há coisas que permanecem, definitivamente, do outro lado. Entre estas, acham-se os grandes fatos de nosso mundo – a espécie de fatos de que se ocupa a astronomia. São apenas os fatos que ocorrem sobre a superfície da terra, ou próximo desta, os que podemos, até certo ponto, modelar de acordo com os nossos desejos. E, mesmo na superfície da terra, os nossos poderes são muito limitados. Antes de mais nada, não podemos evitar a morte, embora possamos, não raro, retardá-la.
A religião é uma tentativa no sentido de vencer-se tal antítese. Se o mundo é controlado por Deus, e se Deus pode ser influenciado pela prece, participamos um tanto de sua onipotência. Em outros tempos, os milagres se verificavam em resposta à prece. Isto ainda ocorre na Igreja Católica, mas os protestantes perderam tal poder. Contudo, é possível dispensar-se os milagres, já que a Providência decretou que a operação das leis naturais produzirá os melhores resultados. Assim, a crença em Deus serve para humanizar o mundo da Natureza e fazer com que os homens sintam que as forças físicas são, realmente, suas aliadas. Do mesmo modo, a imortalidade afasta o pavor da morte. As pessoas que acreditam que, ao morrer, herdarão a bem-aventurança eterna, talvez possam encarar a morte sem terror, embora, felizmente para os médicos, isso nem sempre aconteça. Tal crença, no entanto, abranda um pouco o medo dos homens, mesmo quando não consegue aquietá-lo inteiramente.
A religião, tendo a sua origem no terror, dignificou certas espécies de medo, fazendo com que não sejam encaradas como coisas vergonhosas. Nisso, prestou à humanidade um grande desserviço, pois que todo medo é um mal. Penso que, quando morrer, apodrecerei, e que nada do meu eu sobreviverá. Não sou jovem e amo a vida. Mas desdenharia tremer de terror ante a idéia do aniquilamento. A felicidade não é menos felicidade nem menos verdadeira por ter de chegar a um fim; tampouco o pensamento e o amor perdem o seu valor por não serem eternos. Muitos homens se portaram com altivez no cadafalso – e, certamente, essa mesma altivez deveria ensinar-nos a pensar com acerto no lugar do homem no mundo. Mesmo que as janelas abertas da ciência nos façam, a princípio, tremer, após a cálida e acolhedora atmosfera íntima dos mitos humanizadores tradicionais, o ar puro, no fim, nos torna vigorosos e, o que é mais, os grandes espaços não deixam de ter o seu próprio esplendor. A filosofia da Natureza é uma coisa; a filosofia do valor, coisa inteiramente diversa. Nada, senão dano, poderá advir do fato de a gente as confundir. O que achamos bom, aquilo de que gostamos, nada tem a ver com aquilo que é – e que é questão que compete à filosofia da natureza. Por outro lado, ninguém nos proíbe de dar valor a isto ou a aquilo, sob a alegação de que o mundo não humano não dá valor a tais coisas, nem, tampouco, podemos ser compelidos a admirar algo porque é “lei da natureza”. Somos, indubitavelmente, parte da natureza, que produziu nossos desejos, nossas esperanças e nossos temores, segundo lei que os físicos começam a descobrir. Neste sentido, somos parte da natureza, estamos subordinados a ela, somos resultado de leis naturais e, em última análise, suas vítimas.
A filosofia da natureza não deve ser indevidamente terrena; para ela, a terra não passa de um dos menores planetas de uma das menores estrelas da Via Láctea. Seria ridículo desvirtuar a filosofia da natureza a fim de produzir resultados que agradassem aos minúsculos parasitas deste insignificante planeta. O vitalismo como filosofia, bem como o evolucionismo, revelam, a este respeito, falta de senso de proporção e de pertinência lógica. Encaram os fatos da vida, que nos são pessoalmente interessantes, como tendo um significado cósmico e não um significado que se limita à superfície da terra. O otimismo e o pessimismo, como filosofias cósmicas, revelam o mesmo humanismo ingênuo. O universo, tanto quanto o conhecemos através da filosofia da natureza, não é bom nem mau, e não se ocupa em tornar-nos felizes ou infelizes. Todas essas filosofias nascem da importância que o homem atribui a si próprio, e a melhor maneira de corrigi-las é mediante o estudo de um pouco de astronomia.
Todavia, na filosofia do valor, inverte-se a situação. A natureza é apenas uma parte daquilo que podemos imaginar; todas as coisas, reais ou imaginárias, podem ser por nós apreciadas, e não existe padrão algum externo que mostre que a nossa apreciação seja errada. Somos os árbitros supremos e irrefutáveis do valor e, no mundo do valor, a natureza é apenas uma parte. Assim, neste mundo, somos maiores do que a natureza. No mundo dos valores, a natureza é, em si, neutra, nem boa nem má, não merecendo nem admiração nem censura. Somos nós que criamos o valor, o qual é conferido pelos nossos desejos. Nesta esfera, somos reis, e rebaixamos a nossa condição de reis se nos curvarmos ante a natureza. Cabe a nós determinar qual a vida satisfatória, e não à Natureza nem mesmo à Natureza personificada do Deus.
II. A VIDA VIRTUOSA
Tem havido, em épocas diversas e entre povos diferentes, muitas e variadas concepções quanto ao que se entende por vida virtuosa. Até certo ponto, tais diferenças eram passíveis de argumentação; foi então que os homens divergiram em suas opiniões quanto aos meios de se obter determinado fim. Há quem ache que a prisão é uma boa maneira de evitar-se o crime; outros afirmam que a educação seria melhor. Uma divergência desta espécie pode ser decidida mediante provas suficientes. Mas certas divergências não podem ser provadas dessa maneira. Tolstoi condenava todas as guerras; outros afirmavam que a vida de um soldado que combatia pelo direito era muito nobre. Havia aqui, provavelmente, uma divergência real quanto aos fins que se tinham em vista. Aqueles que exaltam o soldado consideram, em geral, como sendo, em si, uma boa coisa o castigo que se inflige aos pecadores. Tolstoi não pensava assim. Em tal assunto, não é possível argumento algum. Não posso, por conseguinte, provar que a minha opinião quanto à vida virtuosa seja correta; posso, apenas, expor o meu ponto de vista, esperando que o maior número possível de pessoas concorde com ele. Eis aqui a minha opinião:
A vida virtuosa é uma vida inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento.
Tanto o conhecimento como o amor são, ambos, indefinidamente extensíveis; por conseguinte, por melhor que possa ser uma vida, pode-se sempre imaginar uma vida melhor. Nem o amor sem o conhecimento, nem o conhecimento sem o amor, podem produzir uma vida virtuosa. Na Idade Média, quando a peste surgia numa localidade, os sacerdotes aconselhavam à população se reunisse nas igrejas e orasse pela sua salvação. O resultado disso era que a infecção se disseminava com extraordinária rapidez entre as multidões de suplicantes. Eis aí um exemplo de amor sem conhecimento. A última guerra proporcionou-nos um exemplo de conhecimento sem amor. Em cada um dos casos, o resultado foi uma mortalidade em grande escala.
Embora tanto o amor como o conhecimento sejam necessários, o amor é, em certo sentido, mais fundamental, pois que levará as pessoas inteligentes a buscar o conhecimento, a fim de descobrir de que maneira poderão beneficiar aqueles a quem amam. Mas, se as pessoas não são inteligentes, contentar-se-ão em acreditar naquilo que lhes disseram, e poderão fazer o mal, apesar de sua mais genuína bondade. A medicina fornece, talvez o melhor exemplo daquilo a que me refiro. Um médico competente é mais útil a um paciente do que ó seu devotado amigo, e os progressos nos conhecimentos médicos fazem mais em benefício da saúde da comunidade do que a filantropia mal informada. Não obstante, uma certa bondade é, mesmo aqui, essencial, para que não apenas os ricos possam beneficiar-se com as descobertas científicas.
O amor é uma palavra que abrange grande variedade de sentimentos – e emprego-a aqui intencionalmente, pois que desejo incluir todos eles a amor como emoção – que é aquele a que me refiro, pois o amor “por princípio” não me parece autêntico – move-se entre dois pólos: de um lado, puro deleite na contemplação; de outro, bondade pura. Quanto ao que concerne a objetos inanimados, entra apenas o deleite. Não podemos sentir bondade para com uma paisagem ou uma sonata. Este tipo de prazer é, presumivelmente, a fonte da arte. É mais forte, via de regra, nas crianças de tenra idade que nos adultos, que tendem a encarar os objetos com espírito utilitarista. Desempenham papel importante em nossos sentimentos para com os seres humanos, alguns dos quais possuem encanto e alguns o contrário, quando considerados simplesmente como objetos que contemplação estética.
O pólo oposto do deleite é a bondade pura. Houve homens que sacrificaram suas vidas para ajudar a leprosos. Em tal caso, o amor que sentiam não poderia ter contido qualquer elemento de prazer estético. O amor materno e paterno é, em geral, acompanhado de prazer ante o aspecto do filho, mas permanece forte mesmo quando este elemento se encontra inteiramente ausente. Pareceria estranho chamar-se “bondade” ao interesse de uma mãe por um filho enfermo, pois que, habitualmente, empregamos essa palavra para descrever uma emoção ligeira, a qual, nove em dez vezes, não passa de embuste. Mas é difícil encontrar-se uma outra palavra para se descrever o nosso desejo quanto ao bem-estar de outrem. É verdade que um desejo desta espécie poderá atingir qualquer grau de intensidade nos casos de amor por parte dos pais. Em outros casos, é muito menos intenso; dir-se-ia, com efeito, que todas as emoções de fundo altruístico são uma espécie de transbordamento de sentimentos paternais ou, às vezes, uma sublimação de tais sentimentos. À falta de uma palavra melhor, chamarei “bondade” a essa emoção. Mas quero deixar claro que estou falando de uma emoção, e não de um princípio, e que nela não incluo nenhum sentimento de superioridade, como os que se acham, às vezes, associados a essa palavra. A palavra “simpatia” exprime parte do que quero dizer, mas deixa de lado o elemento de atividade que desejo incluir.
O amor, em sua mais ampla acepção, é uma combinação indissolúvel de dois elementos: deleite e desejo de que os outros sejam felizes. O prazer dos pais, diante de um filho belo e bem sucedido, combina esses dois elementos. O mesmo ocorre com o amor sexual, em sua melhor expressão. Mas, no amor sexual, a bondade só existirá se houver posse segura, pois que, do contrário, o ciúme a destruirá, embora talvez aumentando o prazer da contemplação. O deleite, sem que se deseje a felicidade de outrem, pode ser cruel; desejar-se a felicidade de outrem sem que se sinta deleite, é um sentimento que tende, facilmente, a converter-se numa atitude fria e um tanto superior. Uma pessoa que deseja ser amada quer ser objeto de um amor que contenha ambos os elementos, exceto em casos de extrema debilidade, como na tenra infância ou durante uma enfermidade grave. Em tais casos, a bondade talvez seja tudo o que se deseja. Inversamente, nos casos de extremo vigor, a admiração é mais desejada do que a bondade: é o estado de espírito dos potentados e das mulheres belas e famosas. Só desejamos bem aos outros na proporção em que nós próprios nos sentimos necessitados de ajuda ou corremos perigo de que eles nos causem dano. Pelo menos, essa seria a lógica biológica da situação, mas isso não é bem verdade quanto ao que se refere à vida. Desejamos afeto a fim de fugir ao sentimento de solidão, a fim de sermos, como dizemos, “compreendidos”. Isto é uma questão de simpatia, e não simplesmente de bondade; e pessoa cujo afeto nos é satisfatório não nos deseja apenas o bem, mas deve saber, também, em que consiste a nossa felicidade. Mas isto pertence ao outro elemento da vida virtuosa, isto é, ao conhecimento.
Num mundo perfeito, cada criatura efêmera deveria ser, para as demais, objeto do mais amplo amor, composto de deleite, bondade e compreensão inextricavelmente ligados. Não se segue daí que, neste mundo atual, devamos tentar ter tais sentimentos para com todos aqueles que encontramos. Há muitos seres ante os quais não podemos sentir deleite algum, porque são repulsivos; se fôssemos violentar a nossa natureza, procurando ver neles beleza, simplesmente embotaríamos a nossa sensibilidade para as coisas que nos parecem realmente belas. Sem que mencionemos as criaturas humanas, existem pulgas, percevejos e piolhos. Precisaríamos estar em situação tão difícil como o Ancient Mariner2, para que pudéssemos sentir prazer em contemplar tais criaturas. Certos santos, é verdade, as chamaram de “pérolas de Deus”, mas o que, de fato, encantava tais homens era a oportunidade de mostrar a sua própria santidade.
A bondade é mais fácil de estender-se amplamente, mas mesmo a bondade tem seus limites. Se um homem quisesse casar com uma dama, não deveria achar que seria melhor afastar-se dela, se algum outro homem também fosse candidato à sua mão: deveria encarar tal fato como uma competição leal. Contudo, seus sentimentos para com um rival não poderiam ser inteiramente bondosos. Penso que em todas as descrições da vida satisfatória aqui na terra, deveríamos adotar uma certa base de vitalidade e de instinto animal. Sem isso, a vida toma-se insípida e desinteressante. A civilização deveria ser algo que contribuísse para isso, e não algo que o substituísse. O santo ascético e o sábio desapaixonado deixam de ser, sob este aspecto, seres humanos completos. Um pequeno número deles poderá enriquecer uma comunidade; mas um mundo composto de tais criaturas morreria de tédio.
Tais considerações conduzem a uma certa ênfase quanto ao elemento de deleite como ingrediente do amor mais satisfatório. O deleite, no mundo atual, é inevitavelmente seletivo, e impede-nos de ter os mesmos sentimentos para com toda a humanidade. Quando surgem conflitos entre o deleite e a vontade, os mesmos devem, via de regra, ser decididos por compromisso e não mediante uma rendição completa de um dos dois. O instinto tem os seus direitos e, se o violentarmos além de certo ponto, ele se vinga de maneiras sutis. Por conseguinte, ao desejar uma vida virtuosa, devemos ter em mente os limites da possibilidade humana. Também aqui, contudo, somos levados de volta à necessidade de conhecimento.
Quando falo de conhecimento como ingrediente da vida satisfatória, não me refiro ao conhecimento ético, mas ao conhecimento científico e ao conhecimento de fatos particulares. Não creio que haja, estritamente falando, coisa tal como conhecimento ético. Se desejamos atingir algum fim, o conhecimento poderá mostrar-nos os meios, e esse conhecimento poderá passar, incorretamente, por ético. Mas não creio que possamos decidir que espécie de conduta seja certa ou errada, exceto com referência às suas prováveis conseqüências. Dado um fim a ser alcançado, cabe à ciência descobrir de que modo alcançá-lo. Todas as regras morais devem ser examinadas no sentido de se saber se tendem a realizar os fins que desejamos. Digo fins que desejamos, e não fins que devíamos desejar. O que “deveríamos” desejar é simplesmente o que alguma outra pessoa deseja que desejemos. Em geral, é o que as autoridades querem que desejemos – pais, mestres, policiais e juízes. Se me disserdes que “deveis fazer isto e aquilo”, a força motriz de vossas observações reside no desejo de que eu vos conceda a minha aprovação – juntamente, é possível, com as recompensas ou castigos ligados à minha aprovação ou desaprovação. Já que todo procedimento nasce do desejo, é claro que as noções éticas não podem ter importância, exceto se tiverem influência sobre o desejo. Fazem isso mediante o desejo de aprovação e o medo da desaprovação. Estas, são forças sociais poderosas e procuraremos, naturalmente, fazer com que se coloquem de nosso lado, se quisermos realizar qualquer propósito social. Quando digo que a moralidade da conduta há de ser julgada pelas suas prováveis conseqüências, quero dizer que desejo ver aprovada uma conduta que, provavelmente, realizará os propósitos sociais que desejamos, e que reprovará a conduta oposta. Presentemente, não se faz tal coisa; há certas normas tradicionais segundo as quais a aprovação ou a desaprovação são concedidas sem se levar em conta, de modo algum, as conseqüências. Mas este é um tópico que tratarei mais adiante.
A superfluidade da ética teórica, é, em casos simples, óbvia. Suponhamos, por exemplo, que o nosso filho está doente. O amor faz com que desejemos curá-lo, e a ciência nos diz de que maneira fazê-lo. Não existe uma fase intermediária de teoria ética, onde se demonstre que seria melhor que o nosso filho se curasse. Nosso ato nasce diretamente do desejo de alcançar um fim, juntamente com o conhecimento dos meios necessários. Isto é igualmente verdade quanto ao que concerne a todos os atos, quer sejam bons ou maus. Os fins diferem e o conhecimento é mais adequado em certos casos do que em outros. Mas não há maneira alguma concebível de fazer-se com que as pessoas façam coisas que não desejam fazer. O que é possível é modificar os seus desejos mediante um sistema de recompensas e penalidades, entre os quais a aprovação e a desaprovação social não sejam, de modo algum, menos poderosas. A questão para o moralista legislativo é, por conseguinte, esta: De que maneira poderá esse sistema de recompensas e punições ser organizado, de modo a assegurar o máximo daquilo que é desejado pela autoridade legislativa? Se digo que a autoridade legislativa t,em maus desejos, quero simplesmente significar que seus desejos entram em conflito com aqueles de certo setor da comunidade a que pertenço. Fora dos desejos humanos, não há padrão moral.
Assim, o que distingue a ética da ciência não é nenhuma espécie de conhecimento especial, mas simplesmente o desejo. O conhecimento requerido pela ética é exatamente como o conhecimento em outros setores; o que tem de peculiar é que certos fins são desejados, e que a conduta correta é o que conduz a eles. Naturalmente, para que a definição de conduta correta possa exercer grande sedução, os fins devem ser aqueles desejados por grande parte da humanidade. Se eu definisse a conduta correta como sendo aquela que aumenta a minha própria renda, os leitores não concordariam. Toda a eficácia de qualquer argumento ético reside em sua parte científica, isto é, na prova de que uma espécie de conduta, antes que qualquer outra, é o meio que conduz a um fim amplamente desejado. Faço distinção, porém, entre argumento ético e educação moral. Esta última consiste em fortalecer certos desejos e enfraquecer outros. Este é um processo inteiramente diferente, que será discutido, mais adiante, separadamente.
Podemos, agora, explicar mais exatamente o sentido da definição de vida virtuosa com que começa este capítulo. Quando disse que a vida satisfatória consiste no amor guiado pelo conhecimento, o desejo que me impeliu foi o desejo de viver uma tal vida o mais amplamente possível e de ver os outros vivê-la – e o conteúdo lógico de tal afirmação é que, numa comunidade em que os homens vivam desse modo, mais desejos serão satisfeitos do que em uma comunidade onde haja menos amor e menos conhecimento. Não quero dizer que tal vida seja “virtuosa” ou que o seu oposto seja uma vida “pecaminosa”, pois que, para mim, esses são conceitos que parecem não possuir qualquer justificação científica.
III. REGRAS MORAIS
A necessidade prática da moral surge do conflito de desejos, quer de pessoas diferentes ou da mesma pessoa em ocasiões diferentes ou, mesmo, na mesma ocasião. Um homem deseja beber e também achar-se apto para o seu trabalho na manhã seguinte. Julgamo-lo imoral, se ele adotar o curso que lhe proporcione a menor satisfação total de seu desejo. Pensamos mal das pessoas que são extravagantes ou imprudentes, mesmo que elas não prejudiquem senão a si próprias. Bentham supunha que a moralidade, em seu todo, poderia derivar do “interesse próprio esclarecido”, e que uma pessoa que sempre agia tendo em vista a sua máxima satisfação agiria sempre, afinal de contas, acertadamente. Não posso aceitar tal opinião. Existiram tiranos que experimentavam requintado prazer ao presenciar a aplicação de torturas. Não posso louvar tais homens quando a prudência os levava a poupar a vida de suas vítimas com o objetivo de infligir-lhes novos sofrimentos no dia seguinte. Não obstante, outras coisas sendo iguais, a prudência faz parte da vida satisfatória. Mesmo Robinson Crusoe teve ocasião de praticar a diligência, o autodomínio e a previdência, os quais devem ser tidos como qualidades morais, já que aumentam a sua satisfação total, sem causar, por outro lado, danos aos outros. Esta parte da moral desempenha papel importante na educação das crianças, pouco inclinadas a pensar no futuro. Se fosse mais praticada na vida futura, o mundo converter-se-ia, rapidamente, num paraíso, pois que isso bastaria plenamente para evitar guerras, que são atos de paixão, e não de razão. Não obstante, apesar da importância da prudência, não é ela uma parte interessante da moral. Tampouco é a parte que suscita problemas intelectuais, já que não precisa recorrer a nada senão ao interesse pessoal.
A parte da moralidade que não se acha incluída na prudência é, em sua essência, análoga ao direito ou aos estatutos de um clube. É um método que permite aos homens viverem juntos numa comunidade apesar da possibilidade de que seus desejos possam entrar em conflito. Mas, aqui, são possíveis dois métodos diferentes. Há o método do direito criminal, que tem por objetivo uma harmonia meramente externa, fazendo com que recaiam conseqüências desagradáveis sobre atos que frustram os desejos de outros homens em determinados sentidos. Existe, também, o método da censura social: ser-se julgado mal pela própria sociedade a que se pertence constitui uma forma de punição. Para evitar tal coisa, a maioria das pessoas evita que se saiba que transgridem o código do círculo social de que fazem parte. Mas há um outro método, mais fundamental, e muito mais satisfatório quando é bem sucedido. Consiste em modificar os caracteres e os desejos dos homens, de modo a reduzir ao mínimo as ocasiões de conflito, fazendo com que o sucesso dos desejos de um homem se harmonize, tanto quanto possível, com os desejos de outro. Eis aí porque o amor é melhor do que o ódio: porque produz harmonia, ao invés de conflito, nos desejos das pessoas interessadas. Duas pessoas, entre as quais existe amor, vencem ou fracassam juntas, mas, quando duas pessoas se odeiam, o êxito de uma constitui o malogro da outra.
Se estávamos certos, ao dizer que a vida satisfatória é inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento, é claro que o código moral de qualquer comunidade não é supremo nem auto- suficiente, mas que deve ser examinado, para se ver se é tal como o que a bondade e o bom senso teriam decretado. Os códigos morais nem sempre foram isentos de falhas. Os astecas consideravam como dever penoso comer carne humana, com receio de que a luz do sol pudesse diminuir. Erraram em sua ciência – e talvez houvessem percebido o erro científico, se tivessem sentido qualquer amor pelas vítimas de seus sacrifícios. Certas tribos encerram as meninas no escuro dos 10 aos 17 anos, receosas de que a luz do sol possa engravidá-las. Mas será que, com toda a certeza, os nossos modernos códigos de moral não contêm nada que se assemelhe a essas práticas selvagens? Será que proíbem apenas coisas que sejam realmente prejudiciais ou, pelo menos, tão abomináveis que nenhuma pessoa decente pudesse defendê-las? Não estou muito certo disso.
A moralidade corrente é uma curiosa mistura de utilitarismo e superstição, mas a parte supersticiosa, como é natural, é a que tem mais força, já que a superstição constitui a origem das regras morais. Originariamente, pensava-se que certos atos desagradavam aos deuses, sendo os mesmos proibidos por lei, por se julgar que a ira divina poderia recair sobre a comunidade e não apenas sobre os indivíduos culpados. Surgiu daí a concepção de pecado, como coisa desagradável a Deus. Não se pode apontar qualquer ação pela quais certos atos devessem ser assim desagradáveis; seria muito difícil dizer-se, por exemplo, por que motivo era desagradável o fato de uma criança ser cozida no leite de sua própria mãe. Mas ficou-se sabendo, pela Revelação, que assim era. As ordens Divinas têm sido, às vezes, curiosamente interpretadas. Dizem-nos, por exemplo, que não devemos trabalhar aos sábados, e os protestantes interpretam isso como significando que não devemos divertir-nos nos domingos. Mas a mesma autoridade divina é atribuída tanto à nova como à antiga proibição.
É evidente que um homem dotado de uma visão científica da vida não pode sentir-se intimidado diante dos textos da Escritura ou dos ensinamentos da Igreja. Não se contentará em dizer que “este ou aquele ato constitui pecado, e que isso põe fim ao assunto”. Investigará se tal ato causa mesmo algum dano, ou se, ao contrário, a crença de que constitui pecado é que é nociva. E verificará que, principalmente no que concerne ao sexo, a nossa moralidade corrente contém muita coisa cuja origem é puramente supersticiosa. Verificará que tal superstição, como a dos astecas, acarreta desnecessária crueldade, e que seria inteiramente rejeitada, se as pessoas alimentassem, na verdade, sentimentos generosos para com o seu próximo. Mas os defensores da moralidade tradicional raramente são pessoas de corações generosos, como se pode ver pelo amor ao militarismo revelado por dignitários da Igreja. Isso nos tenta a pensar que prezam a moral como algo que lhes proporciona uma legítima válvula de escape para o seu desejo de infligir sofrimento; o pecador é uma bela caça e, por conseguinte, nada de tolerância!
Acompanhemos uma vida comum desde sua concepção até o túmulo, e notemos os pontos em que as superstições morais infligem evitável sofrimento. Começo com a concepção, pois que aqui a influência da superstição é particularmente digna de nota. Se os pais não são casados, o filho nasce estigmatizado, coisa tão claramente imerecida como o que mais o possa ser. Se um dos progenitores tem doença venérea, é provável que o filho a herde. Se já têm filhos demais para a renda da família, haverá pobreza, subnutrição, promiscuidade e, provavelmente, incesto. Não obstante, a grande maioria dos moralistas concorda em que é melhor que os pais não saibam de que maneira evitar essa miséria, evitando a concepção3. Para agradar a esses moralistas, uma vida de tortura é infligida a milhões de criaturas humanas que não deveriam jamais ter existido – e isso simplesmente porque se supõe que a relação sexual constitui um pecado, salvo quando acompanhada do desejo de gerar filhos, mas que não é pecado quando existe tal desejo, mesmo que seja humanamente certo que tais filhos serão miseráveis. Ser morto subitamente e, depois, comido, como era o destino das vítimas dos astecas, constitui sofrimento muito menor do que aquele que é infligido a uma criança nascida num ambiente miserável e contaminada por doenças venéreas. No entanto, é esse o sofrimento deliberadamente infligido por bispos e políticos em nome da moralidade. Se tais pessoas fossem dotadas mesmo da menor centelha de amor ou de piedade pelas crianças, não poderiam aderir a um código moral que envolve uma tão diabólica crueldade.
Ao nascer e na primeira infância, as crianças, em geral, sofrem mais devido a causas econômicas do que à superstição. Quando as mulheres abastadas dão à luz, têm os melhores médicos, as melhores enfermeiras, a melhor dieta e o melhor exercício. As mulheres das classes trabalhadoras não gozam dessas vantagens e, não raro, seus filhos morrem devido a isso. As autoridades públicas fazem alguma coisa no sentido de prestar assistência às mães, mas fazem pouco e de má vontade. Num momento em que o fornecimento de leite às mães é cortado para evitar despesas, as autoridades públicas gastam somas enormes na pavimentação de bairros residenciais ricos, onde há pouco tráfego. Devem saber que, ao tomar tal decisão estão condenando à morte, pelo crime de pobreza, um certo número de crianças das classes trabalhadoras. Não obstante, o partido que se acha no poder é apoiado pela imensa maioria de ministros religiosos, os quais, com o Papa à frente, alistaram as vastas forças da superstição, em todo o mundo, em apoio da injustiça social.
Em todas as fases da educação, a influência da superstição é desastrosa. Certa porcentagem de crianças tem o hábito de pensar; um dos objetivos da educação é cura-las de tal hábito. Perguntas inconvenientes são recebidas com recomendação de “silêncio, silêncio”, ou com castigos. Usa-se da emoção coletiva para instilar certas espécies de crença, de maneira particular as de caráter nacionalista. Capitalistas, militaristas e eclesiásticos, cooperam no campo da educação, pois que o poder de todos eles depende da prevalência do emocionalismo e da escassez de juízos críticos. Com a ajuda da natureza humana, a educação consegue aumentar e intensificar tendências, existentes no homem comum.
Outra maneira pela qual a superstição prejudica a educação é através de sua influência na escolha de professores. Devido a razões econômicas, uma professora não deve ser casada; devido a razões morais, não deve ter relações sexuais extramaritais. E, no entanto, todos os que se deram ao trabalho de estudar a psicologia mórbida sabem que a virgindade prolongada é, via de regra, extraordinariamente prejudicial à mulher, tão prejudicial que numa sociedade sã, seria severamente desaconselhada, em se tratando de professoras. As restrições impostas fazem com que, cada vez mais, as mulheres enérgicas e empreendedoras se recusem a dedicar-se ao magistério. Isso tudo é devido à persistente influência do ascetismo supersticioso.
Nas escolas da classe média e superior, a coisa é ainda pior. Há serviços religiosos nas capelas e a instrução moral acha-se nas mãos de clérigos. Os clérigos, quase necessariamente, falham de duas maneiras como professores de moral: condenam atos que não causam dano algum e toleram atos grandemente nocivos. Todos eles condenam as relações sexuais entre pessoas que não sejam casadas mas que se querem mutuamente, embora não estejam ainda certas se desejam viver juntas durante toda a vida. Quase todos condenam o controle da natalidade. Nenhum deles condena a brutalidade de um marido que faz com que a esposa morra em conseqüência de gestações demasiado freqüentes. Conheci um clérigo elegante cuja esposa teve nove filhos em nove anos. Os médicos disseram-lhe que ela morreria, se tiesse outro filho. No ano seguinte, deu à luz novamente e morreu. Ninguém o condenou; conservou seus benefícios eclesiásticos e tomou a casar. Enquanto os clérigos continuarem a tolerar a crueldade e a condenar o prazer inocente, só poderão causar dano, como guardiões da moral dos jovens.
Outro efeito nocivo da superstição, no terreno da educação, é a ausência de instrução quanto ao que se refere ao sexo. Os principais fatos fisiológicos deveriam ser ensinados, de maneira simples e natural, antes da puberdade, numa época em que não são excitantes. Na puberdade, deveriam ser ensinados os elementos de uma moralidade sexual que não fosse supersticiosa. Dever-se-ia ensinar aos rapazes e às moças que nada, salvo uma inclinação recíproca, pode justificar as relações sexuais. Isto é contrário ao ensinamento da Igreja, a qual afirma que, contanto que os interessados sejam casados e o homem deseje um outro filho, a relação sexual está justificada, por maior que possa ser a relutância da esposa. Rapazes e moças deveriam aprender a respeitar a liberdade de seus companheiros do outro sexo; dever-se-ia fazer com que compreendessem que nada dá a uma criatura humana direito sobre outra, e que o ciúme e o sentimento de posse mata o amor. Deveriam aprender que trazer um outro ser ao mundo é assunto muito sério, e que isso só deveria ser feito quando houvesse razoável perspectiva de que a criança pudesse gozar de saúde, de bons ambientes e de cuidados por parte dos pais. Deveriam também aprender métodos de controle da natalidade, tendentes a assegurar que as crianças só viessem quando fossem desejadas. Deveriam, finalmente, ser esclarecidas quanto aos perigos das doenças venéreas e quanto aos métodos de prevenção e cura. O aumento da felicidade humana, que se poderia esperar da educação sexual ministrada nessas bases, seria incomensurável.
Dever-se-ia reconhecer que, na ausência de filhos, a relação sexual é um assunto puramente privado, que não diz respeito ao Estado nem ao próximo. Certas formas de relações sexuais que não têm em mira gerar filhos são, atualmente, punidas pelo direito criminal. Isso não passa de superstição, já que a questão não afeta ninguém, exceto as partes diretamente interessadas. Quando há filhos, é um erro supor-se que seja necessário, a fim de salvaguardar o interesse dos mesmos, tomar o divórcio muito difícil. A embriaguez habitual, a crueldade, a loucura, são razões que tomam o divórcio necessário, não só para o bem dos filhos, como da esposa ou do marido. A particular importância que se atribui, hoje, ao adultério, é inteiramente irracional. É evidente que muitas formas de má conduta são mais fatais à felicidade matrimonial do que uma infidelidade ocasional. A insistência do marido que deseja ter um filho por ano – o que, convencionalmente, não constitui má conduta ou crueldade – é a mais fatal de todas.
As normas morais não deveriam ser tais que tomassem impossível a felicidade instintiva. Não obstante, numa comunidade em que o número de pessoas dos dois sexos é bastante desigual, vigora uma severa monogamia. Claro que, em tais circunstâncias, as normas morais têm de ser infringidas. Mas quando essas normas são tais que só podem ser obedecidas à custa de uma grande diminuição de felicidade da comunidade – e quando é melhor que sejam infringidas que observadas – não há dúvida de que já é tempo de que tais normas sejam modificadas. Se isso não for feito, muita gente, que está agindo de uma maneira que não contraria o interesse público, se verá diante de imerecida alternativa: hipocrisia ou descrédito. A Igreja não se importa que haja hipocrisia, que constitui lisonjeiro tributo ao seu poder; mas, alhures, isso veio a ser considerado como um mal que não se devia levianamente infringir.
Mais nociva ainda que a superstição teológica é a superstição do nacionalismo, do dever para com o seu próprio Estado e nada mais. Não me proponho, nesta ocasião, discutir o assunto, limitando-me apenas a ressaltar que a limitação de nossos interesses aos nossos próprios compatriotas é contrária ao princípio de amor que reconhecemos como constituindo a base da vida virtuosa. É também, sem dúvida, contrária ao próprio interesse das pessoas esclarecidas, pois que um nacionalismo exclusivo não é vantajoso nem mesmo para as nações vitoriosas.
Um outro aspecto em que a nossa sociedade sofre devido à concepção teológica de “pecado”, é o que se refere ao tratamento dos criminosos. A opinião de que os criminosos são “maus” e “merecem” castigo, é uma opinião que não pode merecer o apoio de uma moralidade racional. Certas pessoas, não há dúvida, fazem coisas que a sociedade deseja evitar, e que faz bem em evitar tanto quanto possível. Podemos tomar o assassínio como o exemplo mais evidente. É óbvio que, para que uma comunidade possa manter-se unida, permitindo-nos desfrutar de seus prazeres e vantagens, não podemos permitir que as pessoas matem umas às outras sempre que sintam impulso para fazê-lo. Mas este problema deveria ser tratado com espírito puramente científico. Devíamos, simplesmente, indagar: qual o melhor método para se evitar o assassínio? Dentre dois métodos igualmente eficazes na prevenção do assassínio, deve preferir-se o que acarrete menos dano ao assassino. O mal causado ao assassino é sumamente lamentável, como a dor de uma operação cirúrgica. Pode ser que seja igualmente necessário, mas não é motivo para júbilo. O sentimento de vingança chamado “indignação moral” não passa de uma forma de crueldade. O sofrimento imposto ao criminoso não pode ser jamais justificado pela idéia de castigo vindicativo. Se a educação, aliada à bondade, for igualmente eficaz, deve ser preferida; preferida ainda mais, se for mais eficaz. Claro que a prevenção do crime e o castigo do crime são questões diferentes; é de presumir-se que a finalidade de causar dor seja, para o criminoso, coibitiva. Se as prisões fossem tão humanizadas a ponto de permitir a um detento receber de graça uma boa educação, talvez existissem pessoas que cometessem crimes a fim de entrar para as mesmas. Não há dúvida de que a prisão deve ser menos agradável que a liberdade; mas a melhor maneira de se assegurar tal resultado é fazer-se com que a liberdade seja mais agradável do que às vezes o é atualmente. Não desejo, porém, abordar a questão da Reforma Penal. Desejo, apenas, sugerir que devemos tratar o criminoso como tratamos alguém que sofra de doença contagiosa. Tanto um como outro constitui um perigo público, e cada qual deve ter a sua liberdade cerceada até que deixe de constituir perigo. Mas o homem que sofre de doença contagiosa é objeto de execração. Isto é inteiramente irracional. E é devido a essa diferença de atitude que nossas prisões são muito menos bem sucedidas em curar tendências criminosas do que os nossos hospitais em curar enfermidades.
IV. SALVAÇÃO: INDIVIDUAL E SOCIAL
Um dos defeitos da religião tradicional é o seu individualismo, e tal defeito pertence também à moralidade a ele associada. Tradicionalmente, a vida religiosa era, por assim dizer, um diálogo entre a alma e Deus. Obedecer à vontade de Deus era virtude – e isso era possível ao indivíduo sem que levasse de modo algum em conta a situação da comunidade. Certas seitas protestantes desenvolvem a idéia de “encontrar a salvação”, mas isso sempre esteve presente nos ensinamentos cristãos. Esse individualismo da alma, isoladamente, teve o seu valor em certas fases da história, mas, no mundo moderno, precisamos antes de uma concepção social que individual, quanto ao que se refere ao bem-estar da comunidade. Desejo considerar, nesta parte de minha dissertação, de que maneira isso afeta o nosso conceito de vida virtuosa.
O cristianismo surgiu, no Império Romano, entre populações inteiramente destituídas de poder político, cujos estados nacionais haviam sido destruídos e fundidos em vastos e impessoais agregados humanos. Durante os primeiros três séculos da era cristã, os indivíduos que adotavam o cristianismo não podiam modificar as instituições sociais ou políticas sob as quais viviam, embora estivessem profundamente convencidos de que eram más. Nessas circunstâncias, era natural que adotassem a crença de que um indivíduo pode ser perfeito num mundo imperfeito, e que a vida virtuosa nada tinha a ver com este mundo. O que quero dizer talvez fique claro em comparação com a República de Platão. Quando Platão quis descrever a vida virtuosa, descreveu toda uma comunidade, e não um indivíduo; fê-lo a fim de definir o que era justiça, que é um conceito inteiramente social. Ele estava habituado à cidadania de uma república, e a responsabilidade política era algo que encarava como coisa assente. Com a perda da liberdade grega, surge o estoicismo, que se assemelha ao cristianismo, e não a Platão, em seu conceito individualista da vida virtuosa.
Nós, que pertencemos a grandes democracias, encontraríamos uma moralidade mais apropriada na livre Atenas do que na despótica Roma Imperial. Na Índia, onde as circunstâncias políticas são muito semelhantes às da Judéia ao tempo de Cristo, vemos Gandhi a pregar uma moralidade muito semelhante à de Cristo e estar sendo punido, por isso, pelos sucessores cristianizados de Pôncio Pilatos. Mas os nacionalistas hindus mais extremados não se contentam com a salvação individual: desejam a salvação nacional. Nisto, adotaram o modo de ver das democracias livres do Ocidente. Desejo sugerir que, sob certos aspectos, esse modo de ver, devido a influências cristãs, não é ainda suficientemente ousado e consciente, mas se encontra ainda tolhido pela crença na salvação individual.
A vida virtuosa, tal como a concebemos, exige um número enorme de condições sociais e não pode realizar-se sem elas. A vida virtuosa, dizemos, é uma vida inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. O conhecimento exigido só pode existir onde os governos ou os milionários se dediquem à sua descoberta e divulgação. A disseminação do câncer, por exemplo, é alarmante; assim sendo, que devemos fazer a respeito? No momento, ninguém pode responder a essa pergunta por falta de conhecimento; e não é provável que tal conhecimento surja, exceto mediante pesquisas subvencionadas. O conhecimento da ciência, história, literatura e arte, também deviam estar ao alcance daqueles que o desejassem. Isto exige acordos complicados por parte das autoridades públicas, não sendo coisa que se possa obter mediante conversão religiosa. Há, ainda, o comércio exterior, sem o qual metade dos habitantes da Grã-Bretanha morreria de fome – e, se estivéssemos morrendo de fome, pouquíssimos dentre nós viveriam uma vida virtuosa. Não é necessário que nos estendamos em exemplos. O ponto importante é que, apesar de tudo o que diferencia a vida virtuosa da má, o mundo é uma unidade, e o homem que pretende viver independentemente é um parasita consciente ou inconsciente.
A idéia da salvação individual, com a qual os primitivos cristãos se consolavam, entre si, da sua sujeição política, torna-se impossível, logo que nos libertamos da concepção muito estreita da vida virtuosa. Na concepção cristã ortodoxa, a vida satisfatória é a vida virtuosa, e a virtude consiste na obediência à vontade de Deus, e a vontade de Deus é revelada a cada indivíduo através da voz de sua consciência. Toda essa concepção não passa de uma concepção de homens sujeitos a um despotismo estrangeiro. A vida satisfatória envolve muita coisa, além da virtude: inteligência, por exemplo. E a consciência é um guia demasiado falaz, já que consiste de vagas reminiscências de preceitos ouvidos na adolescência, de modo que não é jamais mais sábio do que o preceptor ou a mãe de quem a possui. Para viver uma vida satisfatória em seu mais amplo sentido, o homem precisa ter uma boa educação, amigos, amor, filhos (se os deseja), uma renda suficiente que o mantenha a salvo de necessidades e de graves preocupações, boa saúde e trabalho que não seja desinteressante. Todas essas coisas, em graus diversos, dependem da comunidade, e são favorecidas ou impedidas por acontecimentos políticos. A vida satisfatória tem de ser vivida numa boa sociedade, e não pode ser vivida amplamente de outro modo.
Eis aqui o defeito fundamental do ideal aristocrático. Certas coisas boas, como a arte, a ciência e a amizade, podem florescer muito bem numa sociedade aristocrática. Existiam na Grécia baseadas na escravidão; existem, entre nós, baseadas na exploração. Mas o amor, na forma de simpatia, ou bondade, não pode existir livremente numa sociedade, aristocrática. O aristocrata tem de persuadir-se de que o escravo, o proletário ou o homem de cor é argila inferior, e que não importam os seus sofrimentos. No momento atual, polidos gentlemen ingleses flagelam africanos de maneira tão severa, que estes morrem, depois de horas de inenarrável angústia. Mesmo que tais senhores sejam bem educados, dotados de temperamentos artísticos e admiráveis causeurs, não posso admitir que estejam vivendo uma vida virtuosa. A natureza humana impõe certas limitações à simpatia, mas não a tal ponto. Numa sociedade dotada de espírito democrático, só um lunático procederia dessa forma. A limitação de simpatia contida no ideal aristocrático constitui a sua própria condenação. A salvação é um ideal aristocrático, por ser individualista. Por essa razão, também, a idéia de salvação pessoal, embora interpretada e distendida, não pode servir como definição da vida satisfatória.
Outra característica da salvação, é que resulta de uma mudança catastrófica, como a conversão de São Paulo. O poema de Shelley constitui uma ilustração dessa concepção aplicada a sociedades; chega o momento em que, quando todos se acham convertidos, os “anarcas” fogem, e “recomeça a grande era do mundo”. Talvez se diga que um poeta é uma pessoa sem importância, cujas idéias não têm a mínima conseqüência. Mas estou persuadido de que uma grande proporção de líderes revolucionários tiveram idéias extremamente semelhantes às de Shelley. Pensaram que a miséria, a crueldade e a degradação, eram devidas a tiranos, ou a sacerdotes, ou a capitalistas ou a alemães, e que, se essas fontes do mal fossem removidas, haveria uma transformação geral no coração dos homens e todos nós viveríamos, a partir de então, vidas felizes. Ao defender tais crenças, desejavam deflagrar uma “guerra para acabar com a guerra”. Relativamente afortunados foram os que sofreram derrota ou morte; os que tiveram o infortúnio de sair vitoriosos, foram– reduzidos ao cinismo ou ao desespero, pelo malogro de todas as suas cintilantes esperanças. A fonte derradeira dessas esperanças, como caminho para a salvação, era a doutrina cristã da conversão catastrófica.
Não desejo insinuar que os revolucionários não sejam jamais necessários, mas sim dizer que não constituem atalhos que conduzam ao milênio. Não há atalho que leve à vida satisfatória, quer seja individual ou social. Para construir a vida satisfatória, precisamos edificar a inteligência, o autodomínio e a simpatia. Esta é uma questão quantitativa, uma questão de aperfeiçoamento gradual, de adestramento anterior, de experimento educacional. Somente a impaciência conduz à crença na possibilidade de aperfeiçoamento súbito. O progresso gradual possível, bem como os métodos pelos quais pode o mesmo ser atingido, são questões para a ciência futura resolver. Mas algo pode ser dito agora. E uma parte do que pode ser dito, será por mim abordada no final desta dissertação.
V. CIÊNCIA E FELICIDADE
O propósito do moralista é melhorar a conduta humana. É, essa, uma ambição louvável, já que a conduta dos homens é, quase sempre, deplorável. Mas não posso louvar o moralista, quer pelos progressos particulares que deseja, quer pelos métodos que adota para alcançá-los. Seu método ostensivo é a exortação moral; seu método real (se for ortodoxo) é um sistema econômico de recompensas e castigos. O primeiro não realiza nada permanente ou importante: a influência dos evangelizadores, de Savonarola em diante, sempre foi muito transitória. O último – as recompensas e castigos – produz resultado considerável. Ambos fazem com que o homem, por exemplo, prefira prostitutas ocasionais a uma amante quase permanente, pois é necessário que se adote o método que possa ser mais facilmente ocultado. Fazem, assim, com que aumente o número de pessoas que se dedicam a uma profissão muito perigosa, assegurando a prevalência de doenças venéreas. Não são esses os objetivos desejados pelo moralista, mas este não possui espírito científico suficiente para perceber que são esses objetivos a que chega na realidade.
Há algo de melhor, pelo qual se possa substituir essa mistura não científica de sermão e suborno? Creio que sim.
As ações humanas são nocivas devido à ignorância ou aos desejos maus. Os “maus” desejos, quando falamos de um ponto de vista social, podem ser definidos como aqueles que tendem a frustrar os desejos dos outros ou, mais precisamente, como aqueles que mais frustram do que assistem a tais desejos. Desnecessário insistir-se sobre os males causados pela ignorância; aqui, tudo o que se deseja é um maior conhecimento, pois que o caminho para o progresso reside em mais pesquisas e mais educação. Os males decorrentes de maus desejos constituem questão mais difícil.
No homem e na mulher comuns, há uma certa dose de maldade ativa, dirigida, diretamente, tanto aos inimigos pessoais quanto ao prazer impessoal e geral causado pelos infortúnios alheios. É costume encobrir-se tal coisa com belas frases; mas cerca da metade da moralidade convencional não passa, nesse sentido, de uma máscara. Mas devemos encarar tal fato, se quisermos que o objetivo dos moralistas, no sentido de melhorar nossa conduta, seja alcançado. Isso se revela de mil maneiras; no júbilo com que as pessoas repetem e acreditam no escândalo, no tratamento rude dos criminosos, apesar da prova evidente de que um melhor tratamento seria mais eficaz quanto à sua regeneração, na incrível barbaridade com que todas as raças brancas tratam os negros, e na satisfação com que as velhas e os clérigos apontavam aos jovens, durante a guerra, o dever de prestar serviço militar. Mesmo as crianças podem ser objeto de espantosa crueldade: David Copperfield e Oliver Twist não são, de modo algum, personagens imaginários. Essa maldade ativa constitui o pior traço da natureza humana, e aquela se toma mais necessário modificar, para que o mundo possa tomar-se mais feliz. Provavelmente essa causa única tem mais que ver com a guerra do que todas as causas econômicas e políticas juntas.
Posto o problema de impedir a maldade, de que modo nos ocuparemos dele? Primeiro, procuremos compreender suas causas. Estas são, penso eu, em parte sociais e, em parte, fisiológicas. O mundo, tanto hoje como em qualquer outra época passada, baseia-se numa competição de vida ou morte; a questão que se apresentava, na guerra, era saber-se se as crianças alemãs ou aliadas deveriam morrer de privações e de fome. (À parte a maldade de ambos os lados, não havia a menor razão pela qual tanto umas como outras não devessem sobreviver). A maioria das pessoas têm, no fundo de suas mentes, medo obsedante da ruína; isto é particularmente verdadeiro quanto ao que se refere a pessoas que têm filhos. Os ricos temem que os bolchevistas confisquem os seus investimentos; os pobres receiam perder os seus empregos ou a saúde. Todos estão empenhados na busca frenética de “segurança” e imaginam que isso pode ser conseguido mantendo-se em sujeição os possíveis inimigos. Nos momentos de pânico é que a crueldade se toma mais ampla e mais atroz. Os reacionários, em toda parte, apelam para o medo: na Inglaterra, o medo do bolchevismo; na França, o medo da Alemanha; na Alemanha, o medo da França. E o único resultado de tais apelos é aumentar o perigo contra o qual desejam estar protegidos.
Por conseguinte, um dos principais interesses do moralista dotado de espírito científico deve ser combater o medo. Isso pode ser feito de duas maneiras: aumentando a segurança e cultivando a coragem. Refiro-me ao medo como paixão irracional, e não como uma previsão racional de algum possível infortúnio. Quando um incêndio irrompe num teatro, o homem racional prevê o desastre tão claramente como aquele que é tomado de pânico, mas adota medidas tendentes a diminuir o desastre, enquanto que o homem tomado de pânico o aumenta. A Europa, desde 1914, vem sendo como uma assistência tomada de pânico num teatro em fogo; o que se necessita é de calma, de instruções competentes quanto à maneira de se escapar do sinistro, sem que, ao fazê-lo, nos atropelemos e nos despedacemos uns aos outros. A Época Vitoriana, apesar de todas as suas mistificações, foi uma época de rápido progresso, pois que os homens se achavam dominados mais pela esperança do que pelo medo. Para que possamos novamente progredir, faz-se mister sejamos dominados pela esperança.
Tudo aquilo que aumenta a segurança geral tem probabilidade de diminuir a crueldade. Isso se aplica à prevenção da guerra, quer através da Liga das Nações, quer de outra maneira. É preciso evitar que haja miséria; é preciso melhorar a saúde pública por meio da medicina, da higiene e de saneamento – e de todos os outros métodos tendentes a diminuir os terrores que rondam os abismos da mente humana e surgem como pesadelos quando os homens dormem. Mas nada se conseguirá, se se procurar dar segurança a uma parte da humanidade à custa da outra: aos franceses, à custa dos alemães; aos capitalistas, à custa dos trabalhadores; aos brancos à custa dos amarelos e assim por diante. Tais métodos não fazem senão aumentar o terror do grupo dominante, temeroso de que o ressentimento leve os oprimidos à rebelião. Só a justiça pode dar segurança – e, por “justiça”, me refiro ao reconhecimento dos direitos iguais de todas as criaturas humanas.
Além das modificações sociais destinadas a proporcionar segurança, existe ainda outro meio de se diminuir o medo, isto é, mediante um regime destinado a aumentar a coragem. Devido à importância da coragem nos campos de batalha, os homens descobriram, desde cedo, o meio de aumentá-la, através da educação e da dieta alimentar. Supunha-se, por exemplo, que comer carne humana era útil. Mas a coragem militar devia ser uma prerrogativa da casta dominante: os espartanos deviam ter mais coragem que os ilotas, os oficiais britânicos, mais que os soldados hindus, os homens mais que as mulheres, e assim por diante. Supôs-se, durante séculos, que a coragem era privilégio da aristocracia. Todo aumento de coragem entre a casta dominante era usado para aumentar o fardo dos oprimidos e, por conseguinte, para aumentar os motivos de medo entre os opressores e, portanto, para deixar como estavam, sem diminuí-las, as causas de crueldade. A coragem deve ser democratizada, antes que possa tornar os homens humanos.
Sob certo aspecto, a coragem já foi bastante democratizada pelos acontecimentos recentes. As sufragistas femininas demonstraram possuir tanta coragem quanto os homens mais bravos; essa demonstração foi essencial, no sentido de fazer com que conquistassem o voto. O soldado comum, na guerra, precisava de tanta coragem quanto um capitão ou um tenente, e muito mais que um general. Isto contribuiu muito para a falta de servilismo depois da desmobilização. Os bolchevistas, que se proclamam campeões do proletariado, não revelam falta de coragem, diga-se deles o que se quiser. Isso é provado pela sua atuação pré-revolucionária. No Japão, onde, antigamente, o samurai tinha o monopólio do ardor marcial, o recrutamento levou a necessidade de coragem a toda a população masculina. Assim, muito se fez, entre todas as Grandes Potências, no último meio século, para tornar a coragem um monopólio não exclusivamente aristocrático: se tal não se desse, o perigo, para a democracia, seria muito maior do que atualmente.
Mas a coragem na luta não é, de modo algum, a única forma de coragem, nem, talvez, a mais importante. Há coragem em se enfrentar a pobreza, coragem em se enfrentar a derrisão, coragem em se enfrentar a hostilidade do nosso próprio rebanho. Nestes casos, os nossos mais bravos soldados são, não raro, lamentavelmente deficientes. Há, ainda, sobretudo, a coragem de se raciocinar calma e racionalmente diante do perigo, e de se dominar o impulso do medo pânico e da raiva pânica. Há certas coisas, por certo, que a educação pode ajudar a proporcionar. E o ensino de todas as formas de coragem se torna mais fácil quando se tem boa saúde, bom físico, alimentação adequada e liberdade para se exercitar impulsos vitais fundamentais. Talvez se pudesse descobrir as fontes fisiológicas da coragem comparando-se o sangue de um gato com o de uma lebre. Com toda probabilidade, não há limite quanto ao que a ciência poderia fazer no sentido de aumentar a coragem, mediante, por exemplo, a experiência do perigo, a vida atlética e uma dieta adequada. De todas essas coisas gozam, até certo ponto, os nossos rapazes da classe superior, mas são elas ainda, de um modo geral, prerrogativa dos ricos. A coragem até agora fomentada entre os círculos mais pobres da comunidade é coragem sob outros aspectos, e não da espécie que envolve iniciativa e liderança. Quando se tornarem universais as qualidades, que agora conferem liderança, não mais haverá líderes e adeptos, e a democracia ter-se-á, finalmente, realizado.
Mas o medo não é a única fonte de maldade; a inveja e as decepções também têm a sua parte. É proverbial a inveja de aleijados e corcundas como fonte de maldade, mas outros infortúnios, além desses, produzem resultados semelhantes. Um homem ou uma mulher frustrados sexualmente tendem a mostrar-se cheios de inveja; isso, geralmente, toma a forma de uma condenação moral dos mais afortunados. Grande parte da força propulsora de movimentos revolucionários é devido à inveja que se tem dos ricos. O ciúme é, certamente, uma forma especial de inveja: inveja de amor. Os velhos, não raro, invejam os jovens; quando o fazem, tendem a tratá-los com crueldade.
Não existe, tanto quanto sei, maneira alguma de se abolir a inveja, exceto tornando mais plena e feliz a vida dos invejosos, e animando os jovens a alimentar idéias de empreendimentos coletivos ao invés de idéias de competição. As piores formas de inveja são encontradas naqueles que não tiveram uma vida plena no que concerne ao casamento, a filhos e a uma carreira. Na maioria dos casos, tais infortúnios poderiam ser evitados, mediante melhores instituições sociais. Contudo, deve-se admitir seria provável restasse ainda um resíduo de inveja. Há, na história, muitos exemplos de generais tão ciumentos de seus colegas, que preferiam a derrota a realçar a reputação de outrem. Dois políticos do mesmo partido, ou dois artistas da mesma escola, têm quase sempre ciúme um do outro. Em tais casos, parece que nada há a fazer, exceto evitar, tanto quanto possível, que cada competidor possa prejudicar o outro, podendo apenas vencer devido a mérito superior. O ciúme de um artista por um rival causa, em geral, pouco dano, pois que a única maneira efetiva de alguém se entregar a isso é procurar pintar quadros melhores do que os de seu rival, uma vez que não lhe é possível destruir-lhe as telas. Nos casos em que é inevitável a inveja, devia ela ser usada como um estímulo quanto aos nossos próprios esforços, e não para frustrar os esforços de nossos rivais.
As possibilidades da ciência, no sentido de aumentar a felicidade humana, não se limitam a diminuir aqueles aspectos da natureza humana que contribuem para derrota mútua, e que, por conseguinte, chamamos “maus”. Não há limite, provavelmente, quanto ao que a ciência pode fazer no sentido de aumentar a excelência positiva. A saúde pública já melhorou grandemente; apesar das lamentações dos que idealizam o passado, vivemos mais e sofremos menos enfermidades do que qualquer classe ou nação do século XVIII. Aplicando-se um pouco mais o conhecimento que já possuímos, poderíamos ser muito mais saudáveis do que somos. E as descobertas futuras, é provável, acelerarão enormemente tal progresso.
Até agora, foi a ciência física a que exerceu maior influência sobre as nossas vidas, mas, no futuro, é bem provável que a fisiologia e a psicologia sejam muito mais poderosas. Quando se descobrir de que modo o caráter depende das condições fisiológicas, poderemos, se quisermos, produzir um número muito maior do tipo de ser humano que admiramos. Inteligência, capacidade artística, bondade – todas essas coisas podem, sem dúvida, ser desenvolvidas pela ciência. Parece não haver quase limite quanto ao que poderia ser feito no sentido de se produzir um mundo satisfatório, se os homens se valessem sabiamente da ciência. Manifestei alhures os meus receios de que os homens talvez possam não usar com sensatez o poder que a ciência lhes proporciona4. No momento, estou interessado quanto ao que se refere ao bem que os homens poderiam fazer se quisessem, e não em saber se eles preferirão antes fazer o mal.
Há uma certa atitude, acerca da aplicação da ciência à vida humana, pela qual tenho certa simpatia, embora, em última análise, não concorde com ela. É a atitude daqueles que temem o que é “antinatural”. Rousseau é, sem dúvida, o grande propugnador dessa opinião na Europa. Na Ásia, Lao-Tse expôs de maneira ainda mais persuasiva – e isso 2400 anos antes. Penso que há um misto de verdade e falsidade na admiração que se tem pela “natureza”, da qual é importante nos desvencilhemos. Para começar, o que é “natural”? De um modo geral, aquilo com que a pessoa que nos fala estava acostumada na infância. Lao-Tse faz objeção a estradas, carruagens e botes, coisas que, provavelmente, eram desconhecidas na aldeia em que ele nasceu. Rousseau estava acostumado com essas coisas, e não as considera como sendo contrárias à natureza. Mas teria, por certo, trovejado contra as estradas de ferro, se vivesse na época em que elas apareceram. As roupas e o cozimento de alimentos são demasiado antigos para que os apóstolos da natureza os denunciem, embora todos eles façam objeções quanto às novas modas. O controle da natalidade é condenado por pessoas que toleram o celibato, porque o primeiro é uma violação nova da natureza e o segundo uma violação antiga. Os que pregam o amor à “natureza” são, em todas essas coisas, incoerentes, e a gente sente-se tentado a considerá-los como simples conservadores.
Não obstante, há algo a ser dito a favor de tais pessoas. Tomemos, por exemplo, o caso das vitaminas, cuja descoberta produziu uma reação a favor dos alimentos “naturais”. Parece, porém, que as vitaminas podem ser fornecidas pelo óleo de fígado de bacalhau e pela luz elétrica, coisas que, certamente, não fazem parte da dieta “natural” de um ser humano. Este caso demonstra que, na ausência de conhecimento, um mal inesperado pode ser feito ao afastar-se a gente, de uma nova maneira, da natureza; mas, quando se chega a compreender o mal, este pode, usualmente, ser remediado mediante algum novo artificialismo. Quanto ao que se refere ao nosso meio físico e aos meios físicos de se satisfazerem os nossos desejos, não me parece que a doutrina da “natureza” justifique algo mais do que uma certa cautela experimental na adoção de expedientes novos. As roupas, por exemplo, são contrárias à natureza, e não precisam ser suplementadas por uma outra prática “inatural”, isto é, a lavagem das mesmas, se não se quiser que produzam doenças. Mas essas duas práticas conjuntas tornam o homem mais saudável do que o selvagem que se abstém de ambas.
Mais ainda se poderia dizer a favor da “natureza” no reino dos desejos humanos. Impor-se a um homem, uma mulher ou uma criança, uma vida que frustre os seus mais fortes impulsos, e não só cruel como perigoso; neste sentido, uma vida segundo a “natureza” tem de ser recomendada sob certas condições. Nada poderia ser mais artificial do que uma ferrovia elétrica subterrânea, mas nenhuma violência se faz contra a natureza de uma criança, quando esta é levada a viajar dessa maneira; pelo contrário, quase todas as crianças acham tal experiência deliciosa. Os artificialismos que satisfazem aos desejos dos seres humanos comuns são bons, sendo as outras coisas iguais. Mas nada há a dizer-se a favor de meios de vida artificiais, quando impostos por autoridade ou necessidade econômica. Tais meios de vida são, sem dúvida, até certo ponto, necessários atualmente; as viagens oceânicas tornar-se-iam muito difíceis, se não existissem foguistas nos vapores. Mas as necessidades desta espécie são lamentáveis, e deveríamos procurar meios de evitá- las. Uma certa quantidade de trabalho não é coisa de que se deva queixar; com efeito, em nove dentre dez casos, torna o homem mais feliz do que a ociosidade completa. Mas a quantidade e a espécie de trabalho que a maior parte das pessoas tem de executar atualmente constitui grave mal
– sendo particularmente grave a escravização à rotina durante toda a vida. A vida não deveria ser demasiado regulada, nem demasiado metódica; nossos impulsos, quando não fossem positivamente destrutivos aos outros, deveriam, se possível, ter livre curso. Deveria haver oportunidade de aventura. Deveríamos respeitar a natureza humana, pois que os nossos impulsos e desejos constituem o material de que tem de ser feita a nossa felicidade. De nada vale dar-se aos homens algo abstratamente considerado como constituindo um “bem”; devemos dar-lhes algo que desejem ou de que necessitem, se quisermos contribuir para a sua felicidade. Talvez a ciência aprenda, com o tempo, a moldar os nossos desejos, de modo que não entrem em conflito com os de outrem até o ponto em que agora o fazem; então, estaremos em condições de satisfazer a uma proporção muito maior de nossos desejos do que atualmente. Nesse sentido, mas somente nesse sentido, os nossos desejos terão, então, se tornado “melhores”. Um simples desejo não é nem melhor nem pior, tomado isoladamente, do que qualquer outro; mas um grupo de desejos é melhor do que outro grupo se todos os do primeiro grupo pudessem ser satisfeitos simultaneamente, e se, no segundo grupo, alguns desejos forem incompatíveis com outros. Eis aí porque o amor é melhor do que o ódio.
O respeito à natureza física não passa de tolice; a natureza física deveria ser estudada tendo- se em vista fazer com que servisse, tanto quanto possível, às finalidades humanas, mas, eticamente, continuará sendo nem boa, nem má. E, quando há uma interação entre a natureza física e a natureza humana, como na questão da população, não há necessidade de que juntemos as mãos numa adoração passiva e aceitemos a guerra, as epidemias e a fome, como sendo os únicos meios possíveis de se tratar da fertilidade excessiva. Os religiosos dizem: é pecado, nesse assunto, aplicar-se a ciência ao lado físico do problema; devemos (dizem eles) aplicar a moral ao lado humano e praticar a abstinência. À parte o fato de que todos, inclusive os religiosos, sabem que seu conselho não será seguido, por que razão deveria ser pecado solucionar-se a questão da população adotando-se meios físicos para se evitar a concepção? Nenhuma resposta virá, exceto uma, baseada em dogmas antiquados. E não há dúvida de que a violência contra a natureza advogada pelos religiosos é tão grande quanto aquela que o controle da natalidade implica. Os religiosos preferem a violência contra a natureza humana, a qual, quando praticada com êxito, acarreta infelicidade, inveja, tendência para a perseguição e, não raro, loucura. Eu prefiro a “violência” contra a natureza física, a qual é da mesma espécie que aquela relacionada com a máquina a vapor ou mesmo com o uso de um guarda-chuva. Este exemplo mostra quão ambígua e incerta é a aplicação do princípio segundo o qual deveríamos seguir a “natureza”.
A natureza, mesmo a natureza humana, deixará de ser, cada vez mais, um dado absoluto; tornar-se-á, cada vez mais, aquilo em que a transformou a manipulação cientifica. A ciência pode, se quiser, fazer com que os nossos netos vivam uma vida satisfatória, dando-lhes conhecimento, autodomínio e caracteres que produzam harmonia, ao invés de conflito. No momento, está ensinando nossos filhos a que se matem mutuamente, pois que muitos homens de ciência estão dispostos a sacrificar o futuro da humanidade em troca de sua própria e momentânea prosperidade. Mas esta fase passará, quando os homens tiverem adquirido sobre as suas paixões o mesmo domínio que já têm sobre as forças físicas do mundo exterior. Teremos então, afinal, conquistado a nossa liberdade.
NOTAS
1.Vide A filosofia de Leibniz, capítulo XV.
2.Referência ao famoso poema de S.T. Coleridge (nota do tradutor).
3.Isso, felizmente, já não é mais verdade. A imensa maioria de líderes protestantes e judeus não faz objeção, hoje, ao controle da natalidade. A afirmação de RusseIl é uma descrição perfeitamente exata das condições existentes em 1925. É também significativo o fato de que, com uma ou duas exceções, todos os grandes pioneiros do controle da natalidade – Francis Pale, Richard Carlile, Charles, Knowlton, Charles Bradlaugh e Margaret Sanger – eram livres-pensadores preeminentes (Nota do diretor da edição inglesa).
4.Vide Ícaro.
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa