



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Terrível explosão em Roma traz uma perturbadora descoberta: a existência de um dossiê que expõe os segredos e a verdadeira história de Gabriel Allon, que estava de volta a Veneza. Este dossiê está em mãos de terroristas. Apressadamente chamado a Israel, Allon vê-se obrigado a reintegrar a organização que tinha escolhido esquecer. Na perseguição a um líder terrorista, percorre então uma paisagem embebida no sangue derramado por várias gerações. Quando por fim se dá o confronto, não é só Gabriel que corre o risco de ser eliminado — pois não é apenas sua história que é posta a nu.
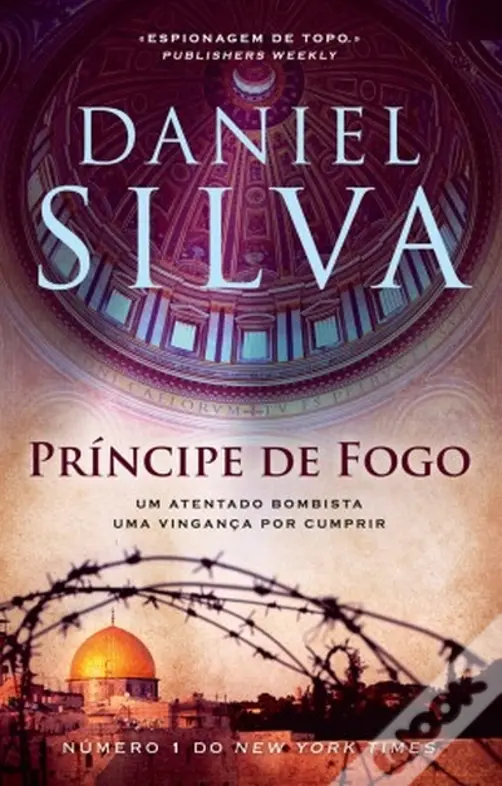
ROMA: 4 DE MARÇO
Houve sinais de aviso — o atentado a bomba a um centro da comunidade judaica em Buenos Aires, durante o sabbath, que matou 87 pessoas; o atentado a uma sinagoga em Istambul, exatamente um ano depois, que matou 28 — , mas Roma marcaria o seu reaparecimento, e em Roma deixaria seu cartão de visita.
Depois disso, nos corredores e salas do serviço secreto israelense houve debates consideráveis, e por vezes beligerantes, sobre hora e lugar da gênese da conspiração. Lev Ahroni, o sempre cauteloso diretor do serviço, afirmava que a intriga tinha sido incubada depois de o exército israelense ter destruído o quartel-general de Arafat em Ramallah, e de ter roubado seus arquivos secretos. Ari Shamron, o lendário mestre espião israelense, achava aquilo quase risível, embora frequentemente Shamron discordasse de Lev apenas por questão de princípio. Shamron, que lutou nas fileiras do Palmach durante a Guerra da Independência* e tendia a ver o conflito como um continuum, compreendia intuitivamente que o atentado em Roma tinha sido inspirado por atos da força militar israelense da Palestina, criada com o auxílio dos ingleses por Yitzhak Sadeh em 1941 para ajudar a Palestina a se defender de possível invasão da Síria. O Palmach tinha milhares de combatentes e mais tarde se transformaria na Haganah.
*Em 15 de maio de 1948, imediatamente após a declaração de independência do Estado de Israel, exércitos árabes de Egito, Síria, Jordânia, Arábia Saudita e Líbano invadiram o novo Estado. A guerra terminou em janeiro de 1949.
No fim das contas, as evidências provariam que tanto Lev como Shamron estavam certos. Entretanto, e de modo a conseguirem condições de trabalho tranquilas, concordaram num novo ponto de partida: o dia em que um certo monsieur Jean-Luc chegou às colinas de Lazio e se instalou numa villa elegante do século XVIII nas costas do lago Bracciano.
Quanto à data e hora exata da sua chegada, não havia qualquer dúvida. O proprietário da villa, duvidoso aristocrata belga chamado monsieur Laval, disse que o inquilino apareceu às 14h30 da última sexta-feira de março. O enérgico mas cortês jovem israelense, que apareceu em Bruxelas na casa de monsieur Laval, interrogou-se como seria possível alguém se recordar tão claramente de uma data. O belga abriu luxuosa agenda pessoal, encadernada em couro, e apontou para a data em questão. Ali, escritas a lápis na linha das 14h30, estavam as palavras: Encontro M. Jean-Luc na villa Bracciano.
— Por que escreveu villa Bracciano e não apenas villa? — perguntou o visitante israelense, a caneta pairando sobre o bloco de notas aberto.
— Para diferenciá-la da villa de St. Tropez, da nossa villa portuguesa e do chalé que possuímos nos Alpes suíços.
— Entendo — disse o israelense, embora o belga achasse que ao tom de voz do visitante faltaria a humildade dos funcionários civis quando confrontados com homens de grande fortuna. E de que mais se lembrava monsieur Laval do homem que tinha alugado a villa? Que era pontual, inteligente e de muito boas maneiras. Que era espantosamente bonito, que seu perfume era perceptível mas não incomodativo, que o seu vestuário era caro mas conservador. Que dirigia um Mercedes e tinha duas enormes malas com fechos dourados de grife conhecida. Que pagou na totalidade e em adiantado o aluguel de um mês, o que monsieur Laval explicou não ser nada incomum naquela região da Itália. Que era um bom ouvinte, que não precisava que lhe repetissem as coisas. Que falava francês com o sotaque parisiense de um bairro bem conceituado. Que parecia um homem que podia se sair bem numa briga e que tratava bem as mulheres.
— Era de nascimento nobre — concluiu Laval, com a certeza de alguém que fala do que sabe. — Vem de boa linhagem. Escreva isso no seu livrinho. Lentamente, pormenores adicionais emergiriam sobre o homem chamado Jean-Luc, embora nenhum entrasse em conflito com o retrato lisonjeiro de monsieur Laval. Não tinha contratado faxineira e exigiu que o jardineiro chegasse pontualmente às nove e saísse às dez. Fazia compras nas praças vizinhas e ia à missa na aldeia medieval de Anguillara, junto ao lago. Passeava muito pelas ruínas romanas de Lazio e parecia particularmente intrigado pela antiga necrópole de Cerveteri.
Em meados de março — a data nunca foi confiavelmente estabelecida — desapareceu. Até monsieur Laval estava incerto sobre a data da partida, porque foi posteriormente informado do fato por uma mulher em Paris que afirmava ser assistente pessoal do cavalheiro. Embora ainda restassem duas semanas de aluguel, o atraente inquilino não se envergonhou, nem a monsieur Laval, pedindo reembolso. Mais tarde, nessa mesma primavera, quando monsieur Laval visitou a villa, ficou surpreso ao descobrir, numa taça de cristal no aparador da sala de jantar, uma curta nota de agradecimento escrita à máquina, juntamente com cem euros para pagar copos de vinho quebrados. Contudo, uma busca minuciosa do conjunto de copos de pé alto da villa revelou que não faltava nenhum. Quando monsieur Laval tentou ligar para a mulher em Paris para lhe devolver o dinheiro, descobriu que o telefone desta tinha sido desligado.
Na orla dos jardins Borghese há avenidas elegantes e ruas laterais tranquilas bordejadas por árvores, em nada semelhantes às vias mal cuidadas e cheias de turistas do centro da cidade. São avenidas de diplomacia e dinheiro, onde o trânsito se move a velocidade quase razoável e o grasnar das buzinas soa como uma rebelião em terras distantes. Numa dessas ruas existe um beco sem saída. Faz uma curva suave e vira para a direita. Todos os dias e durante muitas horas fica à sombra, uma consequência dos altos pinheiros e eucaliptos que se elevam acima das villas. O passeio estreito está rachado pelas raízes das árvores e está perpetuamente coberto por agulhas de pinheiro e folhas mortas. Na extremidade da rua situa-se um complexo diplomático, mais pesadamente fortificado do que a maior parte dos creditados em Roma.
Sobreviventes e testemunhas viriam a lembrar-se bem daquela manhã de fim de inverno: brilhante e límpida, suficientemente fria na sombra para causar arrepios, suficientemente quente ao sol para se desabotoar um casaco de lã e sonhar com um almoço numa esplanada. O fato de também ser uma sexta-feira apenas servia para aumentar a atmosfera prazerosa. Na Roma diplomática, era uma manhã para se espreguiçar sobre um cappuccino e um cornetto, para se pensar na vida e refletir sobre nossa mortalidade. O adiamento era a ordem do dia. Muitas reuniões mundanas foram canceladas. Muita burocracia rotineira foi adiada até segunda-feira.
Na pequena rua sem saída perto dos jardins Borghese não havia sinais exteriores da catástrofe que estava para ocorrer. A Polícia italiana e os agentes de segurança que guardavam as fortificações do perímetro conversavam ociosamente nos retalhos de sol brilhante. Como a maior parte das missões diplomáticas em Roma, esta continha oficialmente duas embaixadas, uma que tratava com o Governo italiano e a outra com o Vaticano. Ambas abriram na hora designada. Os dois embaixadores estavam em suas salas.
Às 10h30, um jesuíta gorducho arrastou-se colina abaixo com uma pasta de couro na mão. Dentro dela estava um documento diplomático do Secretariado de Estado do Vaticano, condenando a recente incursão do exército israelense em Belém. O mensageiro protocolou o documento com um funcionário da embaixada e, arquejando, voltou a subir a colina. Depois disso, o texto seria divulgado, e a sua linguagem afiada se tornaria um embaraço temporário para os homens do Vaticano. O timing do mensageiro, no entanto, demonstraria ser providencial. Tivesse ele chegado cinco minutos mais tarde e seria vaporizado, juntamente com o texto original do documento. Não tão afortunada foi a equipe de televisão italiana que tinha ido entrevistar o embaixador sobre a situação no Oriente Médio. Ou a delegação de judeus locais que tinha ido assegurar a condenação pública por parte do embaixador de uma conferência neonazista marcada para a semana seguinte em Verona. Ou o casal italiano, indignado pelo ressurgimento do antissemitismo europeu, que queria saber da possibilidade de emigrar para Israel. Ao todo 14 pessoas estavam de pé junto à entrada de serviço, esperando para serem revistadas pela segurança da embaixada, quando o caminhão branco de mercadorias fez a curva para a direita entrando na viela sem saída e iniciou sua corrida mortal em direção ao complexo.
A maior parte deles ouviu o caminhão antes de vê-lo. O rugido do motor a diesel era uma intrusão violenta na manhã de outro modo tranquila. Era impossível ignorá-lo. Os homens da segurança italiana detiveram-se em meio à conversa e olharam para cima, assim como o grupo de 14 desconhecidos reunidos no exterior da embaixada. O jesuíta gorducho, que estava à espera do ônibus na extremidade oposta da rua, ergueu a cabeça arredondada de seu exemplar do L'Osservatore Romano, e procurou a causa de tal ruído.
A inclinação suave da rua ajudou o caminhão a atingir velocidade vertiginosa. Ao fazer a curva, a carga maciça dentro da carroceria empurrou pesadamente o caminhão sobre duas rodas. Por um instante, parecia que ia capotar. Depois, de algum modo, endireitou-se e iniciou seu mergulho final em linha reta na direção do complexo.
Durante breves instantes, foi possível ver-se o motorista através do para-brisas. Era jovem e sem barba. Tinha olhos grandes e boca aberta. Parecia estar em cima do acelerador, e parecia gritar consigo mesmo. Por algum motivo, os limpadores de para-brisas estavam ligados.
As forças de segurança italianas reagiram de imediato. Diversos agentes refugiaram-se atrás das barreiras de cimento-armado. Outros mergulharam sob a proteção das guaritas de aço e vidro. Dois guardas abriram fogo contra o caminhão. Fagulhas explodiram na grade frontal, e o para-brisas foi estilhaçado, mas o caminhão continuou a acelerar sem obstáculos atingindo cada vez mais velocidade até o ponto de impacto. Depois disso, o Governo de Israel elogiaria o heroísmo da segurança italiana naquela manhã. Seria dito que ninguém tinha abandonado seu posto, embora seu destino tivesse sido exatamente o mesmo se o tivessem.
A explosão foi ouvida da Praça de São Pedro à Praça de Espanha e à colina Janiculum. Quem estava nos pisos superiores dos prédios teve a visão notável de uma bola de fogo vermelho-alaranjada, erguendo-se acima da extremidade norte da Villa Borghese, rapidamente seguida por uma nuvem de fumaça na forma de um cogumelo totalmente negro. As janelas a um quilômetro de distância da explosão arrebentaram devido à onda de choque, incluindo os vitrais de uma igreja próxima. Os plátanos ficaram sem folhas. Pássaros morreram em meio ao voo. Geólogos de uma estação de monitoramento sísmico temeram de início que Roma tivesse sido abalada por um tremor de terra moderado.
Nenhum homem da segurança sobreviveu à explosão inicial. Ou nenhum dos 14 visitantes que esperavam ser admitidos na embaixada, nem o pessoal da embaixada que trabalhava nos escritórios mais próximos do local onde o caminhão explodiu.
No entanto, acabou que o segundo veículo foi o que infligiu a maior perda de vidas. O mensageiro do Vaticano, que tinha sido jogado ao chão pela força da explosão, viu o carro virar para a rua sem saída em alta velocidade. Como era um Lancia, e como transportava quatro homens e estava em tão elevada velocidade, presumiu que era um veículo da polícia respondendo ao atentado. O padre levantou-se e avançou em direção à cena através de espessa fumaça negra, esperando poder ser de alguma utilidade aos feridos, bem como aos mortos. Em vez disso, deparou-se com um cenário dantesco. As portas do Lancia abriram simultaneamente e os quatro homens, que presumira serem oficiais da polícia, começaram a disparar na direção do complexo. Os sobreviventes que saíam cambaleantes dos destroços em chamas foram impiedosamente abatidos.
Os quatro atiradores deixaram de disparar exatamente ao mesmo tempo e voltaram a entrar no Lancia. Enquanto se afastavam em alta velocidade do complexo em chamas, um dos terroristas apontou a metralhadora para o jesuíta. O padre persignou-se e preparou-se para morrer. O terrorista limitou-se a sorrir e desapareceu atrás de uma cortina de fumaça.
CAPÍTULO 2
TIBERÍADES, ISRAEL
Quinze minutos depois do último tiro ter sido disparado em Roma, o telefone de segurança tocou na enorme villa cor de mel sobranceira ao mar da Galileia. Ari Shamron, o duas vezes antigo diretor-geral do serviço secreto israelenses, agora conselheiro especial do primeiro-ministro em todas as questões que lidavam com segurança e serviços secretos, recebeu a chamada no seu estúdio. Ouviu em silêncio durante um momento, os olhos firmemente fechados em fúria.
— Vou a caminho — disse, e desligou.
Virando-se, viu Gilah de pé na soleira da porta do estúdio. Ela segurava o blusão de couro de aviador na mão, e tinha os olhos marejados de lágrimas. — Acabou de dar na televisão. É muito mau?
— Muito mau. O primeiro-ministro quer que eu o ajude a preparar uma declaração ao país.
— Então não deves deixar o primeiro-ministro à espera. Ajudou Shamron a vestir o blusão e beijou-o na face. Aquele ato era um ritual simples. Quantas vezes tinha-se ele separado da mulher depois de ouvir que judeus tinham sido mortos por uma bomba? Há muito que lhes tinha perdido a conta. Já tarde tinha-se resignado ao fato de que nunca acabaria.
— Não vai fumar demais?
— Claro que não.
— Tente me ligar.
— Telefono assim que puder.
Saiu pela porta da frente. Foi atingido por uma rajada de vento frio e úmido.
Uma tempestade se acumulara sobre as colinas de Golã durante a noite e cercava toda a Alta Galileia. Shamron tinha acordado ao primeiro rebentar dos relâmpagos, tendo-os confundido com tiros, e permanecera acordado durante o resto da noite. Para Shamron, o sono assemelhava-se ao contrabando. Só chegava raramente e, assim que era interrompido, nunca regressava duas vezes na mesma noite. Por norma, vagueava pelas salas de arquivos secretos da sua memória, a reviver casos antigos, a caminhar por antigos campos de batalha e a confrontar inimigos há muito desaparecidos. A última noite tinha sido diferente. Tivera a premonição de um desastre iminente, uma imagem tão clara que acabara por fazer uma chamada para o turno noturno do seu antigo serviço para saber se tinha acontecido alguma coisa.
— Volte para a cama, chefe — respondeu o jovem oficial de serviço. — Está tudo bem.
O seu Peugeot preto, blindado e à prova de bala, esperava-o no alto do caminho de acesso à casa. Rami, o chefe de cabelo escuro do seu destacamento de segurança, encontrava-se junto à porta aberta de trás. Shamron tinha feito muitos inimigos ao longo da vida, e devido à demografia confusa de Israel, muitos viviam desconfortavelmente perto de Tiberíades. Rami, silencioso como um lobo solitário e de longe mais letal, raramente deixava o amo. Shamron deteve-se por um momento para acender um cigarro, uma marca turca de má qualidade que fumava desde a época do Mandato*, depois saiu da varanda. Era de estatura baixa e, embora de idade avançada, tinha ainda constituição robusta. As mãos eram ásperas e manchadas pelo fígado, e pareciam ter-lhe sido emprestadas por um homem duas vezes maior. O rosto, cheio de rachas e fissuras, parecia-se com uma vista aérea do deserto do Negev. O pouco que lhe restava do cabelo cinza-aço estava cortado tão rente que era quase invisível. Infamemente descuidado com os seus óculos, tinha-se resignado a feias armações de plástico indestrutível. As lentes grossas aumentavam olhos azuis que já não eram límpidos. Caminhava como se antecipando a um ataque vindo pelas costas, com a cabeça baixa e os cotovelos para fora numa atitude defensiva. Nos corredores do Boulevard King Saul, o quartel-general do seu antigo serviço, o seu modo de andar era conhecido como o "arrastar Shamron". Ele conhecia o epíteto e aprovava-o.
* Referência ao Mandato inglês na Palestina (1922-1948)
Entrou no banco traseiro do Peugeot. O pesado carro deu um salto para a frente e desceu o traiçoeiramente íngreme caminho até as margens do lago. Virou à direita e acelerou em direção a Tiberíades, depois para oeste, através da Galileia em direção à planície costeira. O olhar de Shamron, durante grande parte da viagem, manteve-se concentrado no mostrador arranhado do seu relógio de pulso. O tempo era agora seu inimigo. A cada minuto que passava, os perpetradores estavam a afastar-se cada vez mais da cena do crime. Se tivessem tentado um tal ataque em Jerusalém ou Tel Aviv, teriam sido apanhados numa teia de barricadas e de bloqueios de estrada. Mas o atentado tinha ocorrido em Itália, não em Israel, e Shamron estava à mercê da Polícia italiana. Tinha-se passado muito tempo desde que os italianos tinham lidado com um atentado terrorista em grande escala. Além disso, a ligação israelense ao Governo italiano — a sua embaixada — estava em ruínas. Bem como, suspeitava Shamron, a muito importante delegação do serviço secreto israelenses. Roma era o quartel-general regional do Sul da Europa. Era dirigido por um katsa chamado Shimon Pazner, um homem a quem Shamron tinha pessoalmente recrutado e treinado. Era muito possível que o Escritório tivesse perdido um dos seus oficiais mais competentes e experientes.
A viagem pareceu durar uma eternidade. Ouviram as notícias na Rádio Israel, e a cada atualização a situação em Roma parecia agravar-se. Por três vezes, Shamron verificou ansiosamente seu celular de segurança, e três vezes voltou a guardá-lo sem chamar qualquer número. Deixe-os em paz, pensou. Eles sabem o que estão fazendo. Treinou-os bem. Além disso, não era hora para que o conselheiro especial do primeiro-ministro em assuntos de segurança e terrorismo estivesse a ser sobrecarregado com sugestões úteis.
Conselheiro especial... Como ele odiava o título. Fedia a ambiguidade. Ele tinha sido o Memuneh: o no comando. Tinha acompanhado seu adorado serviço, e seu país, no triunfo e na adversidade. Lev e seu bando de jovens tecnocratas tinham-no considerado um fardo e baniram-no para o deserto judaico da aposentadoria. Shamron teria ali permanecido se não fosse o salva-vidas lançada pelo primeiro-ministro. Ari Shamron, mestre manipulador e senhor de marionetes, tinha aprendido que podia exercer quase tanto poder a partir do gabinete do primeiro-ministro como da suíte executiva no Boulevard King Saul. A experiência o tinha ensinado a ser paciente. No fim o poder acabava em suas mãos. Parecia estar sempre acontecendo.
Começaram a descer em direção a Jerusalém. Shamron não podia fazer aquela notável viagem sem pensar em antigas batalhas. A premonição voltou a surgir. Tinha sido Roma que ele vira na noite anterior ou outra coisa? Algo maior que Roma? Um velho inimigo, tinha certeza disso. Um homem morto que se erguera de seu passado.
O gabinete do primeiro-ministro israelense está localizado na Rua Kaplan 3, na seção Kiryat Ben-Gurion de Jerusalém Ocidental. Shamron entrou no edifício pela garagem subterrânea, depois subiu até sua sala. Era pequena, mas estrategicamente localizada no corredor que conduzia ao gabinete do primeiro-ministro, o que lhe permitia ver quando Lev ou qualquer outro chefe do serviço secreto ou de segurança entrava no santuário interior para uma reunião. Não tinha secretária pessoal, mas partilhava uma moça chamada Tamara com três outros membros da segurança. Esta levou-lhe café e ligou o painel com três televisores.
— O Varash vai se reunir no gabinete às cinco.
Varash era o acrônimo em hebraico do Comitê dos Chefes dos Serviços. Incluía o diretor-geral da Shabak, o serviço de segurança interno; o comandante da Aman, serviço secreto militar; e, claro, o chefe do serviço secreto israelense, referido apenas como "Escritório".
Shamron, por privilégio e reputação, tinha assento permanente na mesa. — Entretanto — disse Tamara — , ele quer uma reunião dentro de minutos.
— Diga que será melhor dentro de meia hora.
— Se quer mais meia hora, diga você.
Shamron sentou-se e, de controle remoto na mão, passou os cinco minutos seguintes assistindo aos canais televisivos mundiais, procurando o maior número de detalhes possível. Depois pegou o telefone e fez três chamadas, uma para um antigo contato na Embaixada italiana chamado Tommaso Naldi; a segunda para o Ministério do Exterior israelense, localizado a uma curta distância na Avenida Yitzhak Rabin; e a terceira para o quartel-general do Escritório no Boulevard King Saul.
— Ele não pode falar agora com você — disse a secretária de Lev. Shamron tinha antecipado a reação. Era mais fácil atravessar uma barricada do exército do que a secretária de Lev.
— Passe-lhe o telefone — disse Shamron — , ou a próxima chamada será do primeiro-ministro.
Lev deixou Shamron à espera por cinco minutos.
— O que sabe? — perguntou Shamron.
— A verdade? Nada.
— Ainda temos uma delegação em Roma?
— Já não podemos lhe dar esse nome — disse Lev — , mas ainda temos o katsa de Roma. Pazner estava em Nápoles a serviço. Acabou de nos contatar. Está agora a caminho de Roma.
— Graças a Deus, pensou Shamron.
— E os outros?
— É difícil dizer. Como pode imaginar, a situação é bem caótica. — Lev tinha paixão avassaladora pela atenuação dos fatos. — Desapareceram dois escriturários e o oficial de comunicações.
— Há alguma coisa nos arquivos que possa ser comprometedora ou embaraçosa?
— Esperemos que tenham virado cinza.
— Estão guardados em cofres construídos para aguentar ataque de mísseis. É melhor chegarmos a eles antes dos italianos.
Tamara enfiou a cabeça pela porta.
— Ele quer vê-lo. Agora.
— Nos vemos às cinco — disse Shamron a Lev, e desligou.
Recolheu suas notas, depois seguiu Tamara ao longo do corredor em direção. Dois homens da escolta de proteção Shabak, enormes, cabelo cortado rente e camisas para fora da calça, observavam a aproximação de Shamron. Um deles deu um passo para o lado e abriu a porta. Shamron passou por ele e entrou. As persianas estavam fechadas, a sala fresca e na penumbra. O primeiro-ministro estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha, diminuído por um gigantesco retrato do líder sionista Theodor Herzl, que pendia da parede atrás de suas costas. Shamron tinha estado naquela sala muitas vezes, e no entanto sentia sempre sua pulsação acelerar. Para Shamron, esta sala representava o fim de uma viagem notável, a reconstituição da soberania judaica na Terra de Israel. Nascimento e morte, guerra e Holocausto — Shamron, como o primeiro-ministro, tinha representado papel importante em todo este episódio épico. Privadamente, consideravam-no seu Estado, sua criação, que guardavam ciosamente contra todos — árabes, judeus ou gentios — que procuravam enfraquecê-lo ou destruí-lo.
Sem uma palavra, o primeiro-ministro fez sinal para que Shamron se sentasse. De cabeça pequena e muito largo de cintura, parecia-se bastante com uma formação rochosa. As mãos gorduchas estavam dobradas sobre o tampo da secretária; os maxilares pesados pendiam-lhe sob o colarinho da camisa.
— Muito ruim, Ari?
— No fim do dia teremos uma perspectiva melhor — disse Shamron. — Uma coisa é certa. Vai ser considerado um dos piores atos de terrorismo contra o Estado, se não o pior.
— Quantos mortos?
— Ainda não se sabe.
— Os embaixadores?
— Oficialmente ainda estão desaparecidos.
— E não oficialmente?
— Acredita-se que estejam mortos.
— Ambos?
Shamron anuiu.
— Bem como seus delegados.
— Quantos mortos já confirmados?
— Os italianos reportaram 12 policiais seguranças mortos. De momento, o Ministério do Exterior confirma 22 mortos, bem como 13 familiares do complexo residencial. Dezoito pessoas ainda estão desaparecidas.
— Cinquenta e dois mortos?
— Pelo menos. Aparentemente havia vários visitantes à entrada que esperavam ser admitidos no edifício.
— E quanto ao pessoal do Escritório?
Shamron repetiu o que Lev tinha acabado de lhe dizer. Pazner estava vivo. Temia-se que três funcionários do Escritório estivessem entre os mortos.
— Quem fez isto?
— Lev ainda não chegou a nenhuma...
— Eu não estou perguntando a Lev.
— A lista de potenciais suspeitos, infelizmente, é longa. Qualquer coisa que eu possa dizer agora seria mera especulação e, neste momento, a especulação não nos serve de nada.
— Por que Roma?
— É difícil dizer — disse Shamron. — Talvez fosse apenas um alvo oportuno. Talvez tivessem encontrado um ponto fraco, uma brecha na muralha, e decidiram explorá-lo.
— Mas não acredita nisso?
— Não, primeiro-ministro.
— Pode ter alguma coisa com o caso do Vaticano há alguns anos... aquela situação com Allon?
— Duvido. Todas as provas encontradas até agora sugerem que foi um ataque suicida executado por terroristas árabes.
— Quero fazer uma declaração depois da reunião com o Varash.
— Acho que isso seria sensato.
— E quero que a escreva por mim.
— Se quiser.
— Você conhece bem a sensação de perda, Ari. Ambos o sabemos. Ponha algum sentimentalismo nisso. Verta esse reservatório de dor polaca que sempre carrega com você. O país vai precisar chorar esta noite. Deixe-os chorar. Mas assegure-lhes que os animais que fizeram isso serão castigados.
— E serão, primeiro-ministro.
Shamron levantou-se.
— Quem fez isso, Ari?
— Saberemos em breve.
— Quero a cabeça dele — disse o primeiro-ministro selvagemente. — Quero a cabeça dele numa estaca.
— E vai tê-la.
Transcorreriam 48 horas antes da primeira brecha no caso, e esta não viria de Roma, mas da cidade industrial de Milão, ao norte. Unidades da Polícia do Estado e dos Carabineiros, agindo segundo a declaração de um informante imigrante turco, tomaram de assalto uma pensione num bairro de trabalhadores ao norte do centro da cidade, onde se acreditava que estariam escondidos dois dos quatro terroristas sobreviventes. Os homens já não estavam ali, e percebeu-se que tinham fugido às pressas. A Polícia descobriu um par de malas cheias de roupas e meia dúzia de celulares, bem como passaportes falsos e cartões de crédito roubados. Contudo, o mais intrigante era um CD costurado no forro de uma das malas. Os investigadores italianos do laboratório nacional criminal em Roma determinaram que o CD continha dados, mas foram incapazes de penetrar seu sofisticado firewall. Por fim, depois de muitos debates internos, decidiu-se abordar os israelenses em busca de auxílio.
E foi assim que Shimon Pazner recebeu uma convocação para se apresentar no quartel-general do serviço secreto italiano. Chegou alguns minutos depois das dez da noite e foi conduzido de imediato ao Escritório do delegado-chefe, um homem chamado Martino Bellano. Era um par discordante: Bellano, alto e magro, vestido como se tivesse acabado de sair de uma revista italiana de moda; Pazner, baixo e musculoso com cabelo semelhante a palha de aço e casaco esportivo amarrotado. "Um monte de roupa de ontem para lavar", assim que Bellano descreveria Pazner depois do encontro; após a conclusão do caso, quando se tornou óbvio que Pazner tinha sido pouco franco, Bellano referia-se habitualmente ao israelense como "aquele kosher avarento com um blazer emprestado".
No entanto, naquela primeira noite, Bellano não podia ter sido mais solícito com seu visitante. Pazner não era o tipo de homem que causava simpatia entre desconhecidos, mas enquanto era conduzido à sala de Bellano, seus olhos estavam pesados pela exaustão e pela profunda sensação de culpa dos sobreviventes. Bellano passou vários minutos expressando a sua "profunda tristeza" em relação ao atentado, antes de chegar à questão que o levara a convocar Pazner a uma hora tão tardia: o CD. Colocou-o cerimoniosamente sobre a mesa e empurrou-o na direção de Pazner com a ponta de uma unha cuidada. Pazner aceitou-o calmamente, embora mais tarde tivesse confessado a Shamron que seu coração batia o peito em ritmo caótico.
— Fomos incapazes de decodificar — disse Bellano. — Talvez tenham mais sorte.
— Faremos o nosso melhor — replicou modestamente Pazner.
— Claro que partilharão conosco qualquer material que por acaso encontrem.
— Nem é preciso dizer — respondeu Pazner, enquanto o CD desaparecia no bolso do casaco.
Dez minutos depois Bellano achou que era adequado terminar a reunião. Pazner permanecia estoicamente sentado, agarrando os braços da cadeira como um homem à beira de um ataque devido à falta de nicotina. Aqueles que testemunharam sua partida pelo longo corredor central repararam na passada sem pressa.
Apenas quando estava no exterior, descendo a escadaria principal é que houve um indício de urgência nos seus passos.
Poucas horas depois do ataque, uma equipe israelense de especialistas em explosivos, infelizmente muito experiente em seu ofício, tinha chegado a Roma para iniciar a tarefa de remexer os destroços em busca de provas da composição e origem da bomba. Por sorte, o avião militar que os trouxera de Tel Aviv ainda estava na pista de descolagem de Fiumicino. Pazner, com a aprovação de Shamron, ordenou que o avião o levasse a Tel Aviv. Chegou alguns minutos depois do nascer do sol e foi recebido por um grupo do Escritório. Dirigiram-se de imediato para Boulevard King Saul, a grande velocidade mas com cuidado, pois o que transportavam era precioso demais para arriscar num dos elementos mais perigosos da vida israelense: as autoestradas. Às 8h, o CD era alvo de um assalto coordenado por parte das melhores mentes da divisão técnica do serviço, e às 9h as barreiras de segurança tinham sido quebradas. Ari Shamron iria se vangloriar mais tarde de que os gênios informáticos do Escritório tinham decodificado CD num intervalo para o café dos italianos. A decriptação do material levou outra hora, e às 10h uma impressão do conteúdo do CD estava na mesa imaculada de Lev. O material permaneceu ali apenas por alguns segundos, porque Lev jogou-o de imediato dentro de uma pasta e correu para a Rua Kaplan, em Jerusalém, para uma reunião com o primeiro-ministro. Claro que Shamron estava ao lado de seu chefe.
— Alguém precisa mandá-lo voltar — disse Lev.
Falava com o entusiasmo de um homem que se autoelogiava. Talvez, pensou Shamron, fosse precisamente isso que ele sentia, pois via o homem em questão como um rival, e o método favorito de Lev para lidar com os adversários, verdadeiros ou potenciais, era o exílio.
— Pazner volta esta noite para a Itália. Deixem-no levar com ele uma equipe da Extração.
Shamron sacudiu a cabeça. — Ele é meu. Eu o farei voltar. — Interrompeu-se. — Além disso, Pazner tem algo mais importante a fazer no momento.
— E o que é?
— Dizer aos italianos que não conseguimos decifrar o código daquele CD, é claro.
Era hábito de Lev nunca ser o primeiro a sair da sala, e assim foi com grande relutância que se levantou da cadeira e se dirigiu à porta. Shamron olhou para cima e viu que os olhos do primeiro-ministro estavam nele.
— Ele vai ter que ficar aqui até que isso passe — disse o primeiro-ministro.
— Sim, vai — concordou Shamron.
— Talvez possamos encontrar alguma coisa para ele fazer que o ajude a passar o tempo.
Shamron anuiu uma vez, e o caso ficou encerrado.
CAPÍTULO 3
LONDRES
Procurar Gabriel foi quase tão difícil quanto procurar os autores do massacre de Roma. Ele era o tipo de homem que nunca os informava de seus movimentos e já não seguia instruções do Escritório, por isso ninguém ficou surpreso (e menos do que todos, Shamron) por ele ter deixado Veneza sem se dar ao trabalho de informar aonde ia. Afinal, tinha partido para a Inglaterra para visitar a mulher, Leah, que vivia num hospital psiquiátrico privado num recanto isolado do Surrey. Contudo, sua primeira parada foi na Rua New Bond onde, a pedido de um negociante de arte londrino chamado Julian Isherwood, concordara em assistir a um leilão de Antigos Mestres, na leiloeira Bonhams.
Isherwood foi o primeiro a chegar, segurando uma pasta puída numa das mãos e a gola da capa Burberry com a outra. Alguns negociantes estavam amontoados no hall.
Isherwood murmurou uma saudação fingida e dirigiu-se ao vestiário. Um momento depois, aliviado da capa ensopada, colocou-se de vigia junto à janela. Alto e de aparência frágil, vestia o terno que habitualmente usava nos leilões, um terno cinza de listras, e o seu laço vermelho da sorte. Ajeitou os caracóis grisalhos soprados pelo vento para cobrir o alto da cabeça calva e examinou por breves instantes seu próprio rosto refletido no vidro. Um desconhecido pensaria que estava de ressaca, talvez até um pouco embriagado. Isherwood não estava nem uma coisa nem outra. Estava totalmente sóbrio. Penetrante como uma faca. Estendeu um braço, puxou o punho francês da camisa até o pulso e lançou um olhar ao relógio. Tarde. Aquilo não era nada habitual em Gabriel. Pontual como o noticiário das oito. Nunca deixava um cliente à espera. Nunca se atrasava com um restauro — a não ser, é claro, que fosse devido a circunstâncias para lá do seu controle.
Isherwood endireitou o laço e baixou os ombros estreitos, de modo que a figura refletida tinha a graça e a segurança fáceis que pareciam constituir um direito de nascença dos ingleses de uma certa classe. Ele movia-se nos seus círculos, dispunha das suas coleções, e adquiria novas coleções em seu nome, mas na verdade nunca poderia ser um deles. E como o poderia? O seu apelido e esgalgado porte inglês escondiam o fato de que não era, pelo menos tecnicamente, inglês. Inglês de nacionalidade e passaporte, sim, mas tinha nascido na Alemanha, crescera na França, e era de religião judaica. Apenas um punhado de amigos íntimos sabiam que Isherwood tinha ido parar a Londres em 1942. Era uma criança refugiada que atravessara os Pirenéus cobertos de neve acompanhada por dois pastores bascos. O seu pai, o famoso negociante de arte de Berlim, Samuel Isakowitz, tinha terminado os seus dias na orla de uma floresta polaca, num local chamado Sobibor.
Havia outra coisa que Julian Isherwood mantinha em segredo dos seus concorrentes do mundo de arte londrino — e de quase toda a gente. Durante anos, tinha feito favores ocasionais a um certo cavalheiro de Tel Aviv chamado Shamron. Isherwood, no calão hebraico e incerto de Shamron, era um sajan, auxiliar voluntário não remunerado, embora a maior parte dos encontros com Shamron estivesse mais próxima da chantagem do que do trabalho voluntário.
Nessa altura, Isherwood vislumbrou um relampejo de couro e jeans entre as capas agitadas da Rua New Bond. A figura desapareceu por um momento, depois voltou a aparecer subitamente, como se tivesse atravessado uma cortina e subido a um palco iluminado. Como sempre, Isherwood ficou surpreso pela sua pouco impressionante estatura física — talvez 1,76m, uns 70 quilos completamente vestido. Tinha as mãos enfiadas nos bolsos de um blusão de couro preto, os ombros ligeiramente curvados para a frente. A sua passada era suave e aparentemente sem esforço, e as pernas pareciam curvar-se ligeiramente para fora, algo que Isherwood associava sempre aos homens que conseguiam correr muito depressa ou eram bons a jogar futebol. Vestia um par de impecáveis sapatos de camurça com sola de borracha, e apesar da chuva contínua, não trazia chapéu-de-chuva. O rosto surgiu no seu campo de visão — longo, testa alta, estreito no queixo. O nariz parecia ter sido esculpido em madeira, as maçãs do rosto eram altas e proeminentes, e havia um toque das estepes russas nos olhos verdes e irrequietos.
O cabelo negro estava cortado curto e era muito grisalho nas têmporas. Um rosto com muitas nacionalidades possíveis, e Gabriel tinha os dons linguísticos para usá-lo adequadamente. Isherwood nunca sabia muito bem o que esperar quando Gabriel atravessava uma porta. Ele não era ninguém, não vivia em lugar algum. Era o eterno judeu errante.
Subitamente apareceu ao lado de Isherwood. Não o cumprimentou, e as suas mãos permaneceram enfiadas nos bolsos do blusão. Os modos que Gabriel adquirira ao trabalhar para Shamron no mundo do serviço secreto tinham-no deixado mal preparado para funcionar no mundo normal. Apenas quando estava a representar um papel é que parecia animar-se. Nos raros momentos em que um desconhecido via o verdadeiro Gabriel — como agora, pensou Isherwood — , o homem que viam mantinha-se silencioso, sombrio, e aparentemente tímido. Gabriel deixava as pessoas supremamente desconfortáveis. Era um dos seus muitos dons.
Atravessaram o hall em direção à recepção.
— Quem somos hoje? — perguntou Isherwood em voz baixa, mas Gabriel limitou-se a inclinar-se para a frente e rabiscou qualquer coisa ilegível no bloco de apontamentos.
Isherwood tinha-se esquecido de que ele era canhoto. Assinava o nome com a mão esquerda, segurava um pincel com a direita, utilizava a faca e o garfo com qualquer uma. E a Bereífa? Afortunadamente, Isherwood não conhecia a resposta a essa pergunta.
Subiram as escadas, Gabriel junto ao ombro de Isherwood, calado como um guarda-costas. O blusão de couro não emitia qualquer ruído, a calça jeans não rangiam, os sapatos pareciam pairar acima do carpete. Isherwood teve de se roçar contra o ombro de Gabriel para se recordar que ele estava ali. No alto das escadas, um segurança pediu a Gabriel para abrir a sua sacola de couro. Ele abriu o fecho e mostrou o seu conteúdo: um visor Binomag, uma lâmpada ultravioleta, um infrascópio e uma poderosa lanterna de halogêneo. O segurança, satisfeito, acenou-lhes para que prosseguissem.
Entraram na sala de exposições. Pendendo das paredes e montados em cavaletes cobertos por baeta, encontrava-se uma centena de quadros, cada um banhado numa luz cuidadosamente focada. Espalhados entre as obras encontravam-se bandos deambulantes de negociantes — chacais, pensou Isherwood, palitando os dentes. Alguns tinham os rostos quase colados aos quadros, outros preferiam vê-los de longe. Formavam-se opiniões. Dinheiro estava sobre a mesa. Calculadoras produziam estimativas de lucro potencial. Era o lado indecoroso do mundo da arte, o lado que Isherwood adorava. Gabriel parecia absorto. Movia-se como um homem habituado ao caos do souk. Isherwood não tinha que dizer a Gabriel para tentar passar despercebido. Isso era algo que lhe acontecia naturalmente. Jeremy Crabbe, diretor do departamento de Antigos Mestres da Bonhams, esperava-os junto a uma paisagem da escola francesa, um cachimbo apagado enfiado entre os incisivos amarelados. Apertou sem alegria a mão de Isherwood e olhou para o homem mais novo vestido de couro a seu lado.
— Mario Delvecchio — disse Gabriel, e como sempre, Isherwood ficou espantado pelo sotaque veneziano perfeito.
— Ahhh — arquejou Crabbe. — O misterioso Signore Delvecchio. Claro que o conheço de nome, mas nunca nos conhecemos pessoalmente. — Crabbe lançou um olhar conspiratório a Isherwood. — Tem alguma coisa na manga, Julian? Alguma coisa que não me contou?
— Ele restaura para mim, Jeremy. Vale a pena deixá-lo ver antes de eu me precipitar.
— Por aqui — disse Crabbe em tom cético, e levou-os até uma sala pequena e sem janelas, junto à principal sala de vendas daquele piso. As exigências do negócio tinham feito com que Isherwood demonstrasse um interesse mediano noutras obras (de outro modo, Crabbe podia ser tentado a dizer a um dos outros negociantes que Isherwood estava interessado numa peça em particular). A maior parte das peças eram medíocres, uma Madonna e menino sem interesse, de Andrea Del Sarto, uma natureza-morta, de Cario Magini, uma Forja de Vulcano, de Paolo Pagani — , mas no recanto mais afastado, encostada contra a parede encontrava-se uma tela sem moldura. Isherwood reparou que o olhar bem treinado de Gabriel foi imediatamente atraído para ela. Também reparou que Gabriel, o profissional consumado, desviou rapidamente o olhar. 33
Começou primeiro com os outros quadros e gastou exatamente dois minutos com cada uma das telas. O seu rosto era uma máscara, não traindo nem entusiasmo nem desagrado. Crabbe desistiu de tentar ler as suas intenções e entreteve-se a mordiscar a ponta do cachimbo.
Por fim, concentrou-se no lote nº 43, Daniel na Cova do Leão. De Erasmus Quellinus, 21x35, óleo sobre tela, desgastado e extremamente sujo. De fato, tão sujo que os felinos na orla da imagem pareciam estar inteiramente escondidos pela sombra. Gabriel agachou-se e inclinou a cabeça de modo a ver a tela com uma iluminação inclinada. Depois lambeu três dedos e esfregou a figura de Daniel, o que fez com que Crabbe risse e rolasse os olhos injetados de sangue. Ignorando-o, Gabriel aproximou o rosto a poucos centímetros da tela e examinou o modo como as mãos de Daniel estavam dobradas e a perna cruzada sobre a outra. — De onde veio?
Crabbe retirou o cachimbo e olhou-o. — De uma pilha de esboços georgianos em Cotswolds.
— Quando foi limpo pela última vez?
— Não temos certeza, mas pelo aspecto calculamos que na época em que Disraeli era primeiro-ministro.
Gabriel ergueu o olhar para Isherwood, que olhava para Crabbe.
— Dê-nos um momento, Jeremy.
Crabbe saiu da sala. Gabriel abriu a mala e tirou a lâmpada ultravioleta. Isherwood apagou as luzes, lançando a sala na escuridão total.
Gabriel acendeu a lâmpada e fez incidir o feixe azulado sobre a pintura.
— Então? — perguntou Isherwood.
— O último restauro foi há tanto tempo que não aparece no ultravioleta.
Gabriel retirou o infrascópio da sacola. Tinha uma estranha semelhança com uma pistola, e Isherwood sentiu um arrepio repentino quando Gabriel envolveu o cabo com a mão e ligou a luz verde luminescente. Um arquipélago de manchas escuras surgiu na tela, os retoques do último restauro. O quadro, embora extremamente sujo, tinha sofrido perdas moderadas.
Ele desligou o infrascópio, depois colocou o visor com a lupa incorporada, e estudou a figura de Daniel no branco ofuscante do feixe da lanterna de halogêneo.
— O que acha? — perguntou Isherwood, olhando-o de lado.
— Magnífico — respondeu Gabriel distraidamente. — Mas não foi Erasmus Quellinus que o pintou.
— Tem certeza?
— Tanta certeza que aposto duas mil libras do seu dinheiro.
— Que reconfortante.
Gabriel estendeu a mão e passou o indicador ao longo da figura musculosa e graciosa.
— Ele esteve aqui, Julian — disse — , eu consigo sentir.
Foram a pé até St. James para um almoço de comemoração no Green's, um lugar de reunião para negociantes e colecionadores da Rua Duke, a alguns passos da galeria de Isherwood. Uma garrafa de borgonha branco e fresco esperava-os num compartimento de canto. Isherwood encheu duas taças e empurrou uma através da toalha par a Gabriel.
— Mazel tov, Julian.
— Tens certeza disso?
— Não posso fazer uma autenticação positiva até usar refletografia por infravermelhos para conseguir ver a superfície. Mas a composição é claramente baseada em Rubens, e não tenho qualquer dúvida de que o trabalho seja dele.
— Tenho certeza de que vai se divertir imensamente restaurando-o.
— Quem disse que eu vou restaurá-lo?
— Você.
— Eu disse que autenticaria, mas não disse nada sobre restaurar. Esse quadro precisa de pelo menos seis meses de trabalho. Receio estar no meio de outra coisa.
— Só há uma pessoa a quem eu confiaria esse trabalho — disse Isherwood — , e essa pessoa é você.
Gabriel aceitou o cumprimento profissional com um ligeiro inclinar da cabeça, depois retomou seu exame apático do menu. Isherwood tinha querido dizer o que disse.
Gabriel Allon tinha sido trazido para aquele mundo sob uma estrela diferente, e poderia muito bem ser um dos melhores artistas da sua geração. Isherwood pensou na primeira vez em que tinham se encontrado — uma luminosa tarde de setembro em 1978, um banco de jardim no Serpentine, no Hyde Park. Gabriel era pouco mais do que um rapaz na altura, embora as suas têmporas, recordava-se Isherwood, já tivessem laivos cinzas. A mancha de um rapaz que tinha feito o trabalho de um homem, tinha-lhe dito Shamron.
"Ele deixou a Bezalel Academy of Art em 72. Em 75, foi para Veneza estudar restauração com o grande Umberto Conti."
"Umberto é o melhor que existe."
"Assim me disseram. Parece que nosso Gabriel causou uma certa impressão no Signore Conti. Ele disse que as mãos de Gabriel são as mais talentosas que ele já viu. Eu teria de concordar."
Isherwood tinha cometido o erro de perguntar o que Gabriel fizera exatamente entre 1972 e 1975. Gabriel tinha se virado para observar um casal de namorados que passeava de mãos dadas ao longo das margens do lago.
Shamron tinha tirado distraidamente uma lasca do banco.
Depois Shamron tinha pedido o seu primeiro "favor".
"Há um certo cavalheiro palestino que reside em Oslo. Receio que as intenções desse cavalheiro sejam menos do que honrosas. Gostaria que Gabriel mantivesse um olho nele, e gostaria que descobrisse para ele algum trabalho mais respeitável. Talvez uma simples restauração — algo que possa demorar duas semanas ou perto disso. Pode fazer isso por mim, Julian?"
Isherwood voltou ao presente quando surgiu o garçom. Pediu sopa e lagosta cozida, Gabriel salada verde e linguado grelhado com arroz. Vivia na Europa há anos, mas ainda tinha os gostos simples de um rapaz de Sabra, no vale de Jezreel. Comida e vinho, roupa boa e carros rápidos — aquelas coisas não tinham qualquer significado para ele.
— Estou surpreso por poder ter vindo hoje — disse Isherwood.
— Por quê?
— Roma.
Gabriel manteve os olhos fixos no menu.
— Este não é o meu portfólio, Julian. Além disso, estou aposentado. Você sabe disso.
— Por favor — disse Isherwood num murmúrio confessional. — Então ultimamente tem trabalhado em quê?
— Estou terminando o altar de San Giovanni Crisóstomo.
— Outro Bellini? Vai ficar famoso.
— Já sou.
O último trabalho de Gabriel, o altar da Igreja de San Zaccaria, por Bellini, tinha causado sensação no mundo da arte, bem como fixara um padrão para os futuros restauros de Bellini.
— Não é a empresa de Tiepolo que está tratando do projeto de Crisóstomo?
Gabriel anuiu.
— Agora estou mais ou menos trabalhando exclusivamente para Francesco.
— Ele não pode se dar ao luxo de sua exclusividade.
— Gosto de trabalhar em Veneza, Julian. Ele me paga o suficiente para me aguentar. Não se preocupes, não estou propriamente vivendo como no tempo da aprendizagem com Umberto.
— Pelo que ouvi dizer, nestes últimos tempos tem andado atarefado. Segundo os boatos, quase lhe tiraram o altar de San Zaccaria porque deixou Veneza para tratar de assunto pessoal.
— Não devia dar ouvidos a boatos, Julian.
— Oh, sério? Também ouvi dizer que se instalou num palazzo em Cannaregio com uma mulher bela e jovem chamada Chiara.
O olhar penetrante, lançado por cima da taça de vinho, confirmou a Isherwood que os boatos Gabriel eram verdadeiros.
— A criança tem sobrenome?
— O nome de família é Zolli, e não é uma criança.
— É verdade que o pai dela é o principal rabino de Veneza?
— Ele é o único rabino de Veneza. Não é exatamente uma comunidade florescente. A guerra acabou com ela.
— Ela conhece seu tipo de trabalho?
— Ela é do Escritório, Julian.
— Prometa que não vai partir o coração dela como fez com as outras — disse Isherwood. — Meu Deus, as mulheres que deixou escapar por entre os dedos. Ainda tenho fantasias maravilhosas com aquela criatura chamada Jacqueline Delacroix.
Gabriel inclinou-se sobre a mesa, o rosto subitamente muito sério.
— Vou me casar com ela, Julian.
— E Leah? — perguntou gentilmente Isherwood. — Que planejas fazer em relação a Leah?
— Tenho de lhe contar. Vou vê-la amanhã de manhã.
— Será que ela compreenderá?
— Para te dizer a verdade, não tenho certeza, mas devo-lhe isso.
— Que Deus me perdoe por dizer isto, mas deves isso a ti mesmo. É altura de continuares com a tua vida. Não preciso de te lembrar que já não és um menino de 25 anos.
— Não é você que vai ter de olhá-la nos olhos e dizer que está apaixonado por outra mulher.
— Perdoe a impertinência. É barganha a falar... e o Rubens. Quer companhia? Posso te levar até lá.
— Não — disse Gabriel. — Preciso de ir sozinho.
O primeiro prato chegou. Isherwood começou a comer o seu bisque. Gabriel cortou um pedaço de alface.
— Que tipo de quantia tinhas em mente para a limpeza do Rubens?
— Assim de cabeça? Qualquer coisa perto das cem mil libras.
— Azar — disse Gabriel. — Por 200 000, talvez considerasse aceitar o trabalho.
— Tudo bem, duzentas mil, seu filho-da-mãe.
— Telefono-te para a semana e digo-te.
— O que te impede de aceitares agora? O Bellini? Não, pensou Gabriel. Não era o Bellini. Era Roma.
A clínica Stratford, um dos hospitais privados mais prestigiados da Europa, estava localizada a uma hora de carro do centro de Londres numa propriedade vitoriana nas colinas de Surrey. A população de doentes incluía um membro afastado da família real inglesa e o segundo primo do atual primeiro-ministro, e assim o pessoal estava habituado a exigências invulgares por parte dos visitantes. Gabriel atravessou o principal portão de segurança identificando-se como "Sr. Browne".
Estacionou o Opel alugado no estacionamento para visitantes, no pátio dianteiro da antiga mansão de tijolo vermelho. Leonard Avery, o médico de Leah, recebeu-o no hall de entrada, uma figura batida pelo vento e vestida com um casaco Barbour e botas Wellington.
— Uma vez por semana levo um grupo selecionado de doentes a dar um passeio pelos campos vizinhos — disse ele, explicando a sua aparência. — É extremamente terapêutico. — Apertou a mão de Gabriel sem tirar as luvas e perguntou-lhe como tinha sido a viagem desde Londres, como se não estivesse realmente interessado na resposta. — Ela está à sua espera no solário. Aquilo de que ainda gosta mais é do solário.
Avançaram por um corredor com um chão de linóleo pálido; as passadas de Avery eram como se ainda estivesse a caminhar ao longo de uma vereda do Surrey. Era a única pessoa no hospital que sabia a verdade acerca da doente chamada Lee Martinson — ou, pelo menos, parte da verdade. Sabia que o seu verdadeiro nome de família era Allon e que as suas terríveis queimaduras e estado quase catatônico não eram o resultado de um acidente de viação — a explicação que surgia nos registros hospitalares de Leah — , mas de um atentado a bomba a um carro em Viena. Também sabia que o atentado tinha-lhe reclamado a vida do seu jovem filho. Pensava que Gabriel era um diplomata israelense e não gostava dele.
Enquanto caminhavam, forneceu a Gabriel uma atualização concisa do estado de Leah. Não havia nenhuma alteração de que se pudesse falar — Avery não parecia demasiado preocupado com aquilo. Nunca tinha sido pessoa para ter um optimismo falso e tinha sempre mantido expectativas baixas acerca do prognóstico de Leah. Tinha demonstrado estar certo. Nos 13 anos desde o atentado, ela nunca tinha proferido uma palavra a Gabriel.
No fim do corredor encontrava-se um conjunto de portas duplas, com janelas redondas semelhantes a vigias enevoadas pela umidade. Avery empurrou uma das portas e levou Gabriel ao solário. Gabriel, acolhido pela umidade opressiva, retirou imediatamente o casaco. Um jardineiro estava a regar as laranjeiras envasadas enquanto conversava com uma enfermeira, uma atraente mulher de cabelo escuro que Gabriel nunca tinha visto antes. — Agora podes ir, Amira — disse o Dr. Avery.
A enfermeira saiu, seguida pelo jardineiro.
— Quem é? — perguntou Gabriel.
— É uma licenciada da escola de enfermagem King's College e especialista no tratamento de doentes com doenças mentais graves. Muito competente naquilo que faz. A sua mulher gosta bastante dela.
Avery deu uma palmadinha fraternal no ombro de Gabriel, e em seguida saiu. Gabriel virou-se. Leah estava sentada numa cadeira de ferro forjado de costas direitas, os olhos erguidos na direção das janelas do solário, que pingavam umidade. Vestia calças brancas e finas feitas de algodão institucional e uma camiseta de gola alta que ajudava a esconder o seu corpo frágil. As mãos, com cicatrizes e contorcidas, seguravam um ramo em botão. O cabelo, outrora longo e negro como asa de corvo, estava cortado curto e era quase grisalho. Gabriel dobrou-se e beijou-a em ambas as faces. Os lábios dele tocaram uma pele fria e firme, coberta de cicatrizes. Leah não pareceu sentir o toque.
Sentou-se e pegou naquilo que restava da mão esquerda de Leah. Não sentiu qualquer vida nesta. A cabeça dela virou-se lentamente até os olhos encontrarem os dele. Ele procurou qualquer sinal de reconhecimento, mas não viu nada. A memória dela tinha sido roubada. Na mente de Leah apenas restava o atentado. Este passava incessantemente, como a falha de um vídeo. Tudo o resto tinha sido apagado ou afastado para um recanto inacessível do seu cérebro. Para Leah, Gabriel não tinha um maior significado do que a enfermeira que a tinha levado até ali ou o jardineiro que tratava das plantas. Leah tinha sido castigada pelos pecados dele. Leah era o preço que um homem decente tinha pago por se meter no mesmo atoleiro com assassinos e terroristas. Para Gabriel, um homem abençoado com a capacidade para sarar coisas belas, a situação de Leah era duplamente dolorosa. Mas Leah estava para lá da reparação. Muito pouco permanecia do original.
Falou com ela. Recordou-a de que estava a viver em Veneza, e que trabalhava para uma empresa que restaurava igrejas. Não lhe disse que, por vezes, ainda fazia algumas incumbências para Ari Shamron, ou que dois meses antes tinha engendrado a captura de um criminoso de guerra austríaco chamado Erich Radek e que o levara a Israel para que Erich enfrentasse a justiça. Quando por fim arranjou coragem para lhe dizer que estava apaixonado por outra mulher e que desejava dissolver o casamento para poder casar com ela, não conseguiu continuar. Falar com Leah era como falar com um túmulo. Parecia não valer a pena.
Quando tinha passado meia hora, afastou-se de Leah e enfiou a cabeça pelas portas que davam para o corredor. A enfermeira estava ali à espera, encostada à parede com os braços cruzados à frente da bata.
— Já acabou? — perguntou ela.
Gabriel assentiu. A mulher passou por ele e entrou sem proferir palavra.
Era o fim da tarde quando o voo do aeroporto de Heathrow aterrou em Veneza. Gabriel, apanhou um táxi aquático para se dirigir à cidade, e ficou no cockpit com o condutor de costas para a porta da cabina, observando os postes do canal a erguerem-se por entre a neblina como colunas de soldados derrotados que regressassem a casa vindos da frente. Passado pouco tempo, surgiram as margens de Cannaregio. Gabriel sentiu uma vaga sensação de tranquilidade. Veneza, a Veneza em desagregação, a Veneza ensopada e a decair tinha sempre aquele efeito sobre ele. E toda uma cidade precisando de restauração, tinha dito Umberto Conti. Use-a. Cure Veneza, e ela o curará.
O táxi deixou-o no Palato Lezze. Gabriel dirigiu-se para oeste atravessando o Cannaregio ao longo das margens de um canal amplo chamado Rio della Misercordia. Chegou a uma ponte de ferro, a única em toda a Veneza. Na Idade Média, tinha existido um portão no centro da ponte, e à noite um vigia cristão tinha montado guarda de modo que aqueles aprisionados do outro lado não pudessem fugir. Gabriel atravessou a ponte e entrou no sottoportego subterrâneo. Na outra extremidade da passagem, uma praça ampla abria-se perante ele: o Campo di Ghetto Nuovo, o centro do antigo gueto de Veneza. No seu apogeu tinha sido o lar apertado de mais de cinco mil judeus. Agora apenas 20 dos 400 judeus da cidade viviam no velho gueto, e a maior parte destes era idosa e residia na Casa Israelitica di Riposo.
Gabriel dirigiu-se para a moderna passagem de vidro do lado oposto da praça e entrou. À sua direita situava-se a entrada para uma pequena livraria especializada em livros relacionados com a história judaica e os judeus de Veneza. Era quente e brilhantemente iluminada, com janelas do chão ao tecto sobranceiras ao canal que rodeava o gueto. Atrás do balcão, sentada em cima de um tamborete de madeira num cone de luz de halogêneo, encontrava-se uma moça com cabelo loiro e curto. Ela sorriu-lhe quando ele entrou e saudou-o pelo seu nome de trabalho.
— Ela saiu há cerca de uma hora.
— A sério? Onde é que ela está?
A moça encolheu eloquentemente os ombros.
— Não disse.
Gabriel olhou para o relógio. Quatro e um quarto. Decidiu dedicar algumas horas ao Bellini antes de jantar.
— Se a vires, diz-lhe que estou na igreja.
— Não há problema. Ciao, Mario.
Dirigiu-se à ponte Rialto. A uma rua de distância do canal, virou à esquerda e encaminhou-se para uma pequena igreja de terracota. Deteve-se. De pé à entrada da igreja, abrigado sob o alpendre, estava um homem que Gabriel reconheceu, um oficial de segurança do Escritório chamado Rami. A sua presença em Veneza só podia significar uma coisa. Este apercebeu-se do olhar de Gabriel e olhou para a entrada da porta. Gabriel passou por ele e entrou. A igreja estava nas fases finais da restauração. Os bancos tinham sido retirados da nave em cruz grega e temporariamente encostados à parede ocidental. A limpeza do altar-mor de Sebastiano del Piombo estava concluída. O Bellini pendia da Capela de São Jerônimo, do lado direito da igreja. Devia estar oculto por trás do andaime tapado por um encerado, mas o andaime tinha sido afastado para um lado e a pintura resplandecia sob o brilho das luzes fluorescentes. Chiara virou-se para observar a aproximação de Gabriel. O olhar encoberto de Shamron permaneceu fixo na pintura.
— Sabes uma coisa, Gabriel, até eu tenho de admitir que é belo. O tom do velho era resmungão. Shamron, um israelense primitivo, não sabia que utilidade tinha a arte ou o divertimento de qualquer espécie. Apenas conseguia ver beleza numa operação perfeitamente concebida ou na destruição de um inimigo. Mas Gabriel reparou noutra coisa — o fato de Shamron ter acabado de falar com ele em hebraico e ter cometido o pecado imperdoável de proferir o seu verdadeiro nome num local sem segurança.
— Belo — repetiu ele, depois virou-se para Gabriel e sorriu tristemente. — É uma pena que não o possas acabar.
CAPÍTULO 4
VENEZA
Shamron sentou o corpo exausto num banco da igreja e, com uma mão manchada pelo fígado, fez sinal a Gabriel para ajustar o ângulo das luzes florescentes. De uma pasta metálica retirou um envelope de papel pardo, e do envelope três fotografias. Colocou a primeira sem proferir palavra na mão estendida de Gabriel. Gabriel olhou para baixo e viu-se a caminhar pelo Campo di Ghetto Nuovo com Chiara a seu lado. Examinou a imagem calmamente, como se fosse um quadro a precisar de restauro, e tentou determinar quando é que tinha sido tirada. O vestuário, o contraste da luz da tarde e das folhas secas nas pedras da praça sugeriam o final de Outono. Shamron ergueu a segunda fotografia — Gabriel e Chiara de novo, desta vez num restaurante não muito distante da casa deles em Cannaregio. A terceira fotografia, Gabriel a sair da igreja de San Giovanni Cristostomo, fez com que a sua espinha gelasse. Quantas vezes?, perguntou-se ele. Quantas vezes teria estado um assassino à espera no campo quando ele saíra à noite do trabalho?
— Não podia durar para sempre — disse Shamron. — Eventualmente acabariam por te encontrar aqui. Fizeste demasiados inimigos ao longo dos anos. Ambos os fizemos.
Gabriel devolveu as fotografias a Shamron. Chiara sentou-se junto dele. Naquele ambiente, com aquela luz, ela fez Gabriel pensar na Madonna Alba, de Rafael. O seu cabelo, escuro e encaracolado, brilhando com reflexos castanhos e avermelhados, parecia apertar-se junto ao pescoço, espalhando-se depois desordeiramente sobre os ombros. A pele era morena e luminosa. Os olhos castanhos escuros com pontos dourados brilhavam à luz das lâmpadas e tendiam a mudar de cor conforme o humor. Gabriel, no olhar escuro de Chiara, podia perceber que estava prestes a receber mais más notícias.
Shamron enfiou de novo a mão dentro da pasta.
— Isto é um dossiê no qual é resumida sua carreira. Receio que esteja desconfortavelmente exato. — Deteve-se. — Ver toda a vida de uma pessoa reduzida a uma sucessão de mortes pode ser difícil. Tens a certeza de que queres ler isto?
Gabriel estendeu a mão. Shamron não se tinha incomodado a mandar traduzir o dossiê de árabe para hebraico. O vale de Jezreel continha muitas aldeias e vilas árabes. O árabe de Gabriel, embora não fluente, era suficientemente bom para ler a narração das suas próprias explorações profissionais.
Shamron estava certo — de algum modo os seus inimigos tinham conseguido montar um registro completo e exato da sua carreira. O dossiê referia-se a Gabriel pelo seu verdadeiro nome. A data do seu recrutamento estava correta, bem como o motivo por que fora recrutado, embora o tivessem creditado com a morte de oito membros do Setembro Negro quando, na verdade, tinha morto apenas seis. Diversas páginas diziam respeito ao assassinato de Gabriel de Khalil el-Wazir, o segundo em comando da OLP, normalmente conhecido pelo seu nome de guerra, Abu Jihad. Gabriel tinha-o morto no interior da sua villa junto ao mar, em Túnis, em 1988. A descrição da operação tinha sido fornecida pela mulher de Abu Jihad, Umm Jihad, que tinha estado presente naquela noite. A entrada referente a Viena era concisa e digna de atenção pelo seu único erro fatual: Mulher e filho mortos por atentado a bomba a veículo, Viena, janeiro, 1991. Vingança ordenada por Abu Amar. Abu Amar não era outro se não Yasser Arafat. Gabriel tinha sempre suspeitado do envolvimento pessoal de Arafat. Até agora nunca tinha visto provas que o confirmassem.
Levantou as folhas do dossiê.
— Onde é que arranjaste isto?
— Milão — disse Shamron. Em seguida contou a Gabriel os pormenores respeitantes ao assalto à pensione e ao CD que tinham encontrado no saco de um suspeito. — Quando os italianos não foram capazes de decodificar o código de segurança, viraram-se para nós. Suponho que nos devamos considerar afortunados. Se eles tivessem sido capazes de decodificar o CD, teriam sido capazes de solucionar um assassinato romano com 30 anos numa questão de minutos.
Contido no dossiê estava a referência ao assassinato de um operacional do Setembro Negro chamado Wadal Abdel Zwaiter num apartamento em Roma, em 1972. Fora esse assassinato, o primeiro de Gabriel, que fizera com que as suas têmporas ficassem grisalhas de um dia para o outro. Devolveu o dossiê a Shamron. — O que sabemos a respeito dos homens que se esconderam nessa pensione? — Com base nas impressões digitais descobertas no material e no quarto, bem como nas fotografias dos passaportes falsos, conseguimos identificar um deles. O seu nome é Daoud Hadawi, um palestino, nascido no campo de refugiados de Jenin. Foi um dos cabeças da primeira Intifada, e entrou e saiu com frequência da prisão. Juntou-se à Fatah, e quando Arafat foi para Gaza depois de Oslo, Hadawi foi trabalhar para o Al-Amn Al-Ra'isah, o Serviço de Segurança Presidencial. Deve conhecer essa organização pelo seu nome anterior, o nome usado antes de Oslo: Força 17, a guarda pretoriana de Arafat. Os assassinos favoritos de Arafat.
— Que mais sabemos sobre Hadawi?
Shamron enfiou a mão dentro do bolso do casaco à procura dos cigarros. Gabriel deteve-o e explicou-lhe que o fumo era prejudicial para os quadros. Shamron suspirou e continuou com a sua explicação.
— Estamos convencidos de que ele esteve envolvido em operações de terrorismo durante a segunda Intifada. Colocámo-lo numa lista de suspeitos procurados, mas a Autoridade palestina recusou-se a entregá-lo. Presumimos que ele se estava a esconder dentro da Mukata com Arafat e o resto dos oficiais superiores.
— A Mukata era o nome do complexo murado e militarizado de Arafat. — Mas quando irrompemos pela Mukata durante a Operação Escudo de Defesa, Hadawi não se encontrava entre os homens aí escondidos.
— Onde é que ele estava?
Shabak e Aman presumiram que ele tinha fugido para a Jordânia ou para o Líbano. Entregaram o arquivo do caso ao Escritório. Infelizmente, localizar Hadawi não era um assunto de topo na lista de prioridades de Lev. Vemos agora que foi um erro que nos saiu caro. — Hadawi ainda é membro da Força 17?
— Não temos a certeza.
— Ainda tem ligações com Arafat?
— Ainda não sabemos.
— Shabak acha que Hadawi foi capaz de engendrar algo assim?
— Nem por isso. Ele foi considerado um soldado raso, não um cérebro. Roma foi planejada e executada por alguém com um certo nível. Alguém muito inteligente.
Alguém capaz de engendrar um ato chocante de terrorismo na cena mundial. Alguém com experiência neste tipo de coisa.
— Como quem?
— É isso que queremos que descubra.
— Eu?
— Queremos que encontre os animais que executaram este massacre, e queremos que abata a todos. Será exatamente como em 72, exceto que desta vez será você a comandar e não eu.
Gabriel sacudiu lentamente a cabeça.
— Eu não sou investigador. Eu fui executor. Além disso, esta já não é minha guerra. E a guerra de Shabak. É a guerra de Sayaret.
— Eles regressaram à Europa — disse Shamron. — A Europa é território do Escritório. Esta é sua guerra.
— Porque é que não lideras a equipe?
— Sou um mero conselheiro sem qualquer autoridade operacional.
— O tom de Shamron estava pesado de ironia. Ele gostava de representar o papel de funcionário civil reformado que tinha sido colocado à margem antes do seu tempo, mesmo que a realidade fosse muito diferente. — Além disso, Lev nem sequer quer ouvir falar nisso.
— E ele deixa-me liderar a equipe?
— Não tem qualquer escolha. O primeiro-ministro já falou acerca disto. Claro que eu lhe estava a sussurrar ao ouvido na altura. Shamron interrompeu-se. — No entanto, Lev fez uma exigência, e receio que eu não estava em posição de o desafiar.
— E qual é?
— Ele insiste que tu regresses à folha de pagamentos e aos teus deveres a tempo inteiro.
Gabriel tinha deixado o Escritório depois do atentado a bomba em Viena. As suas missões nos anos intermédios tinham sido essencialmente casos freelance orquestrados por Shamron.
— Ele quer-me sob a disciplina do Escritório, de modo a poder manter-me sob o seu controle — disse Gabriel.
— Os seus motivos são bastante óbvios. Para um homem do serviço secreto, Lev faz um trabalho terrível a cobrir o seu próprio rasto. Mas não o consideres como algo de pessoal. É a mim que Lev despreza. Tu, receio, és culpado por associação.
Um clamor súbito ergueu-se da rua, crianças a correr e a gritar. Shamron permaneceu em silêncio até o ruído se ter dissipado. Quando voltou a falar, a sua voz tinha um novo tom de gravidade.
— Aquele CD não continha apenas o teu dossiê — disse. Também encontramos fotografias de vigilância e análises detalhadas da segurança de diversos alvos potenciais e futuros na Europa.
— Que tipo de alvos?
— Embaixadas, consulados, escritórios da El Al, as principais sinagogas, centros de comunidades judaicas, escolas. — A última palavra de Shamron ecoou na igreja durante um momento antes de se desvanecer. — Eles vão voltar a abater-se sobre nós, Gabriel. Podes ajudar-nos a travá-los. Tu conhecê-los tão bem quanto qualquer pessoa no Boulevard King Saul. — Desviou o olhar para o altar. — Tu conhecê-los como as pinceladas do teu Bellini.
Shamron olhou para Gabriel.
— Os teus dias em Veneza terminaram. Está um avião à espera do outro lado da lagoa. Vais apanhá-lo, quer queiras quer não. O que fazes depois disso é assunto teu. Podes ficar sentado num apartamento de segurança, a pensar no estado da tua vida, ou pode ajudar-nos a encontrar aqueles assassinos antes que eles voltem a atacar.
Gabriel nada podia dizer. Shamron estava certo: ele não tinha qualquer escolha além de se ir embora. Apesar disso, havia algo no tom satisfeito da voz de Shamron que Gabriel achava irritante. Durante anos Shamron tinha-lhe suplicado que esquecesse a Europa e regressasse a Israel, de preferência para assumir o controle do Escritório ou, pelo menos, das Operações. Gabriel não o podia evitar mas sentia que Shamron, no seu modo maquiavélico, estava a tirar um certo prazer de toda a situação.
Levantou-se e dirigiu-se ao altar-mor. Tentar terminá-lo apressadamente estava fora de questão. A figura de São Cristóvão, com o Cristo Menino sobre os ombros, ainda necessitava de retoques substanciais.
Depois toda a peça requeria numa nova camada de verniz. No mínimo quatro semanas, provavelmente seis. Supôs que Tiepolo teria de entregar o trabalho a outra pessoa para o terminar, um pensamento que fez com que o estômago de Gabriel se revolvesse. Mas havia outra coisa: Israel não estava propriamente inundada com quadros de Antigos Mestres italianos. Possivelmente nunca mais voltaria a tocar num Bellini.
— O meu trabalho é aqui — disse Gabriel, embora a sua voz soasse resignada. — Não, o teu trabalho era aqui. Tu vais para casa — Shamron hesitou — , para Boulevard King Saul. Para Eretz Yisrael.
— Leah também — disse Gabriel. — Vai demorar algum tempo a preparar as coisas. Até essa altura, quero um homem no hospital. Não me interessa que o dossiê diga que ela está morta.
— Já enviei um agente da Segurança da delegação de Londres. Gabriel olhou para Chiara.
— Ela também vai — disse Shamron, lendo-lhe os pensamentos.
— Deixaremos uma equipe da Segurança em Veneza durante tanto tempo quanto o que for necessário para assegurar a segurança da família dela bem como da comunidade.
— Vou ter de dizer a Tiepolo que me vou embora.
— Quanto menos pessoas souberem melhor.
— Não me interessa — disse Gabriel. — Devo-lhe isso.
— Faz o que tiveres de fazer. Mas fá-lo depressa.
— E quanto à casa? Há coisas...
— A Extração tratará de suas coisas. Quando tiverem acabado, não existirá aqui qualquer vestígio da sua presença. — Shamron, apesar da admoestação de Gabriel, acendeu um cigarro. Manteve o fósforo levantado durante um momento, e depois soprou-o cerimoniosamente. — Será como se nunca tivesses existido.
Shamron deu-lhe uma hora. Gabriel, com a Beretta de Chiara no bolso, saiu pela porta dos fundos da igreja e dirigiu-se ao Castello. Tinha vivido ali durante a sua aprendizagem e conhecia bem as labirínticas ruas da sestière. Avançou por uma zona onde os turistas nunca iam e muitas das casas estavam desabitadas. O seu percurso, deliberadamente tortuoso, levou-o através de diversos sottoportegi subterrâneos, onde era impossível que alguém se escondesse. Uma vez enfiou-se de propósito num pátio fechado, do qual só havia uma entrada. Passados 20 minutos, teve a certeza de que não era seguido.
O escritório de Francesco Tiepolo situava-se em San Marco, na Viale 22 Marzo. Gabriel encontrou-o sentado atrás de um enorme móvel de carvalho que ele usava como mesa, o corpo volumoso dobrado sobre uma pilha de papéis. Se não fosse pelo laptop e a iluminação elétrica, bem podia ser uma figura da Renascença. Levantou o olhar para Gabriel e sorriu através da barba preta e embaraçada. Nas ruas de Veneza, os turistas confundiam-no com frequência com Luciano Pavarotti. Ultimamente tinha decidido pousar para fotografias e cantar muito mal algumas notas de "Non ti scordar di me".
Fora outrora um grande restaurador; agora era um homem de negócios. Na verdade, a empresa de Tiepolo era a de maior sucesso de todo o Veneto. Ele passava a maior parte dos dias preparando orçamentos para diversos projetos ou trancado em batalhas políticas com os funcionários venezianos responsáveis pela manutenção dos tesouros artísticos e arquitetônicos da cidade. Uma vez por dia, aparecia na Igreja de San Crisóstomo para incitar seu restaurador, o recalcitrante e recluso Mario Delvecchio, a trabalhar mais depressa. Tiepolo era a única pessoa no mundo da arte, além de Julian Isherwood, que conhecia a verdade sobre o talentoso Signore Delvecchio. Tiepolo sugeriu que fossem beber um copo de prosecco, e então, diante da relutância de Gabriel em deixar o trabalho, foi buscar uma garrafa de ripasso na sala ao lado. Gabriel esquadrinhou as fotografias emolduradas dispostas na parede atrás da mesa veneziana. Havia uma nova fotografia de Tiepolo com o seu bom amigo, Sua Santidade, o Papa Paulo VII. Pietro Lucchesi tinha sido o Patriarca de Veneza antes de se mudar, relutantemente, para o Vaticano para se tornar o líder mundial de bilhões de católicos romanos. A fotografia mostrava Tiepolo e o papa sentados na sala de jantar do magnificamente restaurado palazzo de Tiepolo no Grande Canal. O que não mostrava é que, nesse momento, Gabriel estava sentado à esquerda do papa. Dois anos antes, com uma pequena ajuda de Tiepolo, tinha salvado a vida do papa e destruído uma grande ameaça a seu papado. Esperava que Chiara e a equipe de Extração tivessem encontrado o cartão de Hanuka que o Papa lhe tinha enviado em dezembro.
Tiepolo serviu dois copos de um ripasso vermelho-sangue e empurrou um através da mesa na direção de Gabriel. Metade do seu vinho desapareceu numa única golada. Apenas no seu trabalho é que Tiepolo era meticuloso. Em todas as outras coisas — Comida, bebida, as suas muitas mulheres — , Francesco Tiepolo era dado a extravagâncias e excessos. Gabriel debruçou-se para a frente e em voz baixa contou as notícias a Tiepolo — que os seus inimigos o tinham encontrado em Veneza, que não tinha qualquer opção além de deixar imediatamente a cidade, antes de poder terminar o Bellini. Tiepolo sorriu tristemente e fechou os olhos.
- Não há outra maneira? Gabriel sacudiu a cabeça.
— Eles sabem onde vivo. Sabem onde trabalho.
— E Chiara?
Gabriel respondeu honestamente à pergunta. Tiepolo, em italiano, era um uomo di fiducia, um homem de confiança.
— Lamento o Bellini — disse Gabriel. — Devia tê-lo terminado há meses. — E tê-lo-ia feito, se não fosse o caso Radek.
— Para o Inferno com o Bellini! É contigo que estou preocupado. — Tiepolo olhou para o vinho. — Vou sentir a falta de Mario Delvecchio, mas ainda vou sentir mais a falta de Gabriel Allon.
Gabriel ergueu o copo na direção de Tiepolo.
— Sei que não estou em posição de te pedir um favor... — A sua voz quebrou-se. Tiepolo olhou para a fotografia do Santo Padre e disse,
— Tu salvaste a vida do meu amigo. O que queres?
— Que acabe o Bellini por mim.
— Eu?
— Nós tivemos o mesmo professor, Francesco. Umberto Conti ensinou bem.
— Sim, mas sabe há quanto tempo não restauro um quadro?
— Vai correr tudo bem. Confie em mim.
- Isso é um verdadeiro voto de confiança, vindo de um homem como Mario Delvecchio.
— Mario morreu, Francesco. Mario nunca existiu.
Gabriel regressou a Cannaregio através da escuridão que se adensava. Dirigiu-se por um atalho de modo a poder caminhar, pela última vez, através do antigo gueto.
Na praça, observou possessivamente dois rapazes, vestidos de preto com barbas onduladas e não aparadas, que se apressavam através das pedras do pavimento em direção à yesbiva*. Olhou para o relógio. Tinha-se passado uma hora desde que tinha deixado Shamron e Chiara na igreja. Virou-se e começou a avançar em direção à casa que em breve não teria qualquer vestígio da sua existência, e ao avião que o levaria de regresso a casa. Enquanto caminhava, duas questões passavam-lhe incessantemente pela cabeça. Quem o tinha encontrado em Veneza? E porque o estavam a deixar partir vivo?
*Escola onde se estuda a Tora.
CAPÍTULO 5
TEL AVIV: 10 DE MARÇO
Gabriel chegou à Avenida do Rei Saul às oito horas da manhã seguinte. Dois funcionários do pessoal aguardavam-no. Usavam camisas de algodão a condizer e sorrisos iguais — os sorrisos rígidos e sem humor de homens a quem se dá o poder de fazer perguntas embaraçosas. Aos olhos do pessoal, o regresso de Gabriel à disciplina do Escritório deveria ter acontecido há muito. Ele era como um bom vinho, que devia ser lentamente saboreado acompanhado por muitas observações. Gabriel colocou-se nas mãos deles com o ar melancólico de um fugitivo que se rende, após um longo período em fuga, e seguiu-os até o alto das escadas.
Havia declarações para assinar, votos a jurar, e perguntas sem resposta acerca do estado da sua conta bancária. Foi fotografado e emitiram-lhe um cartão identificativo, que lhe pendia do pescoço como se fosse um albatroz. Foram-lhe tiradas novas impressões digitais porque ninguém parecia encontrar as originais de 1972. Foi examinado por um médico que, ao ver as cicatrizes que lhe cobriam todo o corpo, pareceu surpreso por lhe encontrar pulsação e pressão arterial. Até aguentou uma sessão entediante com um psicólogo do Escritório, que rabiscou algumas notas no arquivo de Gabriel, e saiu apressadamente da sala. O departamento de Veículos Automóveis concedeu-lhe a utilização temporária de um Skoda; o departamento de Alojamento destinou-lhe uma cela sem janelas na cave e alojamento até ele encontrar um local onde viver. Gabriel, que desejava manter um amortecedor entre ele e Boulevard King Saul, escolheu um apartamento de segurança desabitado na Rua Narkiss, em Jerusalém, não muito distante do antigo campus da Bezalel Academy of Art. Ao entardecer, foi convocado à suite executiva para o ritual final do seu regresso. A luz por cima da porta de Lev estava verde. A secretária deste, uma atraente moça com pernas bronzeadas e cabelo cor de canela, premiu um botão invisível, e a porta abriu silenciosamente como a entrada do cofre de um banco.
Gabriel entrou e deteve-se antes de continuar a avançar. Sentiu-se peculiarmente deslocado, como um homem que regressa ao seu quarto de infância apenas para descobrir que aquele se transformou no escritório do pai. O Escritório tinha pertencido anteriormente a Shamron. A secretária de madeira riscada e os arquivos metálicos tinham desaparecido, bem como o rádio alemão de ondas curtas no qual ele monitorizava as vozes belicosas dos seus inimigos. Agora a decoração era moderna e de um cinza monocromático. O antigo chão de linóleo tinha sido arrancado e coberto por um tapete de pelúcia.
Estrategicamente colocadas à volta da sala encontravam-se diversas carpetes orientais de aparência cara. Uma lâmpada de halogêneo embutida no tecto incidia sobre uma área com sofás de couro negro e mobiliário contemporâneo que fez Gabriel lembrar-se da sala de espera de primeira classe num aeroporto. A parede mais próxima desta área tinha sido transformada num expositor com um gigantesca tela de plasma, do qual a imprensa mundial tremeluzia silenciosamente em alta definição. O controle remoto, pousado sobre uma mesa de centro de vidro, tinha o tamanho de um livro de orações e parecia precisar de um doutorado em engenharia para o pôr a funcionar.
Enquanto Shamron tinha colocado a secretária em frente da porta como se fosse uma barreira, Lev tinha escolhido mudar-se para junto das janelas. As venezianas de um cinza-pálido estavam corridas, mas colocadas num ângulo que era possível perceber a linha do horizonte denteado da Baixa de Tel Aviv e um grande sol laranja afundando lentamente no Mediterrâneo. A secretária de Lev, uma enorme extensão de vidro fumado, estava vazia excepto pelo computador e por dois telefones. Lev estava sentado atrás do monitor, com as mãos cruzadas como uma louva-a-deus sob o queixo pontiagudo. A sua cabeça calva brilhava suavemente numa luz fraca. Gabriel reparou que os óculos de Lev não lançavam qualquer reflexo. Ele usava lentes especiais de modo que os seus inimigos — querendo com isto dizer, qualquer pessoa dentro do Escritório que se opusesse a ele — não pudessem ver aquilo que ele estava a ler.
— Gabriel — disse, como se surpreso pela sua presença. Saiu detrás da secretária e apertou cuidadosamente a mão de Gabriel, e depois com um dedo ossudo premido contra a espinha de Gabriel como uma pistola, levou-o através da sala até a zona onde se encontravam os sofás. Enquanto se sentava numa das cadeira, uma das imagens na tela de parede captou-lhe a atenção, embora Gabriel não pudesse dizer qual. Lev suspirou pesadamente, depois virou devagar a cabeça e observou Gabriel com um olhar predatório.
A sombra da sua última reunião caiu entre eles. Tinha decorrido não naquela sala mas em Jerusalém, no Escritório do primeiro-ministro. Só havia um assunto em agenda: se o Escritório deveria capturar Erich Radek e trazê-lo de volta para Israel para enfrentar a justiça. Lev tinha-se oposto firmemente à ideia, apesar de o fato de Radek quase ter morto a mãe de Gabriel durante a marcha da morte de Auschwitz, em Janeiro de 1945. O primeiro-ministro tinha rejeitado a opinião de Lev e ordenara que Gabriel fosse o responsável pela operação para capturar Radek e o tirar da Áustria. Radek vivia agora numa instalação da Polícia em Jafa, e Lev tinha passado grande parte dos dois últimos meses a tentar desfazer os danos causados pela sua oposição inicial à captura de Radek. A posição de Lev entre as tropas Boulevard King Saul tinha caído a níveis perigosamente baixos. Em Jerusalém, alguns começavam a perguntar-se se o tempo de Lev tinha chegado e terminado.
— Tomei a liberdade de reunir a tua equipe — disse Lev. Premiu o botão do intercomunicador do telefone e chamou a secretária. Esta entrou na sala com um arquivo debaixo do braço. As reuniões de Lev eram sempre bem coreografadas.
Não havia nada de que ele gostasse mais do que andar de um lado para o outro em frente de um gráfico complicado, de ponteiro na mão, a decodificar os segredos deste para uma audiência mistificada.
Enquanto a secretária se dirigia para a porta, Lev olhou para Gabriel para ver se ele estava a vê-la a afastar-se. Depois, sem proferir palavra, entregou o arquivo a Gabriel e desviou mais uma vez o olhar para a tela de parede. Gabriel abriu a capa e encontrou diversas folhas de papel, cada uma contendo um resumo de um membro da equipe: nome, seção, área de especialidade. O Sol tinha desaparecido sob a linha do horizonte, e o Escritório tinha ficado subitamente muito escuro. Gabriel, para poder ler o arquivo, tinha de se debruçar ligeiramente para a esquerda e segurar as páginas diretamente sob a lâmpada de halogêneo do tecto. Passados alguns momentos, levantou os olhos para Lev.
— Esqueceste-te de acrescentar representantes de Hadassah e da Liga Desportiva Juvenil Maccabee.
A ironia de Gabriel embateu em Lev como uma pedra lançada contra um veloz trem de mercadorias.
— Aonde quer chegar, Gabriel?
— É gente demais. Tropeçaremos uns nos outros.
Ocorreu a Gabriel que talvez Lev quisesse exatamente aquilo. — Eu consigo investigar com metade destas pessoas.
Lev, com um aceno lânguido da mão, convidou Gabriel a reduzir o tamanho da equipe. Gabriel começou a tirar folhas e a colocá-las sobre a mesa de centro. Lev franziu o sobrolho. Os cortes de Gabriel, embora aleatórios, tinham claramente retirado o informante de Lev.
— Estes chegam — disse Gabriel, estendendo o arquivo a Lev.
— Precisamos de um lugar onde nos reunir. O meu Escritório é demasiado pequeno. — O Alojamento destinou-te a Sala 456C.
Gabriel conhecia-a bem. Três pisos abaixo do chão, a 456C não era mais do que um aterro para mobiliário velho e computadores obsoletos, com frequência usada por membros do pessoal do turno da noite como um lugar para encontros românticos.
— Excelente — disse Gabriel.
Lev cruzou uma perna longa sobre a outra e sacudiu uma linha invisível da calça.
— Nunca trabalhaste anteriormente no quartel-general, pois não, Gabriel?
— Sabes exatamente onde trabalhei.
— Motivo pelo qual acho que te devo dar um conselho útil. O progresso da tua investigação, presumindo que fazes algum, não deve ser partilhado com ninguém fora deste serviço. Reportarás a mim e apenas a mim. Está claro?
— Presumo que te estejas a referir ao velho.
— Sabes perfeitamente bem a quem me estou a referir. 57
— Shamron e eu somos amigos pessoais. Não vou acabar a minha relação com ele apenas para te deixar descansado.
— Mas evitarás discutir o caso com ele. Fui claro?
Lev não tinha nem lama nas botas nem sangue nas mãos, mas era um mestre na arte da manipulação.
— Sim, Lev — disse Gabriel. — Sei exatamente qual a tua posição. Lev levantou-se para indicar que a reunião estava terminada, mas
Gabriel permaneceu sentado.
— Há outra coisa de que precisava de falar contigo.
— O meu tempo é limitado — disse Lev, olhando para baixo.
— Não demora um minuto. É acerca de Chiara.
Lev, em vez de passar pela humilhação de se voltar a sentar, aproximou-se da janela e olhou para as luzes de Tel Aviv.
— O que ela tem?
— Não quero que volte a ser utilizada até determinarmos, quem mais viu o conteúdo daquele CD?
Lev voltou-se lentamente, como se fosse uma estátua num pedestal. Com a luz batendo-lhe nas costas, assemelhava-se a uma massa escura contra as linhas horizontais das venezianas.
— Fico satisfeito por te sentires suficientemente à-vontade para entrares neste Escritório e fazeres exigências — disse ele em tom agreste — , mas o futuro de Chiara será determinado pelas Operações e, derradeiramente, por mim.
— Ela é apenas uma bat leveyha. Está dizendo que não consegue encontrar outras moças para oficiais de escolta?
— Ela tem um passaporte italiano, e é muitíssimo boa no que faz. Sabes isso melhor do que ninguém.
— Também está queimada, Lev. Se a puseres em campo com um agente, vais pôr o agente em risco. Eu não trabalharia com ela.
— Felizmente, a maior parte dos nossos agentes de campo não é tão arrogante como tu.
— Nunca conheci um bom agente de campo que não fosse arrogante, Lev. O silêncio caiu entre eles. Lev dirigiu-se à secretária e premiu um botão do telefone. A porta abriu automaticamente, e o Escritório iluminou-se 1. Nome dado às espias femininas da Mossad. 58 com uma cunha de luz brilhante vinda da área de recepção de Lev. — Sei por experiência própria que os agentes de campo não aceitam bem a disciplina do quartel-general. No campo, eles são a lei, mas aqui a lei sou eu.
— Vou tentar lembrar-me disso, xerife.
— Não lixes isto — disse Lev enquanto Gabriel se encaminhava para a porta aberta. — Se o fizeres, nem sequer Shamron será capaz de te proteger. Reuniram-se às nove da manhã do dia seguinte. O Alojamento tinha feito uma tentativa meio encorajadora de colocar a sala em ordem. Uma mesa de conferências lascada encontrava-se no centro, rodeada por diversas cadeiras desemparelhadas. O excesso de destroços tinha sido empilhado contra a parede mais afastada. Gabriel, ao entrar, recordou-se dos bancos encostados à parede da igreja de San Giovanni Crisóstomo. Tudo a respeito do cenário sugeria transitoriedade, incluindo a enganadora folha de papel afixada na porta com fita adesiva, que dizia: COMITÉ TEMPORÁRIO PARA o ESTUDO DE AMEAÇAS TERRORISTAS NA EUROPA OCIDENTAL. Gabriel abarcou a confusão. Shamron sempre tinha dito que da adversidade nasce a coesão.
A sua equipe contava quatro elementos no total, dois homens e duas mulheres, todos admiradores seus, ansiosos e insuportavelmente jovens. Da Pesquisa tinha vindo Yossi, um analista do serviço secreto pedante mas brilhante, que tinha lido Greats em Oxford; de História, uma moça de olhos escuros chamada Dina que conseguia dizer de cor a hora, o lugar, e o número de mortes de cada ato de terrorismo alguma vez cometido contra o Estado de Israel. Ao andar, coxeava ligeiramente e era tratada com um carinho incondicional pelos outros. Gabriel descobriu a razão disso no arquivo pessoal dela. Dina encontrava-se na Rua Dizengoff, em Tel Aviv, no dia de outubro de 1994 em que um homem-bomba do Hamas transformou o ônibus nº5 num caixão para 21 pessoas. A sua mãe e duas das suas irmãs tinham sido mortas naquele dia. Dina tinha ficado gravemente ferida.
Os outros dois membros da equipe vinham do exterior do Escritório. O Departamento dos Negócios Estrangeiros Árabe de Shabak emprestou a Gabriel um rufião de rosto marcado pelas bexigas chamado Yaakov, que tinha passado a maior parte da última década a tentar penetrar o aparelho terrorista da Autoridade palestina. Os Serviços Secretos Militares cederam-lhe um capitão chamado Rimona, que era sobrinha de Shamron. A última vez que Gabriel tinha visto
Rimona, esta lançava-se temerariamente pelo caminho íngreme de acesso à casa de Shamron numa trotineta. Atualmente, Rimona podia ser encontrada num hangar de segurança para aviões a norte de Tel Aviv, debruçando-se sobre os papéis apanhados no complexo de Yasser Arafat em Ramallah.
Instintivamente, Gabriel abordou o caso como se fosse um quadro. Recordou-se do restauro que tinha executado não muito tempo depois da sua aprendizagem, uma crucificação por um veneziano do início do Renascimento chamado Cima. Depois de retirar o verniz amarelecido, Gabriel tinha descoberto que virtualmente não restava nada do original. Passara os três meses seguintes a juntar retalhos da vida e obra do pintor obscuro. Quando começou por fim a restaurá-lo, era como se Cima estivesse junto ao seu ombro, guiando-lhe a mão.
O artista, naquele caso, era um membro da equipe terrorista que tinha sido positivamente identificado: Daoud Hadawi. Hadawi era a abertura deles para a operação, e lentamente durante os dias que se seguiram, a sua breve vida começou a tomar forma nas paredes do covil de Gabriel. Estendia-se de um campo de refugiados decrépito em Jenin, passando pelas pedras e pneus queimados da primeira Intifada, e terminava nas fileiras da Força 17. Nenhum recanto da vida de Hadawi permaneceu por explorar: a sua educação e fervor religioso, a sua família e tribo, as suas associações e as suas influências.
Localizaram e vigiaram o pessoal da Força 17 conhecido. Aqueles que se pensava terem a perícia ou educação necessária para construir uma bomba que deitasse abaixo a embaixada de Roma foram separados dos outros para se lhes dedicar uma atenção especial. Informantees árabes foram chamados e interrogados desde Ramallah até a cidade de Gaza, de Roma a Londres. As intercepções das comunicações estendendo-se a um período de dois anos foram filtradas através de computadores, e esquadrinhadas em busca de qualquer referência a uma operação em larga escala na Europa. Relatórios antigos de vigilância e observação foram reexaminados, antigas listas de passageiros de companhias de aviação novamente reavaliadas. Rimona regressava todas as manhãs ao seu hangar para procurar vestígios de Roma nos arquivos capturados do serviço secreto de Arafat.
Gradualmente, a Sala 456C começou a assemelhar-se à sala de comando do bunker de um exército cercado. Havia tantas fotografias pregadas às paredes que parecia que a sua busca estava a ser monitorizada por uma turba árabe. As moças dos departamentos de dados resolveram começar a deixar as suas entregas no corredor. Gabriel requisitou a sala adjacente, bem como camas de campanha e lençóis. Também requisitou um cavalete e um quadro de ardósia. Yossi referiu desdenhoso que ninguém via um quadro de ardósia no interior Boulevard King Saul há pelo menos 20 anos, e pela sua impertinência foi-lhe ordenado que encontrasse um. Aquele chegou na manhã seguinte.
— Tive de me servir de muitos favores — disse Yossi. — As tábuas de pedra e os escopos chegam na próxima semana.
Gabriel começava cada dia por colocar uma série de questões: quem construiu a bomba? Quem tinha concebido e planejado o atentado? Quem dirigia as equipes? Quem assegurava as casas de segurança e o transporte? Quem tratava do dinheiro?
Quem era o cérebro? Havia um patrocinador estatal em Damasco, Teerã ou Trípoli?
Passada uma semana das investigações, nenhuma das questões tinha ainda resposta. A frustração começou a instalar-se. Gabriel incitou-os a mudar de abordagem.
— Por vezes, estes puzzles são resolvidos ao encontrar-se a peça que falta. — Limpou o quadro de ardósia. — Comecem a procurar a peça que falta.
Jantavam juntos todas as noites como uma família. Gabriel encorajou-os a porem o caso de lado para falarem de qualquer outra coisa. Tornou-se naturalmente o foco da curiosidade deles, pois na Academia tinham estudado as suas operações e até tinham lido a respeito delas nalguns dos livros de história na escola. A princípio, Gabriel mostrou-se reticente, mas eles fizeram-no sair da sua concha, e ele representou o papel que Shamron, em incontáveis ocasiões, tinha representado perante 61 ele. Falou-lhes acerca do Setembro Negro e de Abujihad; a sua entrada no coração do Vaticano e a captura de Erich Radek. Rimona fê-lo explicar o que é que o papel de restaurador tinha representado no seu disfarce e na manutenção da sua sanidade. Yossi começou a fazer perguntas sobre o atentado a bomba em Viena, mas Dina, especialista em terrorismo e contraterrorismo, colocou-lhe uma mão no braço e mudou imediatamente de assunto. Por vezes, quando Gabriel estava falando, via Dina olhando para ele como se fosse um herói monumental que tivesse renascido para a vida. Ele percebeu que, como Shamron antes dele, tinha atravessado a linha entre a mortalidade e o mito.
Radek era aquele que os intrigava mais. Gabriel compreendia muito bem o motivo. Eles viviam num país onde não era seguro comer num restaurante ou andar de ônibus, mas era o Holocausto que ocupava um lugar especial nos seus pesadelos.
É verdade que o fez ir a pé até Treblinka? Tocou-o? Como conseguiu suportar a voz dele naquele lugar? Alguma vez ficou tentado a resolver as coisas com suas próprias mãos? Yaakov queria saber apenas uma coisa: "Ele lamentava ter assassinado nossas avós?" E Gabriel, embora fosse tentado a mentir, disse a verdade. — Não, ele não lamentou nada. De fato, tive a nítida sensação de que ainda se sentia orgulhoso disso.
Yaakov assentiu sombriamente, como se aquele fato parecesse confirmar a sua visão bastante pessimista da humanidade.
No Shabbat, Dina acendeu duas velas e recitou a bênção. Naquela noite, em vez de deambularem pelo passado negro de Gabriel, falaram dos seus sonhos. Yaakov apenas se queria sentar num café de Tel Aviv sem medo do shaheed. Yossi queria viajar pelo mundo árabe, de Marrocos a Bagdade, e registrar as suas experiências. Rimona ansiava ligar o rádio de manhã e ficar a saber que ninguém tinha sido morto na noite anterior. E Dina? Gabriel suspeitava que os sonhos de Dina, como os seus, eram uma sala de projeções secreta iluminada a sangue e fogo.
Depois do jantar, Gabriel esgueirou-se da sala e deambulou pelo corredor.
Chegou a um lance de escadas, subiu-as, depois desorientou-se e um vigilante noturno indicou a direção certa. Na entrada havia um guarda. Gabriel tentou mostrar o seu novo cartão de identificação, mas o segurança limitou-se a sorrir e abriu a porta.
A sala estava fracamente iluminada e, devido aos computadores, insuportavelmente fria. Os oficiais de serviço vestiam camisetas de lã e moviam-se com a eficiência silenciosa do pessoal noturno numa unidade de cuidados intensivos. Gabriel subiu até a plataforma superior e encostou-se ao corrimão de alumínio. Estendendo-se à sua frente encontrava-se um mapa-múndi gerado por computador, com três metros de altura e nove de comprimento. Espalhados pelo globo viam-se pontinhos de luz, cada um apresentando a última localização conhecida de um terrorista na lista de vigilância de Israel. Havia aglomerados em Damasco e Bagdade, e até em locais supostamente amigáveis como Ama e o Cairo. Um rio de luz fluía de Beirute para o vale de Bekaa até os campos de refugiados ao longo da fronteira setentrional de Israel. A Cisjordânia e a Faixa de Gaza estavam incandescentes. Uma fieira de luzes espalhava-se através da Europa como um colar de diamantes. As cidades da América do Norte brilhavam sedutoramente.
Gabriel sentiu nos ombros o peso súbito da depressão. Tinha dado a sua vida para proteger o Estado e o povo judeu, e no entanto ali, naquela sala gelada, foi confrontado com a realidade crua do sonho sionista: um homem de meia-idade, olhando para uma constelação de inimigos, esperando que o próximo explodisse.
Dina aguardava-a no corredor com os pés calçados com meias.
— Parece-me familiar, Gabriel.
— O quê?
— O modo como o executaram. O modo como se moveram. O planejamento. A audácia fria da coisa. Parece Munique e Sabena. — Interrompeu-se e prendeu uma madeixa solta de cabelo escuro atrás da orelha. — Parece o Setembro Negro.
— Não existe um Setembro Negro, Dina... pelo menos, já não existe.
— Pediu para procurarmos a peça que faltava. Isso inclui Khaled?
— Khaled é um rumor. Khaled é uma história de fantasmas.
— Eu acredito em Khaled — replicou ela. — Khaled me mantém acordada à noite.
— Tem algum palpite?
— Uma teoria — disse ela — , e algumas provas interessantes para apoiá-la. Quer ouvir?
CAPÍTULO 6
TEL AVIV: 20 DE MARÇO
Voltaram a reunir-se às dez horas daquela noite. A disposição geral, recordar-se-ia Gabriel mais tarde, era a de um grupo de estudo de uma universidade, demasiado exausto para um empreendimento sério, mas demasiado ansioso para se separar dos restantes companheiros. Dina, de modo a dar credibilidade à sua teoria, encontrava-se atrás de uma pequena mesa. Yossi sentava-se de pernas cruzadas no chão, rodeado pelos preciosos arquivos da Pesquisa. Rimona, a única uniformizada, tinha pousado os pés calçados de sandálias nas costas da cadeira vazia de Yossi. Yaakov sentou-se ao lado de Gabriel, o corpo rígido como granito.
Dina apagou as luzes e colocou uma fotografia no projetor. Mostrava uma criança, um rapazito, com uma boina na cabeça e um kaffiyeh caindo-lhe pelos ombros. O rapaz estava sentado ao colo de um homem mais velho de olhar perturbado: Yasser Arafat.
— Esta é a última fotografia confirmada de Khaled al-Khalifa — disse Dina.
— O local é Beirute, o ano 1979. A ocasião é o funeral do pai dele, Sabri al-Khalifa. Passados dias do funeral, Khaled desapareceu. Nunca mais foi visto.
Yaakov remexeu-se na obscuridade.
— Pensei que fôssemos falar de casos reais — resmungou ele.
— Deixem-na acabar — disparou Rimona.
Yaakov apelou a Gabriel, mas o olhar deste estava fixo nos olhos acusadores da criança.
— Deixem-na acabar — murmurou ele.
Dina retirou a fotografia da criança e colocou outra no seu lugar. A preto e branco e ligeiramente desfocada, mostrava um homem montado a cavalo com bandoleiras a atravessarem-lhe o peito. Um par de olhos escuros desafiadores, mal visíveis através da pequena abertura do kaffiyeh, olhavam diretamente para a lente da máquina fotográfica.
— Para compreender Khaled — disse Dina — , tem de se conhecer a sua famosa linhagem. Este homem é Asad al-Khalifa, o avô de Khaled, e a história começa com ele.
Palestina governada pelos turcos: Outubro de 1910
Nasceu numa aldeia de Beit Sayeed, filho de um fellah desesperadamente pobre que tinha sido amaldiçoado com sete filhas. Chamou ao seu único filho, Asad: Leão. Mimado pela mãe e irmãs, adorado pelo pai débil e envelhecido, Asad al-Khalifa era uma criança preguiçosa que nunca aprendeu a ler ou a escrever, e que se recusou a memorizar o Corão contrariando as exigências do pai. Por vezes, quando queria algum dinheiro para gastar, caminhava pelo caminho esburacado que conduzia ao assentamento judaico de Petah Tikvah e trabalhava todo o dia por algumas piastras. O capataz judaico chamava-se Zev. "Que em hebraico quer dizer lobo", disse ele a Asad. Zev falava árabe com um sotaque estranho e perguntava sempre a Asad como era a vida em Beit Sayeed. Asad odiava os judeus, como toda a gente em Beit Sayeed, mas o trabalho não era muito árduo, e sentia-se feliz por receber o dinheiro de Zev.
Petah Tikvah impressionou o jovem Asad. Como é que os sionistas, recém-chegados àquela terra, tinham feito um tão grande progresso quando a maior parte dos árabes ainda vivia na penúria? Depois de ter visto as villas de pedra e as ruas limpas do assentamento judaico, Asad sentia-se envergonhado quando regressava a Beit Sayeed.
Queria viver bem, mas sabia que nunca se tornaria um homem rico e poderoso se continuasse a trabalhar para um judeu chamado Lobo. Deixou de ir trabalhar para Petah Tikvah e dedicou o seu tempo a pensar numa nova carreira.
Uma noite, enquanto jogava dados num café da aldeia, ouviu um homem mais velho a fazer um comentário injurioso acerca de uma das suas irmãs. Aproximou-se da mesa do homem e perguntou-lhe calmamente se tinha ouvido corretamente o comentário. "Na verdade, ouviu", respondeu o homem. "E o que ainda é pior, a desafortunada moça tem o rosto de um burro." Ao dizer aquilo todo o café desatou à gargalhada. Asad, sem proferir mais palavras, voltou para a sua mesa e continuou com o jogo de dados. Na manhã seguinte, o homem que lhe tinha insultado a irmã foi encontrado num pomar próximo com a garganta aberta e um sapato enfiado na boca, o pior insulto árabe. Uma semana depois, quando o irmão do homem jurou publicamente vingar a sua morte, também ele foi encontrado no pomar nas mesmas condições. Depois disso, ninguém se atrevia a insultar o jovem Asad.
O incidente no café ajudou Asad a encontrar a sua vocação. Descobriu a sua nova notoriedade e recrutou um exército de bandidos. Escolheu apenas homens da sua tribo e clã, sabendo que estes nunca o trairiam. Queria poder ter a capacidade para efetuar golpes em locais afastados de Beit Sayeed, por isso assaltou um estábulo cheio de cavalos dos novos dirigentes da Palestina, o exército britânico. Queria ter a capacidade para intimidar rivais, por isso também roubou armas aos ingleses. Quando os seus assaltos começaram, estes eram algo que a Palestina não via há gerações. Ele e o seu bando abatiam-se sobre aldeias e vilas da planície costeira até a Galileia e aos montes da Samaria, e depois desapareciam sem deixar rasto. As suas vítimas eram sobretudo outros árabes, mas ocasionalmente assaltava um assentamento judaico fracamente defendido — e por vezes, se estivesse com vontade de sangue judeu, raptava um sionista e matava-o com a sua longa adaga curva.
Asad al-Khalifa tornou-se rapidamente um homem rico. Ao contrário de outros criminosos árabes bem sucedidos, não atraía as atenções exibindo a sua fortuna recentemente adquirida. Usava a túnica e a kaffiyeh de um fellah vulgar, e passou muitas noites na cabana de lama e palha da família. Para assegurar a sua proteção, espalhou dinheiro e o produto das pilhagens entre o seu clã. Para o mundo exterior a Beit Sayeed, ele parecia ser apenas um camponês comum, mas dentro da aldeia o chamavam agora Sheikh Asad.
Não iria permanecer um mero bandido e assaltante de estradas durante muito mais tempo. A Palestina estava a mudar — e do ponto de vista dos árabes, não para melhor.
Em meados dos anos 30, a Yishuv, a população judaica da Palestina, tinha atingido quase meio milhão, comparada com aproximadamente um milhão de árabes. A taxa oficial de emigração era de 60 000 por ano, mas Sheikh Asad tinha ouvido dizer que a taxa atual era muito mais elevada do que isso. Até um rapaz pobre sem qualquer formação escolar conseguia perceber que os árabes seriam uma minoria no seu próprio país. A Palestina era como uma floresta de madeira seca. Uma simples fagulha podia incendiá-la.
A fagulha surgiu em 15 de abril de 1936, quando um bando de árabes abateu três judeus na estrada oriental de Tulkarm. Membros do grupo judaico Irgun Bet retaliaram ao matarem dois árabes, num local não muito distante de Beit Sayeed. Os acontecimentos descontrolaram-se rapidamente, culminando com um ataque árabe às ruas de Jafa que deixaram nove judeus mortos. A Revolta Árabe tinha começado. Tinha havido períodos de desassossego na Palestina, períodos em que a frustração árabe fervilhava até se transformar em motins e mortes, mas nunca tinha havido nada Como a violência coordenada e o desassossego que varreram a terra naquela Primavera e Verão de 1936. Os judeus de toda a Palestina tornaram-se alvos da raiva árabe.
Lojas foram saqueadas, pomares desenraizados, casas e assentamentos incendiados. Os judeus foram assassinados nos ônibus e nos cafés, até mesmo dentro das suas próprias casas. Em Jerusalém, os líderes árabes reuniram-se e exigiram terminar com toda a imigração judaica e instalarem de imediato um governo de maioria árabe. Sheikh Asad, embora ladrão, considerava-se mais do que tudo um shabab, jovem nacionalista, e viu a Revolta Árabe como uma oportunidade de destruir os judeus de uma vez por todas. Cessou imediatamente todas as suas atividades criminosas e transformou o seu bando de bandidos numa jihaddiyya, uma cela de luta secreta da guerra santa. Desencadeou em seguida uma série de ataques mortais contra alvos judeus e britânicos no distrito de Lídia, na Palestina Central, usando as mesmas tácticas furtivas de surpresa que tinha utilizado como ladrão. Atacou o assentamento judaico de Petah Tikvah, onde tinha trabalhado quando novo, e matou Zev, o seu antigo patrão, com um tiro na cabeça. Também alvejou os homens que via como os piores traidores da causa árabe, os effendis que tinham vendido grandes faixa de terra aos sionistas. Ele lesmo matou três desses homens com a sua adaga curva e longa. Apesar do secretismo que rodeava as suas operações, passado pouco tempo o nome
Asad al-Khalifa era conhecido dos homens do Conselho Superior Árabe, em Jerusalém. Haj Amin al-Husseini, o grande mufti e presidente do conselho, queria conhecer aquele guerreiro árabe astuto que tinha derramado tanto sangue judeu no distrito de Lídia. Sheikh Asad viajou até Jerusalém disfarçado de mulher e encontrou-se com o mufti de barba vermelha num apartamento da Cidade Velha, não muito longe da mesquita Al-Aksa.
— És um grande guerreiro, Sheikh Asad. Alá deu-te uma grande coragem... a coragem de um leão.
— Luto para servir Deus — disse Sheikh Asad, acrescentando depois rapidamente — , e a vós, claro, Haj Amin.
Haj Amin sorriu e cofiou a sua impecável barba vermelha.
— Os judeus são unidos. É essa a sua força. Nós, árabes, nunca conhecemos a unidade. Família, clã, tribo, é esse o modo árabe. Muitos dos nossos senhores da guerra, como tu, Sheikh Asad, são antigos criminosos, e receio que muitos deles estejam a usar a Revolta como um meio para enriquecerem. Estão a assaltar aldeias árabes e a extorquir tributos aos anciãos.
Sheikh Asad assentiu. Ele tinha ouvido falar de tais coisas. Para se assegurar que mantinha a lealdade dos árabes no distrito de Lídia, tinha proibido os seus homens de roubar. Tinha chegado ao ponto de cortar a mão de um dos seus próprios homens pelo crime de ter roubado uma galinha.
— Receio que se a Revolta se prolongar — prosseguiu Haj Amin — , as nossas antigas divisões começarão a afastar-nos. Se os nossos senhores da guerra agirem sozinhos, não passarão de simples setas contra a fortaleza de pedra do exército inglês e do Haganah judaico. Mas juntos — Haj Amin juntou as mãos — , podemos derrubar os seus muros e libertar esta terra sagrada dos infiéis.
— Que quer de mim, Haj Amin?
O grande mufti deu a Sheikh Asad uma lista de alvos no distrito de Lídia, e os homens do Sheikh atacaram-nos com uma eficácia impiedosa: assentamentos judaicos, pontes e linhas de eletricidade, entrepostos da Polícia. Em breve, Sheikh Asad tornou-se o senhor da guerra favorito de Haj Amin, e como o grande mufti tinha previsto, outros senhores da guerra tornaram-se invejosos dos elogios feitos ao homem de Beit Sayeed. Um deles, um salteador de Nablus chamado Abu Fareed, decidiu preparar-lhe uma armadilha. Enviou um emissário para se encontrar com um judeu do Haganah. O emissário disse ao judeu que o Sheikh Asad e os seus homens iriam atacar o assentamento sionista de Hadera dentro de três noites. Quando o Sheikh Asad e os seus homens se aproximaram naquela noite de Hadera, foram emboscados por forças britânicas e do Haganah, e feitos em pedaços num fogo cruzado assassino.
Sheikh Asad, gravemente ferido, conseguiu atravessar a fronteira para a Síria a cavalo. Recuperou numa aldeia nos montes Golã e calculou o que correra mal em Hadera. Obviamente que tinha sido traído por alguém no interior do campo árabe, alguém que soubera quando e onde é que ele ia atacar. Tinha duas escolhas, permanecer na Síria ou regressar ao campo de batalha. Não tinha homens nem armas, e alguém próximo de Haj Amin queria-o morto. Regressar à Palestina para continuar a lutar era um ato corajoso, mas dificilmente o mais sensato a fazer. Permaneceu nos Golã durante mais uma semana, depois partiu para Damasco.
A Revolta Árabe estava em breve em farrapos, rasgada por dentro — como Haj Amin tinha previsto — por feudos e rivalidades entre clãs. Por volta de 1938, havia mais árabes a morrer às mãos dos rebeldes do que judeus, e por volta de 1939 a situação tinha-se transformado numa batalha tribal pelo poder e prestígio entre os próprios senhores da guerra. Em Maio de 1939, três anos depois de ter começado, a grande Revolta Árabe estava terminada. Procurado pelos ingleses e pelo Haganah, Sheikh Asad decidiu permanecer em Damasco. Comprou um apartamento grande no centro da cidade e casou com a filha de outro exilado palestino. Esta teve um filho, a quem ele chamou Sabri. Depois desse filho, ficou estéril e não teve mais filhos. Asad pensou em divorciar-se ou arranjar outra mulher, mas por volta de 1947 os seus pensamentos estavam ocupados por outras coisas além de mulheres e filhos. 71
Mais uma vez Sheikh Asad foi convocado pelo seu velho amigo, Haj Amin. Também este estava a viver no exílio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mufti tinha-se juntado a Adolfo Hitler. Do seu luxuoso palácio em Berlim, o líder religioso islâmico tinha servido como uma valiosa ferramenta de propaganda nazi, exortando as massas árabes a apoiar a Alemanha nazi e apelando à destruição dos judeus. Um conhecido de Adolfo Eichmann, o arquiteto do Holocausto, o mufti tinha até planejado construir uma câmara de gás e um crematório na Palestina para exterminar ali os judeus. Enquanto Berlim caía, ele embarcou a bordo de um avião da Luftwaffe e voou para a Suíça. Tendo-lhe sido recusada a entrada, partiu em seguida para França. Os franceses aperceberam-se de que ele podia ser um aliado valioso no Oriente Médio e concederam-lhe santuário, mas por volta de 1946, com a pressão a aumentar para se levar o mufti a tribunal por crimes de guerra, foi-lhe permitido "escapar" para o Cairo. Perto do Verão de 1947, o mufti estava a viver em Alayh, uma estância nas montanhas do Líbano, e foi aí que se encontrou com o seu senhor da guerra de confiança, Sheikh Asad.
— Ouviu as notícias da América?
Sheikh Asad assentiu. A sessão especial do novo corpo mundial chamado Nações Unidas tinha-se reunido para começar a tratar do assunto respeitante ao futuro da Palestina.
— Obviamente — disse o mufti — , vão-nos fazer sofrer pelos crimes de Hitler. A nossa estratégia para lidar com as Nações Unidas será um boicote completo às medidas acordadas. Mas se eles decidirem conceder um metro quadrado da Palestina aos judeus, devemos estar preparados para lutar. É por isso que preciso de ti, Sheikh Asad.
Sheikh Asad fez a Haj Amin a mesma pergunta que lhe tinha feito anos antes em Jerusalém.
— O que quer que eu faça?
— Volte à Palestina e prepare-se para a guerra que está certamente próxima. Reúne um grupo de guerreiros, e planeje sua estratégia. Meu primo, Abdel-Kader, será responsável pela região de Ramallah e as colinas a leste de Jerusalém. Você vai comandar o distrito central: a planície costeira, Tel Aviv e Jafa e o corredor de Jerusalém.
— Farei isso — disse o Sheikh Asad, depois acrescentou rapidamente — , com uma condição.
O grande mufti ficou surpreso. Ele sabia que o Sheikh Asad era um homem feroz e orgulhoso, mas nenhum árabe alguma vez se tinha atrevido a falar com ele assim, em especial um antigo fellah. Apesar disso, sorriu e disse ao senhor da guerra para indicar o seu preço.
— Diga-me o nome do homem que me traiu em Hadera.
Haj Amin hesitou, depois respondeu com a verdade. Sheikh Asad era mais valioso para a sua causa do que Abu Fareed.
— Onde ele está?
Nessa noite, Sheikh Asad viajou até Beirute e abriu a garganta a Abu Fareed. Depois regressou a Damasco para se despedir da mulher e do filho, e prover às suas necessidades financeiras. Uma semana depois, tinha regressado à sua velha cabana de lama e palha em Beit Sayeed.
Passou os restantes meses de 1947 a reunir um grupo de homens e a planejar a sua estratégia para o conflito próximo. Assaltos diretos contra centros populacionais judaicos pesadamente defendidos provar-se-iam inúteis, concluiu ele. Em vez disso, atingiria os judeus onde eles eram mais vulneráveis. Os assentamentos judaicos estavam espalhados pela Palestina e dependiam das estradas para abastecimentos. Em muitos casos, como o vital Corredor de Jerusalém, essas estradas estavam sob o domínio dos povoados e aldeias árabes. Sheikh Asad compreendeu imediatamente a oportunidade que lhe surgia pela frente. Podia atingir alvos fáceis com uma completa surpresa táctica; depois, quando o ataque tivesse terminado, as suas forças podiam desvanecer-se por entre os santuários das aldeias. Os assentamentos iriam murchar lentamente, como os judeus que permanecessem na Palestina.
Em 29 de novembro, as Nações Unidas declararam que o domínio inglês na Palestina terminaria em breve. Iriam existir dois Estados na Palestina, um árabe, o outro judaico. Para os judeus, era uma noite de celebração. O sonho de dois mil anos de um Estado no antigo lar dos judeus tinha-se transformado em realidade. Para os árabes, era uma noite de lágrimas amargas. Metade do seu lar ancestral iria ser entregue aos judeus. Sheikh Asad al-Khalifa passou aquela noite a planejar o seu primeiro ataque. Na manhã seguinte, os seus homens atacaram um ônibus enquanto este percorria o seu caminho de Netanya para Jerusalém, matando cinco pessoas. A batalha pela Palestina tinha começado.
Durante o inverno de 1948, Sheikh Asad e os outros comandantes árabes transformaram as estradas da Palestina Central num cemitério judaico. Ônibus, táxis, e camiões de mercadorias foram atacados, condutores e passageiros massacrados sem misericórdia. Enquanto o Inverno se transformava em Primavera, as perdas do Haganah em homens e materiais aumentou a uma taxa alarmante. Durante um período de duas semanas em finais de Março, forças árabes mataram centenas dos melhores combatentes do Haganah e destruíram a maior parte da sua frota de veículos blindados. Perto do final do mês, os assentamentos de Negev ficaram cortados. Ainda mais importante, também o ficaram centenas de milhares de judeus de Jerusalém Ocidental. Os árabes tinham aproveitado a oportunidade — e Sheikh Asad estava quase a vencer sozinho a guerra pela Palestina.
Na noite de 31 de março de 1948, David Ben-Gurion, líder do Yishuv, encontrou-se em Tel Aviv com oficiais superiores do Haganah e com o Palmach, a força de ataque de elite, e ordenou-lhes que partissem numa ofensiva. Os dias em que tentavam proteger os trens vulneráveis contra números esmagadores estavam terminados, disse Ben-Gurion. Todo o empreendimento sionista iria enfrentar um colapso iminente a não ser que a batalha das estradas fosse vencida e o interior do país colocado em segurança. De modo a conseguir tal objetivo, o conflito teve de ser levado a um novo nível de violência. As aldeias árabes que Sheikh Asad e os outros senhores da guerra usavam como bases para as suas operações tinham de ser conquistadas ou destruídas — e se não existisse outra opção, os habitantes tinham de ser expulsos. O Haganah já tinha delineado um plano principal para uma tal operação. Chamava-se Tochnit Dalet: Plano D. Ben-Gurion ordenou que este começasse dentro de dois dias com a Operação Nachson, um assalto às aldeias alinhadas ao longo do Corredor de Jerusalém.
E mais uma coisa — disse ele aos seus comandantes quando a reunião terminou — , encontrem Sheikh Asad tão depressa quanto possível... e matem-no. O homem escolhido para caçar Sheikh Asad, um jovem agente do serviço secreto do Palmach chamado Ari Shamron, sabia que Sheikh Asad não seria fácil de encontrar. O senhor da guerra não tinha um quartel-general fixo e dizia-se que dormia todas as noites numa casa diferente. Shamron, embora tivesse emigrado para a Palestina vindo da Polônia em 1935, conhecia bem a mente árabe. Sabia que para os árabes havia algumas coisas que eram mais importantes do que uma Palestina independente. Algures durante a sua subida ao Poder, Sheikh Asad tinha certamente feito um inimigo — e algures na Palestina encontrava-se um árabe sedento de vingança.
Shamron demorou dez dias a encontrá-lo, um homem de Bei Sayeed que, muitos anos antes, tinha perdido dois irmãos para Sheikh Asad devido a um insulto no café da aldeia deu-lhe a informação. Shamron ofereceu ao árabe cem libras palestinas se ele lhe indicasse o paradeiro do senhor da guerra. Uma semana mais tarde, numa colina perto de Beit Sayeed, encontraram-se pela segunda vez. O árabe disse a Shamron onde podia ser encontrado o seu inimigo comum.
— Ouvi dizer que ele está a planejar passar a noite numa casa à saída de Lídia. Fica no meio de um laranjal. Asad, o cão assassino, está rodeado de guarda-costas. Eles escondem-se nos pomares. Se tentar atacar a casa com uma força grande, os guardas ficarão alertas e Asad fugirá como o cobarde que é. — E o que é que recomendas? — perguntou Shamron, jogando com a vaidade do árabe. — Um único assassino, um homem que se possa esgueirar através das defesas e matar Asad antes dele poder escapar. Por mais cem libras, serei esse homem. Shamron não desejava insultar o informante, por isso passou um momento a fingir que considerava a oferta, apesar de já se ter decidido. O assassinato de Sheikh Asad era demasiado importante para ser confiado a um homem que trairia o seu próprio povo por dinheiro. Apressou-se a regressar ao quartel-general do Palmach em Tel Aviv e deu as notícias ao comandante-delegado, um homem atraente de cabelo vermelho e olhos azuis chamado Yitzhak Rabin.
— Alguém precisa ir hoje sozinho a Lídia e matá-lo — disse Shamron. — Calculamos que quem quer que escolhamos não vai sair vivo daquela casa.
— Eu sei — disse Shamron — , e é por isso que tenho de ser eu.
— Vocè é importante demais para se arriscar numa missão como esta.
— Se isso continuar por muito mais tempo, vamos perder Jerusalém... e depois a guerra. O que é mais importante do que isso?
Rabin viu que não havia maneira de convencê-lo do contrário.
— O que posso fazer para ajudar?
— Garanta que haja um carro e um motorista à minha esperaa na ponta daquele laranjal depois que eu o matar.
À meia-noite, Shamron foi de moto de Tel Aviv a Lidia. Deixou a moto a cerca de um quilômetro da cidade e foi a pé o resto do caminho até a orla do pomar. Shamron tinha aprendido por experiência própria que tais assaltos eram melhor executados pouco antes do amanhecer, quando as sentinelas estavam cansadas e no seu pico mínimo de atenção. Entrou no pomar alguns minutos depois do nascer do Sol, armado com uma Sten e uma faca-de-mato de Iço. À primeira luz cinza do dia, conseguiu distinguir as sombras pagas dos guardas, encostados aos troncos das laranjeiras. Um destes dormia ruidosamente quando Shamron passou a rastejar perto dele. Um único guarda mantinha-se de vigilância no pátio empoeirado da casa. Shamron matou-o com um golpe silencioso da faca, depois entrou na casa.
Esta tinha apenas uma sala. Sheikh Asad dormia no chão. Dois dos seus principais tenentes estavam sentados de pernas cruzadas junto dele, bebendo café. Apanhados desprevenidos, não reagiram quando a porta se abriu. Só quando levantaram o olhar e viram um judeu armado é que tentaram pegar as armas. Shamron matou ambos com uma única rajada.
Sheikh Asad despertou sobressaltado e procurou sua espingarda. Shamron disparou. Ao morrer, Sheikh Asad olhou para os olhos do assassino.
— Outro tomará meu lugar — disse.
— Eu sei — replicou Shamron, depois voltou a disparar. Esgueirou-se da casa enquanto as sentinelas se aproximavam correndo. Na meia-luz do amanhecer, escolheu seu caminho por entre as árvores, até chegar à orla do laranjal. O carro o esperava; Yitzhak Rabin estava sentado atrás do volante.
— Está morto? — perguntou Rabin enquanto se afastava acelerando.
Shamron anuiu. — Está feito.
— Ótimo — disse Rabin. — Deixemos que os cães bebam o sangue dele.
CAPÍTULO 7
TEL AVIV
Dina tinha caído num silêncio prolongado. Yossi e Rimona, hipnotizados, observavam-na com a intensidade de crianças. Até Yaakov parecia ter caído sob o seu fascínio, não porque se tivesse convertido à causa de Dina mas porque queria saber onde é que a história os levaria. Gabriel, se ele tivesse pedido, teria contado.
E quando Dina colocou uma nova imagem no projetor — um homem espantosamente atraente com óculos de sol sentado numa esplanada — , Gabriel viu-o não no preto e branco granuloso da fotografia, mas na cena que surgia em sua memória: óleo sobre a tela, desgastada e amarelecida pela idade. Dina recomeçou a falar, mas Gabriel já não ouvia. Esfregava o verniz ensopado da memória, observando uma versão mais nova de si mesmo a correr através do pátio manchado de sangue de um edifício de apartamentos em Paris com uma Beretta na mão.
— Este é Sabri al-Khalifa — dizia Dina. — O cenário é o Boulevard St-Germain, em Paris, o ano é 1979. A fotografia foi tirada por uma equipe de vigilância do Escritório. Foi a última que tiraram.
Amã, Jordânia: Junho de 1967
Eram onze da manhã quando o jovem atraente de pele pálida e cabelo preto entrou num escritório de recrutamento da Fatah na Baixa de Ama. O oficial sentado atrás da mesa no hall estava maldisposto. Todo o mundo árabe o estava. A segunda guerra da Palestina tinha terminado. Em vez de libertar a terra dos judeus, tinha precipitado outra catástrofe sobre os palestinos. Em apenas seis dias, os militares israelenses tinham derrotado os exércitos conjuntos do Egito, da Síria e da Jordânia.
O Sinai, as colinas de Golã e a Cisjordânia estavam agora nas mãos dos judeus, e diversos milhares de palestinos tinham se transformado em refugiados.
— Nome? — disparou o recruta.
— Sabri al-Khalifa.
O homem da Fatah olhou para cima, espantado.
— Sim, claro que é — disse ele. — Lutei com o seu pai. Siga-me.
Sabri foi imediatamente enfiado num carro e conduzido a alta velocidade através da capital jordana até uma casa segura. Aí foi apresentado a um homem baixo, de aparência pouco impressionante, chamado Yasser Arafat.
— Estava à tua espera — disse Arafat. — Conheci o teu pai. Foi um grande homem. Sabri sorriu. Estava habituado a ouvir elogios a respeito do pai. Durante toda a vida tinham-lhe contado histórias acerca dos feitos heróicos do grande senhor da guerra de Beit Sayeed, e como os judeus, para punir os aldeões que tinham apoiado o pai, arrasaram a aldeia e forçaram os seus habitantes ao exílio. Sabri al-Khalifa pouco tinha em comum com a maior parte dos seus irmãos refugiados. Tinha sido criado num agradável bairro de Beirute, e educado nas melhores escolas e universidades da Europa. Juntamente com o seu árabe nativo, falava francês, alemão e inglês fluentemente. A sua educação cosmopolita tinha-o transformado num bem valioso para a causa palestina. Yasser Arafat não estava com vontade de o perder.
— A Fatah está cheia de traidores e colaboradores — disse Arafat. — De cada vez que enviamos uma equipe de assalto para o outro lado da fronteira, os judeus estão à nossa espera. Se alguma vez quisermos ser uma força de combate eficaz, temos de eliminar os traidores do nosso seio. Acho que um trabalho como esse te seria apelativo, dado o que aconteceu ao teu pai. Ele foi morto por um colaborador, não foi?
Sabri assentiu gravemente. Também lhe tinham contado aquela história. — Queres trabalhar para mim? — perguntou Arafat. — Lutarás pelo teu povo, como o teu pai o fez?
Sabri começou de imediato a trabalhar para o Jihaz ai Razd, o ramo do serviço secreto da Fatah. Passado um mês do início da sua missão, tinha desmascarado 20 colaboradores palestinos. Sabri fez questão de presenciar as execuções destes e disparava sempre um tiro simbólico contra cada um, como um aviso àqueles que consideravam trair a revolução.
Passados seis meses no Jihaz ai Razd, Sabri foi convocado para uma segunda reunião com Yasser Arafat. Esta decorreu numa casa segura diferente da primeira. O líder da Fatah, temendo os assassinos israelenses, dormia numa cama diferente todas as noites. Embora Sabri ainda não o soubesse, em breve estaria a viver da mesma maneira.
— Temos planos para ti — disse Arafat. — Planos muito especiais. Serás um grande homem. Os teus feitos rivalizarão até com os do teu pai. Em breve, todo o mundo conhecerá o nome Sabri al-Khalifa.
— Que tipo de planos?
— A seu devido tempo, Sabri. Primeiro, temos de te preparar. Foi enviado para o Cairo durante seis meses para um intenso treino terrorista sob a tutela do serviço secreto egípcios, o Mukhabarat. Enquanto no Cairo, foi apresentado a uma jovem palestina chamada Rima, filha de um oficial superior da Fatah. Parecia a combinação perfeita, e os dois casaram às pressas numa cerimônia privada presenciada apenas por membros da Fatah e agentes do serviço secreto egípcios. Um mês depois, Sabri foi de novo chamado à Jordânia para iniciar a fase seguinte da sua preparação. Deixou Rima no Cairo com o pai, e embora não o soubesse na altura, ela estava grávida do seu filho. A data do seu nascimento foi agourenta para os palestinos: setembro de 1970.
Durante algum tempo, o rei Hussein tinha estado preocupado com o poder crescente dos palestinos que viviam na Jordânia. A região ocidental do país tinha-se transformado num Estado virtual dentro do Estado, com uma cadeia de campos de refugiados regidos por militantes da Fatah pesadamente armados, que rejeitavam abertamente a autoridade do monarca hashemita. Hussein, que já tinha perdido metade do seu reino, temia perder o resto a não ser que retirasse os palestinos de solo jordano. Em setembro de 1970, ordenou aos seus ferozes soldados beduínos para fazerem exatamente isso.
Os combatentes de Arafat não estavam ao nível dos beduínos. Milhares foram massacrados, e mais uma vez os palestinos ficaram espalhados, desta vez pelos campos do Líbano e Síria. Arafat queria vingar-se do monarca jordano e de todos aqueles que tinham traído o povo palestino. Queria executar atos terroristas espetaculares e sangrentos na cena mundial — atos que colocariam a luta dos palestinos perante uma audiência global e mitigassem a sede de vingança palestina. Os ataques seriam executados por uma unidade secreta, de modo a que a OLP pudesse manter o disfarce de exército revolucionário respeitável lutando pela libertação de um povo oprimido. Foi atribuído a Abu Iyad, número dois de Arafat, o comando geral, mas o cérebro operacional seria o filho do grande senhor da guerra palestino de Beit Sayeed, Sabri al-Khalifa. A unidade chamar-se-ia Setembro Negro para honrar os palestinos mortos na Jordânia.
Sabri recrutou uma pequena força de elite entre as melhores unidades da Fatah. Seguindo a tradição do pai, selecionou homens iguais a si — palestinos de famílias boas que conheciam mais do mundo do que apenas os campos de refugiados. Depois partiu para a Europa, onde montou uma rede de exilados palestinos educados. Também estabeleceu ligações na Europa com grupos terroristas de esquerda e com serviços secretos da Cortina de Ferro. Em novembro de 1971, o Setembro Negro estava pronto para emergir das sombras. No topo da lista a abater de Sabri estava o rei Hussein, da Jordânia.
O sangue correu primeiro na cidade onde Sabri tinha feito a sua aprendizagem. O primeiro-ministro da Jordânia, numa visita ao Cairo, foi abatido no hall do hotel Sheraton. Seguiram-se mais ataques numa sucessão rápida. O carro do embaixador da Jordânia foi emboscado em Londres. Aviões da Jordânia foram assaltados e funcionários das linhas aéreas jordanas foram assassinados. Em Bona, cinco agentes do serviço secreto da Jordânia foram massacrados na cave de uma casa.
Depois de ter ajustado contas com a Jordânia, Sabri desviou a sua atenção para os verdadeiros inimigos do povo palestino, os sionistas de Israel. Em Maio de 1972, o Setembro Negro tomou pela força um jato da companhia aérea Sabena e forçou-o a aterrar no aeroporto de Lod, em Israel. Alguns dias depois, os terroristas do exército vermelho japonês, agindo em nome do Setembro Negro, atacaram os passageiros no hall das chegadas em Lod com rajadas de metralhadora e granadas de mão, matando 27 pessoas. Cartas-bomba foram enviadas a diplomatas israelenses e judeus proeminentes por toda a Europa.
Mas o maior triunfo terrorista de Sabri ainda estava por acontecer. Ao início da manhã de 5 de Setembro de 1972, dois anos depois da expulsão da Jordânia, seis terroristas palestinos escalaram a cerca da Aldeia Olímpica em Munique, na Alemanha, e entraram no edifício de apartamentos da Connollystrasse 31, que albergava membros da equipe olímpica israelense. Dois israelenses foram mortos no assalto inicial. Nove outros foram reunidos e feitos reféns. Durante as 20 horas que se seguiram, com novecentos milhões de pessoas por todo o mundo a observarem na televisão, o Governo alemão negociou com os terroristas a libertação dos reféns israelenses. Os prazos-limite chegaram e passaram até que, por fim, às 22.10 horas, os terroristas e os reféns embarcaram em dois helicópteros e partiram para o campo de aviação de Fürstenfeldbrück. Pouco depois da sua chegada, as forças da Alemanha Federal foram lançadas em mal concebida e fracamente planejada operação de resgate. Os nove reféns foram massacrados pelo Setembro Negro.
O júbilo varreu o mundo árabe. Sabri al-Khalifa, que tinha monitorizado a operação de um apartamento de segurança em Berlim Oriental, foi saudado como herói conquistador após o seu regresso a Beirute.
— Você é meu filho! — exclamou Arafat lançando os braços em volta de Sabri. — É meu filho.
Em Tel Aviv, a primeira-ministra Golda Meir ordenou aos chefes do serviço secreto para vingarem os 11 de Munique, caçando e matando os membros do Setembro Negro.
Com o nome de código de Ira de Deus, a operação seria liderada por Ari Shamron, o mesmo homem a quem tinha sido atribuída a tarefa de terminar com o reino de terror sangrento de Sheikh Asad, em 1948. Pela segunda vez em 25 anos, ordenaram a Shamron que matasse um homem chamado al-Khalifa.
Dina deixou a sala na escuridão e contou o resto da história como se Gabriel não estivesse sentado a dez passos de distância, na extremidade oposta da mesa.
— Um a um, os membros do Setembro Negro foram metodicamente caçados e eliminados pelas equipes da Ira de Deus de Shamron. Ao todo, 12 membros foram mortos pelos assassinos do Escritório, mas Sabri al-Khalifa, aquele que Shamron queria mais que todos, permaneceu para lá do seu alcance. Sabri ripostou. Matou um agente do Escritório em Madrid. Atacou o embaixador israelense em Bangkok e assassinou o embaixador americano do Sudão. Os seus ataques tornaram-se mais erráticos, como o seu comportamento. Arafat já não era capaz de manter a ficção de que não tinha nenhuma ligação ao Setembro Negro, e a condenação recaiu sobre ele, mesmo de quadrantes que simpatizavam com a sua causa. Sabri tinha provocado a desgraça do movimento, mas Arafat ainda apostava nele como num filho.
Dina interrompeu-se e olhou para Gabriel. O seu rosto, iluminado pelo brilho da imagem de Sabri al-Khalifa na tela de projeção, não mostrava qualquer emoção. O seu olhar estava pousado nas mãos, que estavam cruzadas sobre o tampo da mesa.
— Importas-te de terminar a história? — perguntou ela. Gabriel passou um momento a contemplar as mãos antes de aceitar o convite de Dina para falar. — Shamron soube através de um informante que Sabri mantinha uma moça em Paris, uma jornalista de esquerda chamada Denise que acreditava que ele era um poeta palestino, que lutava pela liberdade. Sabri não tinha dito a Denise que era um homem casado com um filho. Shamron considerou por breves instantes tentar recrutar a moça, mas desistiu da ideia. Parecia que a pobre moça estava verdadeiramente apaixonada por Sabri. Por isso, enviou as equipes para Paris e em vez disso pô-la sob vigilância. Um mês depois, Sabri foi à cidade visitá-la.
Interrompeu-se e olhou para a tela.
Sabri chegou ao apartamento dela a meio da noite. Estava demasiado escuro para confirmar a sua identidade, por isso Shamron decidiu arriscar e esperar até nós o podermos ver melhor. Eles ficaram no apartamento a fazer amor até o fim da tarde, depois foram jantar a um café no Boulevard St-Germain. Foi quando tiramos a fotografia. Depois do jantar, regressaram a pé ao apartamento. Ainda era de dia, mas Shamron deu ordem para o abater.
Gabriel ficou silencioso, e mais uma vez baixou o olhar para as mãos. Fechou os olhos por instantes.
— Segui-os a pé. Ele tinha o braço esquerdo à volta da cintura da moça e a mão estava enfiada no bolso de trás do jeans dela. A mão direita estava enfiada no bolso do casaco. Era aí que ele guardava sempre a arma. Virou-se e olhou para mim uma vez, mas continuou a andar. Ele e a moça tinham bebido duas garrafas de vinho durante o jantar... acho que os seus instintos não estavam muito apurados na altura.
Outro silêncio; em seguida, depois de lançar um olhar ao rosto de Sabri, voltou a olhar para as mãos. A sua voz, quando voltou a falar, tinha um tom de distanciamento, como se estivesse a descrever as atividades doutro homem. — Detiveram-se à entrada. Denise estava bêbeda e ria-se. Estava a olhar para baixo, para dentro da mala, procurando a chave. Sabri dizia-lhe para se apressar. Queria voltar a despi-la. Eu podia tê-lo feito naquela altura, mas havia demasiadas pessoas na rua, por isso abrandei e esperei que ela encontrasse a maldita chave. Passei por eles quando ela enfiou a chave na fechadura. Sabri voltou a olhar para mim, e eu retribui-lhe o olhar. Eles entraram para o vestíbulo. Virei-me e segurei a porta antes que esta se fechasse. Sabri e a moça já estavam no meio do pátio naquela altura. Ele ouviu os passos e virou-se. A mão estava a sair-lhe do bolso do casaco e eu consegui ver-lhe a coronha. Sabri tinha uma Stechkin. Era um presente de um amigo do KGB. Eu ainda não tinha tirado a minha arma. A regra de Shamron como nós lhe chamávamos. "Nós não andamos pelas ruas como gangsteres com as nossas armas prontas a disparar", dizia sempre Shamron. "Um segundo, Gabriel. É tudo que tens. Um segundo. Apenas um homem com mãos muito dotadas consegue tirar a arma da anca e colocá-la em posição de fogo num segundo."
Gabriel olhou à volta da sala e fixou o olhar de cada membro por breves instantes antes de continuar.
A Beretta tinha um carregador de oito balas, mas eu descobri que se apertasse firmemente as balas, podia comprimir até dez. Sabri nunca conseguiu colocar a arma em posição. Estava a virar o rosto na minha direção quando eu disparei. O seu alvo era reduzido... acho que o meu primeiro e segundo tiros o atingiram no braço esquerdo. Movi-me para a frente e deitei-o ao chão. A moça estava a gritar, batendo-me nas costas com a mala. Disparei dez tiros contra ele, depois libertei o carregador e enfiei outro na coronha. Só tinha uma bala, a décima primeira. Uma bala por cada judeu que Sabri tinha assassinado em Munique. Coloquei o cano junto do ouvido dele e disparei. A moça caiu sobre o corpo dele e chamou-me assassino. Atravessei o beco e regressei à rua. Uma mota aproximou-se. Subi para cima dela.
Apenas Yaakov, que tinha assistido à sua quota-parte de assassinatos nos Territórios Ocupados, se atreveu a quebrar o silêncio que tinha descido sobre a sala.
— O que Asad al-Khalifa e o seu filho Sabri têm a ver com Roma?
Gabriel olhou para Dina, e com os olhos colocou-lhe a mesma questão. Dina tirou a fotografia de Sabri e substituiu-a por aquela que mostrava Khaled no funeral do pai.
— Quando a mulher de Sabri, Rima, ouviu dizer que ele tinha sido morto em Paris, encaminhou-se para a casa de banho do seu apartamento em Beirute e cortou os pulsos. Khaled encontrou a mãe jazendo no chão, numa poça do seu próprio sangue. Ele era agora um órfão, os pais mortos, a sua tribo espalhada aos quatro ventos.
Arafat adoptou o rapaz, e depois do funeral Khaled desapareceu.
— Para onde é que ele foi? — perguntou Yossi.
— Arafat viu a criança como um símbolo poderoso da revolução e queria-o protegido a todo o custo. Pensamos que ele o enviou para a Europa sob um nome falso para viver com uma rica família palestina exilada. Aquilo que agora sabemos é o seguinte: em 25 anos, Khaled al-Khalifa nunca ressurgiu. Há dois anos pedi a Lev autorização para começar uma busca silenciosa por ele. Não consigo encontrar. É como se ele se tivesse desvanecido depois do funeral.
— E a tua teoria?
— Creio que Arafat o preparou para seguir as pegadas de seus famosos pai e avó. Creio que ele foi ativado.
— Por quê?
— Porque Arafat está a tentar tornar-se de novo relevante, e está a fazê-lo da única maneira que sabe, com violência e terrorismo. Está a usar Khaled como arma.
— Não tens provas disso — disse Yaakov. — Há uma célula terrorista na Europa a preparar-se para nos voltar a atingir. Não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar tempo à procura de um fantasma.
Dina colocou uma nova fotografia no projetor. Esta mostrava os destroços de um edifício. — Buenos Aires, 1994. Uma bomba num caminhão arrasa o centro da comunidade judaica durante uma refeição de Shabbat. Oitenta e sete mortos.
Nenhuma reivindicação.
Um novo slide, mais destroços.
— Istambul, 2003. Dois carros armadilhados explodem simultaneamente no exterior da principal sinagoga da cidade. Vinte e oito mortos. Nenhuma reivindicação.
Dina virou-se para Yossi e pediu-lhe para acender as luzes.
— Disseste-me que tens provas que ligam Khaled a Roma — disse Gabriel, semicerrando os olhos com a luminosidade súbita. — Mas até agora, não me deste nada além de conjecturas.
— Oh, mas eu tenho provas, Gabriel.
— Então qual é a ligação?
— Beit Sayeed.
Partiram do Boulevard King Saul numa van do Escritório poucos minutos antes do amanhecer. As janelas da van tinham vidros fumados e eram à prova de bala, e assim o interior permaneceu escuro mesmo depois do céu ter começado a iluminar-se. Quando chegaram a Petah Tikvah, o Sol espreitava sobre a cumeeira dos montes judaicos. Era um subúrbio moderno de Tel Aviv, com casas grandes e relvados verdes, mas ao espreitar pelos vidros, Gabriel imaginou as casas de pedra e os colonos russos aninhados contra outro pogrom, este liderado pelo Sheikh Asad e seus guerreiros sagrados.
Para lá de Petah Tikvah encontrava-se um planalto extenso de terra agrícola aberta. Dina instruiu o condutor para avançar por uma estrada de duas vias que corria paralela a uma nova superautoestrada. Seguiram a estrada durante alguns quilômetros, depois viraram por um caminho de terra que bordejava um pomar recentemente plantado.
Aqui — disse ela de repente. — Pare aqui.
A van travou. Dina saiu e apressou-se em direção às árvores. Gabriel seguiu-a, Yossi e Rimona atrás dele, Yaakov seguindo-os alguns passos atrás.
Chegaram à extremidade do pomar. A 50 metros encontrava-se um campo semeado em fileiras. Entre o pomar e o campo situava-se uma extensão erma, enxameada por ervas daninhas. Dina deteve-se e virou-se para encarar os outros.
— Bem-vindos a Beit Sayeed — disse.
Fez-lhes sinal para se aproximarem. Passado pouco tornou-se evidente que estavam a andar entre os restos da aldeia. A sua existência era claramente visível na terra cinza: as casas e os muros de pedra, a pequena praça e o poço circular. Gabriel tinha visto aldeias como aquela no vale de Jezreel e na Galileia. Não interessava o quanto os novos proprietários tentavam apagar as aldeias árabes, os restos permaneciam, como a memória de uma criança morta. Dina parou junto do poço e os outros reuniram-se à volta dela.
— Em 18 de abril de 1948, aproximadamente às 19.00 horas, uma brigada do Palmach cercou Beit Sayeed. Depois de um breve tiroteio os milicianos árabes fugiram, deixando a aldeia sem defesa. Seguiu-se um pânico total. E porque não? Três dias antes, mais de cem residentes de Deir Yassin tinham sido mortos por membros do Irgun e do Stern Gang. É desnecessário dizer que os árabes de Beit Sayeed não estavam ansiosos para se defrontar com um destino semelhante.
Provavelmente não foi necessário muito encorajamento para fazer com que eles emalassem as suas coisas e fugissem. Quando a aldeia ficou deserta, os homens do Palmach dinamitaram as casas.
— Qual é a ligação com Roma? — perguntou Yaakov impaciente.
— Daoud Hadawi.
— Na altura em que Hadawi nasceu, este lugar já tinha sido varrido da face da Terra.
— Isso é verdade — disse Dina. — Hadawi nasceu no campo de refugiados de Jenin, mas a sua tribo vem daqui. A sua avó, o seu pai, e várias tias, tios e primos fugiram de Beit Sayeed na noite de 18 de Abril de 1948.
— E o avô? — perguntou Gabriel.
Tinha sido morto alguns dias antes, perto de Lídia. O pai de Daoud Hadawi era um dos homens de maior confiança de Sheikh
Asad. Ele estava a guardar o xeque na noite em que Shamron o matou. Foi ele que Shamron esfaqueou ao entrar na casa.
— É só isso? — perguntou Yaakov. Dina sacudiu a cabeça.
— Os atentados bombistas em Buenos Aires e em Istambul ocorreram ambos às 19.00 horas de 18 de Abril.
— Céus — murmurou Rimona.
— Há mais uma coisa — disse Dina, virando-se para Gabriel. — A data em que mataste Sabri em Paris? Lembras-te qual foi?
— Foi no princípio de março — disse ele — , mas não consigo lembrar da data.
— Foi em 4 de março — disse Dina.
— O mesmo dia de Roma — disse Rimona.
— Certo. -Dina olhou para os restos da antiga aldeia. — Começou em Beit Sayeed há mais de 50 anos. Foi Khaled que orquestrou o ataque a Roma, e vai voltar a atingir-nos dentro de 28 dias.












