



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Aposentado do serviço secreto israelense, o restaurador de arte Gabriel Allon decide passar um fim de semana em Londres com a esposa, Chiara, Mas seus sentidos estão sempre em alerta, sobretudo depois dos recentes atentados suicidas em Paris e Copenhague.
Em meio à multidão, Gabriel detecta um suspeito. Um homem-bomba. Quando está prestes a atirar para matar, ele é detido pela polícia britânica e acaba presenciando um terrível massacre.
Já de volta a sua casa na Cornualha e ainda assombrado por não ter sido capaz de impedir o ataque, o agente é convocado a comandar um esquema global contra a guerra santa muçulmana. Uma nova rede terrorista se espalha pela Europa e só há uma solução para derrotá-la: infiltrar um agente duplo.
A espiã ideal é uma bilionária saudita que vive de dissimulações transitando entre os mundos islâmico e ocidental. Treinada por Allon ela deve evitar que o terror se dissemine.
Numa trama que espelha as tensões e conflitos da atualidade, Gabriel precisa identificar o inimigo para, enfim, chegar a seu covil: o plácido porém implacável deserto da Arábia Saudita.
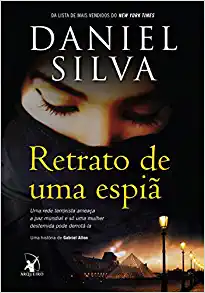
Parte Um
Morte no jardim
1
Península do Lagarto, Cornualha
Foi o Rembrandt que resolveu o mistério de uma vez por todas. Mais tarde nas estranhas lojas onde faziam suas compras e nos pequenos e escuros pubs à beira-mar onde tomavam seus drinques, eles iriam recriminar uns aos outros por não terem percebido os sinais óbvios e dariam boas risadas de algumas de suas mais extravagantes teorias sobre a verdadeira natureza do trabalho dele. Pois nem em seus sonhos mais loucos alguém pensou na possibilidade de o homem taciturno que morava no extremo da enseada de Gunwalloe ser um restaurador de arte, quanto mais um restaurador mundialmente famoso.
Não era o primeiro forasteiro a surgir na Cornualha com um segredo, mas poucos o tinham guardado com tanto zelo e tanta classe. Havia chamado atenção a maneira peculiar com que ele conseguira uma casa para si mesmo e sua linda esposa, muito mais jovem. Depois de escolher o pitoresco chalé do penhasco — sem que ninguém soubesse ?, pagou os doze meses de aluguel adiantado, e um obscuro advogado em Hamburgo cuidou discretamente de toda papelada. Ocupou o chalé duas semanas depois, como se estivesse liderando um ataque a um posto avançado inimigo. Os que o encontraram em suas primeiras incursões no vilarejo ficaram surpresos com sua notável falta de franqueza. Ele parecia não ter nome — pelo menos não um que quisesse compartilhar — nem um país de origem que qualquer um conseguisse identificar. Duncan Reynolds, aposentado havia trinta anos do trabalho na ferrovia e considerado o mais mundano dos moradores de Gunwalloe, o descreveu como “um homem enigmático”, enquanto outras definições variavam entre “reservado” e “insuportavelmente mal-educado”. Mesmo assim, todos concordavam que, para o bem ou para o mal, o pequeno vilarejo no oeste da Cornualha tinha se tornado um lugar muito mais interessante.
Com o passar do tempo, descobriram que o nome dele era Giovanni Rossi e que, como sua esposa, era descendente de italianos. E tudo se tornou ainda estranho quando eles começaram a notar carros do governo cheios de homens rondando as ruas do vilarejo tarde da noite. Depois foram os dois sujeitos que as vezes pescavam na enseada. A opinião de todos é que eram os piores pescadores que já tinham visto. Aliás, a maioria supôs que nem mesmo fossem pescadores. Como costuma acontecer em pequenos vilarejos como Gunwalloe, teve início um intenso debate sobre a verdadeira identidade do recém-chegado e a natureza de seu trabalho — um debate que afinal cessou com a descoberta do Retrato de uma jovem, óleo sobre tela, de 104 por 86 centímetros, de Rembrandt van Rijn.
Nunca se soube exatamente quando o quadro chegou. Achavam que havia sido em meados de janeiro, pois foi quando perceberam uma mudança drástica em sua rotina. Um dia ele estava andando pelos penhascos escarpados da península do Lagarto como se estivesse lutando contra uma consciência culpada; no dia seguinte estava diante de um cavalete na sala de estar, um pincel numa das mãos e uma paleta na outra, ópera tocando tão alto que seu lamento podia ser ouvido do outro lado de Mounts Bay em Marazion. Como seu chalé era muito próximo do Caminho Costeiro, era possível — se alguém parasse no lugar exato e esticasse o pescoço no ângulo certo — vê-lo em seu estúdio. No início, imaginaram que estivesse trabalhando numa pintura de sua autoria. Mas com o lento passar das semanas, ficou claro que ele estava envolvido no ofício conhecido como conservação ou, mais comumente, restauração.
— Que diabo significa isso? — perguntou Malcolm Braithwaite, um pescador de lagosta aposentado que cheirava sempre a mar, certa noite no Lamb and Flag Pub.
— Significa que ele está consertando aquela coisa — respondeu Duncan Reynolds. — Uma pintura é como um ser vivo, respirando. Quando fica velha, esfarela e se enruga. Como você, Malcolm.
— Ouvi dizer que é uma jovem.
— Bonitinha — disse Duncan, assentindo. — Bochechas da cor de maçãs. Com certeza é comível.
— Nós conhecemos o pintor?
— Ainda estamos averiguando.
E averiguaram mesmo. Consultaram muitos livros, buscaram em muitos sites, foram atrás de pessoas que sabiam mais sobre arte do que eles — uma categoria que incluía a maior parte da população do oeste da Cornualha. Finalmente, no início de abril, Dottie Cox, da loja do vilarejo, tomou coragem para simplesmente perguntar à linda jovem italiana sobre a pintura quando ela veio fazer compras na cidade. A mulher se esquivou da pergunta com um sorriso ambíguo e, com a sacola de palha ao ombro, voltou para a enseada, o cabelo exuberante agitado pelo vento da primavera. Minutos depois de sua chegada, o lamento da ópera cessou e as persianas das janelas do chalé se fecharam.
Continuaram fechadas ao longo da semana seguinte, quando o restaurador e a esposa desapareceram de repente. Durante vários dias, os moradores de Gunwalloe temeram que eles não voltassem mais, e alguns se repreenderam por terem bisbilhotado e se intrometido nos negócios particulares do casal. Certa manhã, ao folhear o Times em sua loja, Dottie Cox reparou numa reportagem de Washington sobre a descoberta de um retrato de Rembrandt há muito perdido — um retrato exatamente igual ao que estava no chalé. E assim o mistério foi resolvido.
Por coincidência, na mesma edição do Times, na primeira página, havia um artigo sobre uma série de misteriosas explosões em quatro instalações nucleares iranianas. Ninguém em Gunwalloe imaginou que poderia haver uma conexão. Pelo menos não por enquanto.
Dava para notar que o restaurador era um homem mudado quando voltou da América. Embora continuasse reservado — ainda não era um tipo que você gostaria de encontrar de surpresa no escuro ?, estava claro que um fardo tinha sido retirado de seus ombros. De vez em quando avistavam um sorriso em seu rosto anguloso, e o brilho em seus olhos verdes parecia de uma tonalidade menos defensiva. Até mesmo suas longas caminhadas diárias estavam diferentes. Antes ele pisoteava o caminho como um homem possuído; agora ele parecia pairar acima dos penhascos cobertos pela névoa como um espírito que voltara para casa depois de muito tempo numa terra distante.
— Parece que ele foi liberado de um voto secreto — observou Vera Hobbs, dona da padaria. Mas quando alguém pediu para arriscar um palpite sobre o voto, ou com quem havia se comprometido, ela não respondeu. Como todos os outros no vilarejo, tinha se mostrado uma tola ao tentar adivinhar a ocupação do homem. — Além do mais, é melhor deixá-lo em paz. Senão, da próxima vez que ele e a linda esposa saírem da península, vai ser para sempre.
De fato, enquanto aquele glorioso verão passava, os futuros planos do restaurador se tornaram a principal preocupação de todo o vilarejo. Como o contrato de aluguel do chalé expirava em setembro e não havia nenhuma evidência de que seria renovado, eles se engajaram em convencê-lo a ficar. Decidiram que o restaurador precisava de algo para prendê-lo na costa da Cornualha — um trabalho que exigisse suas habilidades únicas, algo a fazer além de caminhar pelos penhascos. Eles não tinham ideia do que seria exatamente esse trabalho e de quem poderia oferecê-lo, mas confiaram a si mesmos a delicada tarefa de descobrir isso.
Depois de muitas deliberações, foi Dottie Cox quem finalmente surgiu com a ideia do Primeiro Festival Anual de Belas-Artes de Gunwalloe, e o famoso restaurador Giovanni Rossi seria o presidente honorário. Fez a proposta para a esposa do restaurador na manhã seguinte, quando ela apareceu na loja na hora de sempre. A mulher riu por alguns minutos. A oferta era lisonjeira, comentou depois de recuperar a compostura, mas ela achava que não era o tipo de coisa com que o signor Rossi concordaria. A recusa oficial aconteceu pouco depois e a ideia do festival foi por água abaixo. Mas não houve problema: poucos dias depois, eles souberam que o restaurador tinha renovado o contrato por um ano. Mais uma vez, o aluguel foi pago adiantado e o mesmo advogado obscuro de Hamburgo cuidou de toda a papelada.
Assim, a vida voltou ao que poderia ser chamado de normal. Continuaram a ver o restaurador no meio da manhã quando fazia compras com a esposa e também no meio da tarde quando andava pelos penhascos de casaco e boina puxada para a frente. E se ele se esquecia de cumprimentar alguém da forma apropriada, ninguém se ofendia. Se ele se sentia desconfortável com algo, deixavam-no à vontade para fazer do seu jeito. E se um estranho chegasse ao povoado, observavam cada movimento até que ele fosse embora. O restaurador e a esposa poderiam ter vindo da Itália, mas agora pertenciam à Cornualha, e que os céus ajudassem o tolo que tentasse tirá-los de lá outra vez.
No entanto, algumas pessoas da península acreditavam que havia mais naquela história — e um homem em particular achava que sabia o que era. Seu nome era Teddy Sinclair, dono de uma pizzaria muito boa em Helston, com um pendor para teorias da conspiração, grandes e pequenas. Teddy acreditava que os pousos na Lua eram uma farsa, que o 11 de Setembro fora armado pelo governo e que o homem da enseada de Gunwalloe estava escondendo mais que uma habilidade secreta para restaurar pinturas.
Para provar de uma vez por todas que tinha razão, convocou os moradores ao Lamb and Flag na segunda quinta-feira de novembro e revelou um esquema que parecia um pouco a tabela periódica. O propósito era estabelecer, sem a menor sombra de dúvida, que as explosões nas instalações nucleares iranianas eram trabalho de um lendário oficial de inteligência israelense chamado Gabriel Allon — e que o mesmo Gabriel Allon estava agora vivendo em paz em Gunwalloe com o nome de Giovanni Rossi. Quando as gargalhadas finalmente diminuíram, Duncan Reynolds disse que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido desde que um francês decidiu que a Europa devia ter uma moeda em comum. Mas dessa vez Teddy permaneceu firme, o que era o certo a fazer. Teddy poderia estar enganado sobre o pouso na Lua e o 11 de Setembro, mas no que dizia respeito ao homem de enseada de Gunwalloe, sua teoria era perfeitamente verdadeira.
Na manhã seguinte, Dia do Armistício, o vilarejo acordou com a notícia de que o restaurador e a esposa tinham desaparecido. Em pânico. Vera Hobbs correu até a enseada e espiou pelas janelas do chalé. As ferramentas do restaurador estavam espalhadas por uma mesa baixa, e apoiada no cavalete havia a pintura de uma mulher nua deitada num sofá. Vera demorou a perceber que o sofá era idêntico ao da sala de estar e que a mulher era a mesma que ela via todas as manhãs na padaria. Apesar do constrangimento, Vera não conseguiu desviar o olhar, pois era uma das pinturas mais extraordinárias e belas que já vira. Era também um bom sinal, ela pensou enquanto caminhava de volta para o povoado. Uma pintura como aquela não era algo que um homem deixaria para trás ao sair de um lugar. Os dois iriam acabar voltando. E que os céus ajudassem aquele maldito Teddy Sinclair se não voltassem.
2
Paris
A primeira bomba explodiu às 11h46 na avenida Champs-Élysées, em Paris. O diretor do serviço de segurança francês falaria mais tarde que não tinha recebido alerta do ataque iminente, uma afirmação que seus detratores poderiam ter considerado risível se o número de mortos não fosse tão alto. Os sinais de alerta eram claros, disseram. Só um cego ou ignorante não notaria.
Do ponto de vista da Europa, o momento do ataque não poderia ter sido pior. Após décadas de gastos excessivos na área social, a maior parte do continente estava oscilando à beira de um desastre fiscal e monetário. As dívidas subiam, os caixas estavam vazios e seus mimados cidadãos ficavam cada vez mais velhos e desiludidos. Austeridade era a ordem do dia. No clima vigente, nada era considerado sagrado; sistema de saúde, bolsas de estudo, patrocínio artístico e até benefícios de aposentados estavam sofrendo cortes drásticos. Na chamada periferia da Europa, as economias menores estavam tombando num efeito dominó. A Grécia naufragava lentamente no Egeu, a Espanha estava na UTI e o Milagre Irlandês tinha se transformado em nada mais que uma miragem. Nos elegantes salões de Bruxelas, muitos eurocratas ousavam dizer em voz alta o que já fora impensável: que o sonho de uma integração europeia estava morrendo. E em seus momentos mais sombrios, alguns deles imaginavam se a Europa como eles conheciam não estaria morrendo também.
Mais uma crença estava se deteriorando naquele novembro — a convicção de que a Europa poderia absorver um interminável fluxo de imigrantes muçulmanos das antigas colônias enquanto preservava sua cultura e seu modo de vida. O quis tinha começado como um programa temporário para atenuar a falta de emprego após a guerra agora alterava permanentemente todo o continente. Agitados subúrbios muçulmanos rodeavam quase todas as cidades e diversos países pareciam destinados a ter uma população de maioria muçulmana antes do fim do século. Nenhuma autoridade havia se dado ao trabalho de consultar a população nativa da Europa antes de escancarar os portões, e agora, depois de anos de relativa passividade, os europeus começavam a reagir. A Dinamarca havia imposto restrições rigorosas contra casamentos de imigrantes. A França vetara o uso de véu cobrindo todo o rosto em público. E os suíços, que mal toleravam uns aos outros, tinham decidido manter suas pequenas e bem cuidadas cidades livres de desagradáveis minaretes. Os líderes da Inglaterra e da Alemanha haviam declarado que o multiculturalismo, a religião virtual da Europa pós-cristianismo, estava morto. A maioria não se curvaria mais ao desejo da minoria, afirmaram. Nem faria vista grossa ao extremismo que florescia em seu seio. Parecia que o antigo embate da Europa com o Islã tinha entrado numa fase nova e potencialmente perigosa. Eram muitos os que temiam que fosse uma luta desigual. Um dos lados estava velho, cansado, satisfeito consigo mesmo. O outro podia ser levado a um furor assassino por causa de alguns rabiscos num jornal dinamarquês.
Nenhum outro lugar da Europa expunha esses problemas de forma tão clara quanto Clichy-sous-Bois, o inflamável banlieue árabe próximo de Paris. Epicentro dos tumultos mortais que varreram a França em 2005, o subúrbio tinha uma das taxas de desemprego mais elevadas do país, assim como os mais altos índices de crimes violentos. Tão perigoso era Clichy-sous-Bois que até mesmo a polícia francesa hesitava em entrar em seus fervilhantes cortiços — inclusive no cortiço onde morava Nazim Kadir, um argelino de 26 anos, funcionário do renomado restaurante Fouquet, com doze integrantes de sua grande família.
Naquela manhã de novembro, ele saiu de seu apartamento ainda em meio à escuridão para se purificar numa mesquita construída com dinheiro saudita e administrada por um imame treinado na Arábia Saudita que não falava francês. Depois de cumprir o mais importante pilar do Islã, ele tomou o ônibus 601AB até Le Raincy e em seguida embarcou num trem RER até a Gare Saint-Lazare. Lá, fez baldeação para o metrô de Paris e a etapa final de sua viagem. Em nenhum momento ele despertou suspeitas das autoridades ou dos passageiros. Seu casaco pesado escondia um colete com explosivos.
Saiu da estação George V em sua hora habitual, 11h40, e tomou a avenida Champs-Élysées. Os que tiveram a sorte de escapar do inferno que se seguiu diriam mais tarde que não havia nada incomum em sua aparência, embora o dono de uma popular floricultura afirmasse ter notado uma curiosa determinação em seu andar quando ele se aproximou da entrada do restaurante. Entre os que estavam do lado de fora havia um representante do ministro da Justiça, um apresentador de jornal da televisão francesa, uma modelo que estampava a capa da edição atual da Vogue, um mendigo cigano segurando a mão de uma criança e um ruidoso grupo de turistas japoneses. O homem-bomba consultou o relógio pela última vez. Depois abriu o zíper do casaco.
Não se sabe ao certo se houve o tradicional brado de “Allahu Akbar”. Diversos sobreviventes afirmaram ter ouvido; muitos outros juraram que o homem-bomba detonou o dispositivo em silêncio. Quanto ao som da explosão, os que estavam mais próximos não tinham memória alguma, pois os tímpanos foram muito afetados. Todos só conseguiram se lembrar de uma luz branca cegante. Era a luz da morte, disseram. A luz que se vê no momento em que se confronta Deus pela primeira vez.
A bomba em si era uma maravilha de design e construção. Não era o tipo de dispositivo construído com base em manuais da internet ou nos panfletos instrutivos que percorriam as mesquitas salafistas da Europa. Havia sido aperfeiçoada em meio aos conflitos na Palestina e na Mesopotâmia. Recheada de pregos embebidos em veneno para rato — uma prática emprestada dos homens-bomba do Hamas ?, rasgou a multidão como uma serra circular. A explosão foi tão poderosa que a Pirâmide do Louvre, a quase 2,5 quilômetros ao leste, estremeceu com a lufada de ar. Os que estavam mais próximos da bomba foram despedaçados, cortados pela metade ou decapitados, o castigo preferido para os hereges. A mais de 30 metros ainda havia membros perdidos. Nas bordas mais distantes da zona de impacto, a morte aparecia de forma cristalina. Poupados de traumas externos, alguns tinham sido mortos pela onda de choque, que destruiu seus órgãos internos como um tsunami. Deus havia sido misericordioso por deixá-los sangrar em particular.
Os primeiros gendarmes a chegar sentiram-se instantaneamente enojados pelo que viram. Havia membros espalhados pelas ruas ao lado de sapatos, relógios de pulso esmagados e congelados às 11h46 e celulares que tocavam sem parar. Num insulto final, os restos do assassino estavam misturados aos de suas vítimas — menos a cabeça, que parou sobre um caminhão de entregas a cerca de 30 metros de distância, com a expressão do homem-bomba estranhamente serena.
O ministro do Interior francês chegou dez minutos depois da explosão. Ao ver a carnificina, ele declarou: “Bagdá chegou a Paris.” Dezessete minutos depois, chegou aos Jardins de Tivoli, em Copenhague, onde, às 12h03, um segundo homem-bomba se detonou no meio de um grande grupo de crianças que esperavam impacientes para embarcar na montanha-russa do parque. O serviço de segurança dinamarquês logo descobriu que o shahid nascera em Copenhague, frequentara escolas dinamarquesas e era casado com uma dinamarquesa. Pareceu não dar importância ao fato de que os filhos dele frequentassem a mesma escola que suas vítimas.
Para os profissionais de segurança em toda a Europa, um pesadelo se tornava realidade: ataques coordenados e altamente sofisticados que pareciam ter sido planejados e executados por uma mente brilhante. Temiam que os terroristas logo voltassem a atacar, embora faltassem duas informações cruciais. Eles não sabiam onde. E não sabiam quando.
3
St. James, Londres
Mais tarde, o comando de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres gastaria muito tempo e esforço valiosos tentando reconstituir os passos de um certo Gabriel Allon naquela manhã, o lendário porém imprevisível filho da inteligência israelense agora formalmente aposentado e vivendo tranquilamente no Reino Unido. Soube-se, por relatos de seus vizinhos intrometidos, que ele havia partido de seu chalé na Cornualha poucos minutos depois do amanhecer em seu Range Rover, acompanhado por Chiara, sua bela esposa italiana. Sabia-se também, graças ao onipresente sistema de câmeras CCTV da Grã-Bretanha, que o casal tinha chegado ao centro de Londres em tempo quase recorde e que, por um ato de intervenção divina, tinha conseguido encontrar um local para estacionar legalmente em Piccadilly. De lá seguiram a pé até a Masons Yard, um tranquilo pátio retangular de pedras e comércio em St. James e apresentaram-se à porta da Isherwood Fine Arts. De acordo com a câmera no pátio, foram admitidos no recinto às 11h40, horário de Londres, embora Maggie, a medíocre secretária de Isherwood, tenha registrado errado o horário em sua agenda como 11h45.
Desde 1968 detentora de pinturas de Grandes Mestres italianos e holandeses que bem podiam estar em museus, a galeria já havia ocupado um salão na aristocrática New Bond Street, em Mayfair. Empurrado para o exílio em St. James por tipos como Hermès, Burberry e Cartier, Isherwood refugiara-se num decadente armazém de três andares que já fora da loja de departamentos Fortnum & Mason. Entre os fofoqueiros moradores de St. James, a galeria sempre foi considerada um bom teatro — comédias e tragédias, com surpreendentes altos e baixos e um ar de conspiração que sempre a envolvia. Isso se devia principalmente à personalidade de seu dono. Julian Isherwood era amaldiçoado com um defeito quase fatal para um negociante de arte — gostava mais de possuir do que de vender as obras. Ele estava sobrecarregado por um grande inventário do que é carinhosamente chamado, no mercado de arte, de estoque morto — pinturas pelas quais nenhum comprador ofereceria um bom preço. Corriam boatos de que a coleção particular de Isherwood comparava-se à da família real britânica. Até Gabriel, que já restaurava pinturas para a galeria havia mais de trinta anos, tinha apenas uma vaga ideia de todas as posses de Isherwood.
Eles o encontraram em seu escritório — uma figura alta e levemente frágil inclinada sobre uma escrivaninha atulhada de antigos catálogos e monografias. Usava um terno risca de giz e uma gravata lavanda que havia ganhado de presente num encontro na noite anterior. Como de hábito, ele parecia levemente de ressaca, uma aparência que cultivava. Seu olhar estava pesaroso, fixo na televisão.
— Suponho que tenha ouvido as notícias?
Gabriel assentiu lentamente. Ele e Chiara haviam escutado os primeiros boletins no rádio enquanto passavam pelos subúrbios no oeste de Londres. As imagens que apareciam na tela agora eram muito parecidas com as que haviam se formado na mente de Gabriel — os mortos cobertos com plástico, os sobreviventes ensanguentados, os transeuntes com as mãos no rosto, horrorizados. Nada mudava. Ele imaginou que nunca mudaria.
— Eu almocei no Fouquet na semana passada com um cliente — disse Isherwood, passando a mão por suas longas mechas grisalhas. — Nos separamos no mesmo local onde esse maníaco detonou a bomba. E se o cliente tivesse marcado o almoço para hoje? Eu poderia estar...
Isherwood parou de falar. Era uma reação típica depois de um ataque, pensou Gabriel. Os vivos sempre tentam encontrar uma conexão, por mais tênue que seja, com os mortos.
— O homem-bomba de Copenhague matou crianças — continuou Isherwood. — Você poderia me explicar, por favor, por que assassinam crianças inocentes?
— Medo — respondeu Gabriel. — Eles querem que sintamos medo.
— Quando isso vai terminar? — perguntou Isherwood, meneando a cabeça com desgosto. — Em nome de Deus, quando essa loucura vai acabar?
— Você devia saber que não adianta fazer perguntas desse tipo, Julian. — Gabriel baixou a voz e acrescentou: — Afinal, você está assistindo a essa guerra de camarote há muito tempo.
Isherwood deu um sorriso melancólico. Seu nome e perfil genuinamente ingleses ocultavam o fato de que ele não era inglês de verdade. Britânico de nacionalidade e passaporte, sim, porém alemão de nascimento, francês de formação e judeu por religião. Apenas poucos amigos de sua confiança sabiam que Isherwood tinha chegado a Londres como uma criança refugiada em 1942 depois de ser carregado pelos Pireneus cobertos de neve por dois pastores bascos. Ou que seu pai, o renomado comerciante de arte parisiense Samuel Isakowitz, tinha sido assassinado no campo de concentração de Sobibór junto com sua mãe. Apesar de Isherwood ter guardado com cuidado os segredos do passado, a história de sua dramática fuga da Europa ocupada pelos nazistas chegou aos ouvidos do serviço secreto de inteligência de Israel. E em meados dos anos 1970, durante uma onda de ataques terroristas palestinos contra alvos israelenses na Europa, ele foi recrutado como um sayan, um ajudante voluntário. Isherwood tinha apenas uma missão — ajudar a construir e manter a imagem de restaurador de arte de Gabriel Allon.
— Só não se esqueça de uma coisa — observou Isherwood. — Agora você trabalha para mim, não para eles. Isso não é problema seu, queridinho. Não mais. — Apontou o controle remoto para a televisão e as destruições em Paris e Copenhague desapareceram. — Vamos ver algo mais bonito?
O limitado espaço da galeria obrigara Isherwood a organizar seu império verticalmente — depósitos no térreo, escritórios no segundo andar e, no terceiro, uma gloriosa sala de exposição formal no modelo da famosa galeria de Paul Rosenberg em Paris, onde o jovem Julian havia passado muitas horas felizes na infância. Ao entrarem no salão, o sol do meio-dia penetrava pela claraboia, iluminando uma grande pintura a óleo sobre um pedestal coberto por um tecido grosso. Um retrato da Madona e a Criança com Maria Madalena contra um fundo noturno, obviamente da Escola de Veneza. Chiara tirou seu longo casaco de couro e sentou-se num sofá no centro da sala. Gabriel ficou bem em frente à tela, uma das mãos apoiando o queixo, a cabeça inclinada para um lado.
— Onde você o encontrou?
— Numa grande pilha de calcário na costa de Norfolk.
— E a pilha tem um dono?
— Insistem no anonimato. Basta dizer que é descendente de uma família nobre, suas propriedades são enormes e que suas reservas em dinheiro estão diminuindo num ritmo alarmante.
— Por isso pediu que tirasse algumas pinturas de suas mãos para ele se manter sem dívidas por mais um ano.
— Do jeito que ele gasta dinheiro, eu daria mais dois meses no máximo.
— Quanto você pagou por isso?
— Vinte mil.
— Quanta bondade, Julian. — Gabriel olhou para Isherwood e acrescentou: — Imagino que tenha coberto os rastros levando outras pinturas também.
— Seis peças absolutamente sem valor — confessou Isherwood. — Mas se meu palpite sobre essa estiver certo, elas valeram o investimento.
— Procedência? — perguntou Gabriel.
— Foi adquirida no Vêneto por um ancestral do proprietário enquanto fazia uma viagem pela Europa no início do século XIX. Está na família desde essa época.
— Atribuição atual?
— Oficina de Palma Vecchio.
?É mesmo? — perguntou Gabriel, cético. — De acordo com quem?
— De acordo com o perito italiano que intermediou a venda.
— Ele era cego?
— Só de um olho.
Gabriel sorriu. Muitos italianos que assessoravam a aristocracia inglesa durante suas viagens eram charlatães que faziam transações rápidas de cópias sem valor falsamente atribuídas aos mestres de Florença e Veneza. Em algumas ocasiões, se enganavam e vendiam obras legítimas. Isherwood desconfiou que a pintura no pedestal pertencesse à segunda categoria. Assim como Gabriel. Ele passou a ponta do indicador pelo rosto de Madalena, tirando o equivalente a um século de fuligem.
— Onde estava pendurado? Numa mina de carvão?
Tateou o verniz bem descolorido. Provavelmente era composto por uma resina de lentisco ou de pinho dissolvida em terebintina. A remoção seria um doloroso processo envolvendo o uso de uma mistura cuidadosamente regulada de acetona, éter glicólico e solução mineral. Gabriel podia imaginar os horrores que o esperavam quando o velho verniz fosse retirado: arquipélagos de pentimento, um deserto de rachaduras e vincos na superfície, uma quantidade enorme de pinturas escondidas por restaurações anteriores. E havia ainda as condições da tela, que se enrugara dramaticamente com o tempo. A solução era um novo revestimento, um perigoso procedimento envolvendo a aplicação de calor, umidade e pressão. Qualquer restaurador que já tivesse feito um revestimento possuía cicatrizes do trabalho. Gabriel havia destruído grande parte de uma pintura de Domenico Zampieri usando um ferro com um medidor de temperatura defeituoso. A pintura afinal restaurada, embora cristalina para olhos não treinados, demonstrava ser uma colaboração entre Zampieri e o estúdio de Gabriel Allon.
— Então? — perguntou Isherwood outra vez. — Quem pintou essa maldita coisa?
Gabriel exagerou na deliberação.
— Vou precisar de raios X para estabelecer uma atribuição definitiva.
— Vão vir aqui ainda esta tarde para levar os quadros. E nós dois sabemos que você não precisa disso para fazer uma atribuição preliminar. Você é como eu, queridinho. Está envolvido com pinturas há cem mil anos. Sabe tudo quando vê um quadro.
Gabriel pescou uma pequena lupa do bolso do casaco e usou-a para examinar as pinceladas. Inclinando-se um pouco para a frente, pôde sentir o formato familiar de uma pistola Beretta 9 mm pressionando o quadril esquerdo. Depois de trabalhar com a inteligência britânica para sabotar o programa nuclear iraniano, agora tinha permissão para portar uma arma o tempo todo para proteção. Havia recebido também um passaporte inglês, que podia ser usado livremente em viagens ao exterior, desde que não estivesse a trabalho para seu antigo serviço. Mas não havia chance de isso acontecer. A ilustre carreira de Gabriel Allon estava finalmente encerrada. Ele não era mais o anjo vingador de Israel. Era um restaurador de arte empregado pela Isherwood Fine Arts, e a Inglaterra era o seu lar.
— Você tem um palpite — disse Isherwood. — Posso ver nos seus olhos verdes.
— Tenho, sim — respondeu Gabriel, ainda absorvido pelas pinceladas ?, mas antes gostaria de uma segunda opinião.
Olhou para Chiara por cima dos ombros. Ela estava brincando com uma media de seu cabelo revolto, uma expressão levemente pensativa. Na posição em que estava, mostrava uma notáve1 semelhança com a mulher na pintura. O que não era surpresa, pensou Gabriel. Descendente de judeus expulsos da Espanha em 1492, Chiara havia sido criada no antigo gueto de Veneza. Era bem possível que algumas de suas ancestrais tivessem posado para mestres como Bellini, Veronese e Tintoretto.
— O que você acha? — perguntou Gabriel.
Chiara postou-se diante da tela ao lado de Gabriel e estalou a língua, reprovando sua condição lastimável. Embora tivesse estudado o Império Romano na faculdade, havia ajudado Gabriel em inúmeras restaurações e, durante o processo, se tornara uma formidável historiadora de arte.
— É um excelente exemplo de uma Conversação Sagrada, ou Sacra Conversazione, uma cena idílica em que os integrantes estão agrupados em uma paisagem esteticamente agradável. E como qualquer imbecil sabe, Palma Vecchio e considerado o criador dessa forma.
— O que você acha da técnica? — perguntou Isherwood, um advogado conduzindo uma testemunha favorável.
— É boa demais para Palma — respondeu Chiara. — Sua paleta de cores era incomparável, mas ele nunca foi considerado habilidoso, mesmo por seus contemporâneos.
— E a mulher posando como a Madona?
— Se eu não estiver enganada, o que é pouco provável, o nome dela é Violante. Ela aparece em várias pinturas de Palma. Mas na época havia outro famoso pintor em Veneza que dizem que gostava muito dela. O nome era...
— Tiziano Vecellio — completou Isherwood. — Mais conhecido como Ticiano.
— Parabéns, Julian — disse Gabriel, sorrindo. — Você pinçou um Ticiano pela quantia irrisória de 20 mil libras. Agora só precisa encontrar um restaurador capaz de deixá-lo perfeito.
— Quanto? — perguntou Isherwood.
Gabriel franziu a testa.
— Vai dar muito trabalho.
— Quanto? — repetiu Isherwood.
— Duzentos mil.
— Eu poderia arranjar alguém por metade desse preço.
— É verdade. Mas nós dois nos lembramos da última vez que você tentou isso.
— Quando você pode começar?
— Preciso consultar minha agenda antes de me comprometer.
— Eu faço um adiantamento de 100 mil.
— Nesse caso, eu posso começar agora mesmo.
— Vou mandar a tela para a Cornualha depois de amanhã. A questão é: quando você vai me entregar?
Gabriel não respondeu. Olhou para o relógio por um momento, como se não estivesse marcando a hora certa, e depois para a claraboia, pensativo.
Isherwood pousou a mão em seu ombro com delicadeza.
— Não é problema seu, queridinho. Não mais.
4
Covent Garden, Londres
A blitz da polícia perto da Leicester Square parou o tráfego na Charing Cross. Gabriel e Chiara atravessaram uma nuvem de fumaça dos escapamentos dos carros e seguiram pela Cranbourn Street, ladeada por pubs e cafés que atendiam as hordas de turistas que pareciam vagar sem rumo pelo Soho a qualquer hora, independentemente da estação. Gabriel olhava para a tela de seu celular. O número de vítimas em Paris e Copenhague estava subindo.
— Muito ruim? — perguntou Chiara.
— Já são 28 na Champs-Élysées e 37 nos Jardins de Tivoli.
— Eles têm alguma ideia do responsável?
— Ainda é cedo demais, mas os franceses acham que pode ser a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.
— Será que eles conseguiriam fazer dois ataques coordenados como esses?
— Eles têm células por toda a Europa e América do Norte, mas os analistas do King Saul Boulevard sempre foram céticos quanto à capacidade de eles manterem o estilo espetacular de Bin Laden.
O King Saul Boulevard era o endereço do serviço de inteligência israelense no exterior. O nome longo e propositalmente enganoso tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os que trabalhavam lá se referiam ao lugar como o Escritório e nada mais. Até mesmo agentes aposentados como Gabriel e Chiara nunca pronunciavam o verdadeiro nome da organização.
— Não me parece coisa do Bin Laden — comentou Chiara. — Parece mais...
— Bagdá — completou Gabriel. — Essa quantidade de vítimas é alta para ataques ao ar livre. A impressão é que os construtores das bombas sabiam o que estavam fazendo. Se nós tivermos sorte, ele deixou sua assinatura no local.
— Nós? — perguntou Chiara.
Gabriel guardou o telefone no bolso sem falar nada. Os dois tinham chegado ao caótico trânsito no fim da Cranbourn Street. Havia dois restaurantes italianos: o Spaghetti House e o Bella Italia. Ele olhou para Chiara e pediu que escolhesse.
— Eu não vou começar meu longo fim de semana em Londres no Bella Italia — disse Chiara franzindo a testa. — Você me prometeu um almoço decente.
— Na minha opinião, existem lugares bem piores que o Bella Italia em Londres.
— Não se você nasceu em Veneza.
Gabriel sorriu.
— Nós temos uma reserva num lugar adorável chamado Orso, na Wellington Street. É bem italiano. Achei que poderíamos passar por Covent Garden no caminho.
— Você ainda quer fazer isso?
— Nós precisamos comer, e a caminhada vai nos fazer bem.
Passaram depressa pela rotatória e entraram na Garrick Street, onde dois policiais de casacos verde-limão interrogavam o motorista de aparência árabe de uma van branca. A ansiedade dos pedestres era quase palpável. Em alguns rostos Gabriel via um medo genuíno; em outros, uma determinação inflexível de seguir em frente como sempre. Chiara segurava a mão dele com força enquanto os dois passavam pelas vitrines das lojas. Ela esperava por aquele fim de semana havia muito tempo e estava determinada a não deixar que as notícias de Paris e de Copenhague o estragassem.
— Você foi um pouco duro com Julian — falou ela. — Duzentos mil é o dobro do que você cobra normalmente.
— É um Ticiano, Chiara. Julian vai se dar muito bem.
— O mínimo que você podia fazer era aceitar o convite dele para um almoço comemorativo.
— Eu não queria almoçar com Julian. Queria almoçar com você.
— Ele queria discutir uma ideia conosco.
— Que tipo de ideia?
— Uma sociedade. Ele quer que sejamos sócios na galeria.
Gabriel diminuiu o passo e parou.
— Quero deixar uma coisa o mais claro possível: não tenho absolutamente nenhum interesse em me tornar sócio de uma empresa que só de vez em quando está no azul, como acontece com a Isherwood Fine Arts.
— Por que não?
— Por uma razão — respondeu ele, voltando a andar. — Nós não temos ideia de como tocar um negócio.
— Você já tocou vários negócios de sucesso no passado.
— Isso é fácil quando se tem o apoio de um serviço de inteligência.
— Você não está se dando o devido crédito, Gabriel. O que pode ser tão difícil em dirigir uma galeria de arte?
— Pode ser incrivelmente difícil. E como Julian já provou muitas vezes, é fácil se envolver em problemas. Até as galerias mais bem-sucedidas podem afundar-se fizerem uma aposta errada. — Gabriel olhou de soslaio e perguntou: — Quando você e Julian tramaram esse pequeno arranjo?
— Você fala como se estivéssemos conspirando pelas suas costas.
— É porque estavam mesmo.
Com um sorriso, Chiara acabou concordando.
— Foi quando estávamos em Washington na apresentação do Rembrandt. Julian me puxou de lado e disse que estava começando a pensar em se aposentar. Ele quer que a galeria fique nas mãos de alguém em quem confie.
— Julian nunca vai se aposentar.
— Eu não teria tanta certeza.
— Onde eu estava enquanto esse negócio era tramado?
— Acho que você tinha saído para uma conversa particular com uma repórter investigativa inglesa.
— Por que você não me falou nada disso até agora?
— Porque Julian pediu.
Gabriel ficou em silêncio, deixando claro que Chiara tinha violado um dos princípios fundamentais do casamento deles. Segredos, mesmo os mais triviais, eram proibidos.
— Desculpe, Gabriel. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas Julian foi inflexível. Sabia que o seu primeiro instinto seria dizer não.
— Ele poderia vender a galeria para Oliver Dimbleby num piscar de olhos e se aposentar numa ilha no Caribe.
— Você já pensou no que isso significaria para nós? Você quer mesmo restaurar pinturas para Oliver Dimbleby? Ou para Giles Pittaway? Ou acha que poderia arranjar algum trabalho freelance com a Tate ou a National Gallery?
— Parece que você e Julian já pensaram em tudo.
— Pensamos mesmo.
— Então talvez você deva ser sócia de Julian.
— Só se você restaurar pinturas para mim.
Gabriel percebeu que Chiara estava falando sério.
— Dirigir uma galeria não é só frequentar leilões glamorosos ou ir a longos almoços em restaurantes de luxo na Jermyn Street. E também não é algo que se possa considerar um passatempo.
— Obrigada por me considerar uma amadora.
— Não foi o que eu quis dizer, você sabe disso.
— Você não é o único que se aposentou do Escritório, Gabriel. Eu também me aposentei. Mas, ao contrário de você, eu não tenho Grandes Mestres danificados para ocupar o meu tempo.
— Então você quer virar uma negociante de arte? Vai passar os dias fuçando um monte de pinturas medíocres em busca de outro Ticiano perdido. E a probabilidade é de nunca encontrar um.
— Não me parece tão mau. — Chiara olhou ao redor. — E isso significa que poderíamos morar aqui.
— Achei que você gostava da Cornualha.
— Adoro. Mas não no inverno.
Gabriel ficou em silêncio. Ele vinha se preparando para uma conversa como aquela já havia algum tempo.
— Achei que nós iríamos ter um filho — falou por fim.
— Eu também — concordou Chiara. — Mas estou começando a achar que não vai ser possível. Nada que eu tento parece funcionar.
Havia um tom de resignação na voz dela que Gabriel nunca tinha ouvido.
— Então vamos continuar tentando — disse.
— Não quero que você se sinta desapontado. Foi aquela gravidez interrompida. Para mim, vai ser muito mais difícil ficar grávida outra vez. Quem sabe? Talvez uma mudança de cenário possa ajudar. Pense nisso — falou, apertando a mão dele. — É só o que estou pedindo, querido. Pode ser que gostemos de morar aqui.
Na ampla piazza do mercado de Covent Garden, um comediante de rua orientava um casal de turistas alemães a ficar numa pose que sugeria intimidade sexual, sem que eles percebessem. Chiara encostou-se numa pilastra para assistir à apresentação enquanto Gabriel fechou a cara, os olhos examinando a multidão reunida na praça e junto à mureta do restaurante Punch and Judy acima. Não estava zangado com Chiara, mas consigo mesmo. Durante anos, a relação entre os dois havia girado em torno de Gabriel e seu trabalho. Nunca lhe havia ocorrido que Chiara também pudesse ter suas próprias aspirações profissionais. Se eles fossem um casal normal, ele poderia ter considerado a proposta. Mas eles não eram um casal normal. Eram ex-agentes de um dos serviços de inteligência mais renomados do mundo. E tinham um passado sangrento demais para levar uma vida pública.
Quando se dirigiam à arrojada arcada de vidro do mercado, toda a tensão da discussão logo se dissipou. Até mesmo Gabriel, que detestava fazer compras, sentia prazer em perambular pelas tendas e lojas coloridas com Chiara a seu lado. Inebriado pelo aroma dos cabelos dela, ele imaginou a tarde que tinham pela frente — um almoço tranquilo seguido por uma agradável caminhada de volta ao hotel. Lá, na sombra fresca do quarto, Gabriel despiria Chiara devagar e faria amor na enorme cama. Por um momento, quase foi possível para Gabriel imaginar seu passado sendo apagado e suas façanhas se tornando meras lendas que juntavam poeira nos arquivos do King Saul Boulevard. Apenas o estado de alerta permanecia — a vigilância instintiva e inquietante não o deixava se sentir completamente em paz em público. Forçava-o a fazer um esboço mental de todos os rostos que passavam no mercado lotado. E na Wellington Street, quando os dois se aproximavam do restaurante, ele parou de repente. Chiara puxou-o pelo braço, de um jeito brincalhão. Depois olhou diretamente nos olhos dele e percebeu que havia algo errado.
— Parece que você viu um fantasma.
— Não um fantasma. Um homem morto.
— Onde?
Gabriel apontou com a cabeça uma figura que vestia um sobretudo de lã cinzento.
— Logo ali.
5
Covent Garden, Londres
Existem indicadores comuns reveladores de homens-bomba. Os lábios podem se movimentar involuntariamente em suas últimas preces. O olhar pode ser vidrado e distante. E o rosto às vezes pode estar pálido demais, prova de que uma barba desgrenhada foi raspada às pressas durante os preparativos para uma missão. O homem não exibia nenhuma dessas características. Os lábios estavam franzidos. O olhar estava claro e focado. E o rosto tinha uma coloração uniforme. Ele vinha se barbeando com regularidade havia algum tempo.
O que o diferenciava era a quantidade de suor escorrendo da costeleta esquerda. Por que ele suava tanto no frescor de uma tarde de outono? Se estava com calor, por que as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo? E por que o sobretudo — maior do que deveria ser, na opinião de Gabriel — estava todo abotoado? E também havia o andar. Mesmo um homem em forma, de uns 30 anos, terá dificuldade de andar normalmente quando está carregado com mais de 20 quilos de explosivos, pregos e bolas de aço. Quando passou caminhando por Gabriel na Wellington Street, ele parecia ereto demais, como se tentasse compensar o peso em torno de seu corpo. O tecido das calças de gabardine vibrava com cada passo, como se as juntas dos quadris e dos joelhos estremecessem sob o peso da bomba. Era possível que o jovem suando com um casaco exagerado fosse um inocente que simplesmente precisava fazer suas compras do dia, mas Gabriel desconfiava que não. Ele acreditava que o homem andando alguns passos à frente representava o grand finale de um dia de terror continental. Primeiro Paris, depois Copenhague, e agora Londres.
Gabriel mandou Chiara se abrigar no restaurante e atravessou rapidamente a rua. Seguiu o homem por quase 100 metros, observando quando ele virou a esquina na entrada do mercado de Covent Garden. Havia dois cafés no lado leste da piazza, ambos cheios de clientes almoçando. Em pé entre os cafés, numa réstia de sol, havia três policiais uniformizados. Nenhum deles prestou atenção ao homem que entrou.
Agora Gabriel tinha uma decisão a tomar. A atitude mais óbvia seria contar aos policiais sobre sua suspeita — óbvia, pensou, mas não necessariamente a melhor. Provavelmente a polícia reagiria à abordagem de Gabriel puxando-o de lado para um interrogatório, perdendo muitos segundos preciosos. Pior ainda, eles poderiam confrontar o homem, uma manobra que com quase toda certeza o faria provocar a explosão. Ainda que praticamente todos os policiais londrinos tivessem treinamento básico em táticas antiterroristas, poucos tinham a experiência ou o poder de fogo necessários para abater um jihadista disposto a se martirizar. Gabriel dispunha das duas coisas e já havia agido contra, homens-bomba. Passou pelos três policiais e entrou no mercado.
O homem estava agora a quase 20 metros, caminhando por uma passarela mais alta no recinto principal. Gabriel calculou que ele portava explosivos e estilhaços suficientes para matar todo mundo num raio de quase 25 metros. O procedimento recomendado era que Gabriel permanecesse fora da zona letal da explosão até chegar a hora de agir. O ambiente, porém, o compelia a diminuir a distância e se colocar num perigo maior. Um tiro na cabeça a 23 metros era difícil em quaisquer circunstâncias, mesmo para um atirador com a perícia de Gabriel Allon. Num mercado cheio de gente, seria quase impossível.
Gabriel sentiu seu celular vibrando suavemente no bolso do casaco. Ignorando-o, observou quando o homem se deteve no parapeito da passarela para consultar o relógio. Gabriel tomou nota do fato de estar no pulso esquerdo; logo, o botão do detonador devia estar na mão direita. Mas por que um homem-bomba interromperia seu caminho para ver as horas? A explicação mais plausível era que recebera ordens de terminar com sua vida e as das muitas pessoas inocentes num momento preciso. Gabriel desconfiou que havia algum tipo de simbolismo envolvido. Em geral havia. Os terroristas da Al-Qaeda e de suas ramificações adoravam simbolismos, em especial quando envolviam números.
Agora Gabriel estava próximo o bastante para ver os olhos do homem. Estavam claros e focados, um sinal animador. Significava que ele ainda estava pensando na missão e não nas delícias carnais que o esperavam no Paraíso. Quando começasse a sonhar com as houris perfumadas de olhos escuros, isso transpareceria em sua expressão. E nesse momento Gabriel teria que fazer uma escolha. Por enquanto, ele precisava que o homem continuasse neste mundo um pouco mais.
O terrorista consultou o relógio mais uma vez. Gabriel deu uma olhada rápida para o próprio relógio: 14h34. Passou os números pelo banco de dados de sua memória em busca de alguma conexão. Somou-os, subtraiu-os, multiplicou-os, inverteu-os e mudou sua ordem. Depois pensou sobre os dois ataques anteriores. O primeiro acontecera às 11h46, o segundo, às 12h03. Era possível que os números representassem anos do calendário gregoriano, mas Gabriel não viu nenhuma relação.
Apagou mentalmente as horas dos ataques e se concentrou apenas nos minutos. Quarenta e seis minutos, três minutos. Foi quando entendeu. Os horários eram tão conhecidos para ele quanto as pinceladas de Ticiano. Quarenta e seis minutos, três minutos. Eram dois dos mais famosos momentos da história do terrorismo — os minutos exatos em que os dois aviões sequestrados atingiram o World Trade Center no dia 11 de setembro. O voo 11 da American Airlines chocou-se contra a Torre Norte às 8h46. O voo 175 da United Airlines bateu na Torre Sul às 9h03. O terceiro avião a atingir seu alvo naquela manhã foi o do voo 77 da American Airlines, que foi atirado contra a face oeste do Pentágono. Às 9h37 na hora local, e 14h37 em Londres.
Gabriel consultou seu relógio digital. Haviam passado alguns segundos das 14h35. Erguendo os olhos, viu que o homem estava outra vez se movendo a passos rápidos, as mãos nos bolsos, parecendo ignorar as pessoas ao redor. Quando Gabriel começou a segui-lo, seu celular vibrou outra vez. Dessa vez ele atendeu e ouviu a voz de Chiara. Informou-a que um homem-bomba estava prestes a se explodir em Covent Garden e a instruiu a entrar em contato com o MI5. Depois guardou o telefone no bolso e começou a se aproximar do alvo. Temia que muitas pessoas inocentes estivessem prestes a morrer. E imaginava se poderia fazer algo para impedir.
6
Covent Garden, Londres
Havia outra possibilidade, é claro. Talvez o homem alguns passos à frente não tivesse nada sob o casaco a não ser alguns quilos a mais. Era inevitável se lembrar do caso de Jean Charles de Menezes, o eletricista brasileiro morto a tiros pela policia britânica na estação de Stockwell de Londres depois de ser confundido com um procurado militante islâmico. Os promotores ingleses se recusaram a fazer acusações contra os policiais envolvidos, uma decisão que provocou indignação entre os ativistas de direitos humanos e libertários civis no mundo todo. Gabriel sabia que, sob circunstâncias semelhantes, ele não poderia esperar o mesmo tratamento. Isso significava que ele teria que estar certo antes de agir. Estava confiante em relação a um ponto. Acreditava que o homem-bomba, como um pintor, assinaria o seu nome antes de apertar o botão do detonador. Iria querer que as vítimas soubessem que suas mortes iminentes não eram sem propósito, que estavam sendo sacrificadas em nome do jihad e em nome de Alá.
No momento, porém, Gabriel não tinha escolha a não ser segui-lo e esperar. Devagar, com muito cuidado, ele diminuiu a distância, fazendo pequenos ajustes em seu trajeto para manter uma linha de tiro desimpedida. Os olhos estavam focados na parte inferior do crânio do homem. Poucos centímetros abaixo estava o tálamo, região do cérebro essencial para o controle motor e sensorial do resto do corpo. Se destruísse o tálamo com uma rajada de balas, o homem-bomba não teria como apertar o botão do detonador. Se errasse o tálamo, era possível que o mártir levasse a cabo sua missão ao agonizar. Gabriel era um dos poucos homens no mundo que tinha matado um terrorista antes que ele consumasse seu ataque. Sabia que a diferença entre o sucesso e o fracasso era de uma fração de segundo. Sucesso significava que só um morreria. Fracasso resultaria na morte de muitas pessoas inocentes, talvez até mesmo dele próprio.
O homem passou pela porta que dava na piazza. Estava bem mais movimentada agora. Um violoncelista tocava uma suíte de Bach. Um imitador de Jimi Hendrix segurava uma guitarra ligada a um amplificador. Um homem bem-vestido em cima de um caixote de madeira gritava algo sobre Deus e a guerra do Iraque. O homem-bomba andou direto para o centro da praça, onde a apresentação do comediante se tornara ainda mais pervertida, para o deleite da multidão de espectadores. Usando técnicas aprendidas na juventude, Gabriel mentalmente silenciou os ruídos ao redor um por um, começando pela suave melodia da suíte de Bach e terminando com as ruidosas gargalhadas da multidão. Em seguida, olhou pela última vez para o relógio e esperou que o homem assinasse seu nome.
Eram 14h36. O terrorista tinha chegado aos limites da multidão. Parou por alguns segundos, como se buscasse um ponto fraco para adentrar, depois abriu caminho à força entre duas mulheres espantadas. Gabriel tomou outro rumo alguns metros à direita do homem, passando quase despercebido em meio a uma família de turistas norte-americanos. A multidão estava muito concentrada, e não dispersa, o que representou outro dilema para Gabriel. A munição ideal para uma situação como aquela seria uma bala de ponta oca, que infligiria maiores danos aos tecidos do alvo e reduziria substancialmente as baixas colaterais provenientes de uma penetração mais profunda. Mas a pistola Beretta de Gabriel estava carregada com balas normais Parabellum de 9 mm. Por essa razão, ele teria que se posicionar para disparar numa trajetória extrema de cima para baixo. De outra forma, havia uma grande probabilidade de matar um inocente na tentativa de salvá-lo.
O homem-bomba atravessou a barreira de pessoas e agora se dirigia diretamente para o comediante. Os olhos tinham assumido a expressão vidrada e distante. Os lábios se moviam. As preces finais... O comediante supôs que o homem queria participar da performance. Sorrindo, deu dois passos em sua direção, mas estacou quando viu as mãos dele emergirem dos bolsos do casaco. A mão esquerda estava ligeiramente aberta. A direita estava fechada, com o polegar levantado em ângulo reto. Ainda assim, Gabriel hesitou. E se não fosse um detonador? E se fosse apenas uma caneta? Ele precisava ter certeza. Declare suas intenções, pensou. Assine o seu nome.
O terrorista virou-se de frente para o mercado. Os clientes que olhavam da varanda do Punch and Judy riram nervosos, assim como alguns poucos espectadores na piazza. Em sua mente, Gabriel silenciou as risadas e congelou a imagem. A cena parecia uma pintura de Canaletto. As figuras estavam imóveis; somente Gabriel, o restaurador, era livre para se movimentar entre elas. Passou pela primeira fileira de espectadores e fixou o olhar no ponto na base do crânio. Não seria possível disparar num ângulo descendente. Mas havia outra solução para evitar baixas colaterais: uma linha de fogo de baixo para cima faria com que a bala passasse por cima da cabeça dos espectadores até atingir a fachada de um edifício próximo. Imaginou a manobra em sequência — sacar a arma com as mãos entrelaçadas, agachar, disparar, avançar — e esperou o homem-bomba assinar seu nome.
O silêncio na cabeça de Gabriel foi rompido por um grito bêbado na sacada do Punch and Judy — alguém mandando o mártir sair da frente e deixar a apresentação continuar. O terrorista reagiu erguendo os braços acima da cabeça como um maratonista rompendo a fita da linha de chegada. No lado interno do pulso direito havia um fino fio ligando o botão do detonador aos explosivos. Era toda a prova de que Gabriel precisava. Pegou sua Beretta de dentro do paletó. Em seguida, enquanto o terrorista gritava “Allahu Akbar”. Gabriel caiu sobre um joelho e ergueu a arma em direção ao alvo. Surpreendentemente, a linha de tiro estava livre, sem chance de danos secundários. Quando Gabriel ia apertar o gatilho, duas mãos empurraram com força a arma para baixo e o peso de dois homens o lançou contra o chão.
No instante em que bateu nas pedras da rua, ouviu um som retumbante e sentiu uma lufada de ar incandescente acima dele. Por alguns segundos, Gabriel não ouviu mais nada. Depois os gritos começaram, seguidos por uma ária de lamentos. Gabriel ergueu a cabeça e viu um pesadelo. Eram pedaços de corpos e sangue. Era Bagdá no Tâmisa.
7
New Scotland Yard, Londres
Existem poucos pecados mais graves para um profissional de inteligência, mesmo aposentado, do que cair sob custódia de autoridades locais. Como havia transitado por um longo tempo numa região entre o mundo público e o secreto, Gabriel tinha passado por isso com mais frequência do que a maioria de seus companheiros de viagem. A experiência lhe ensinou que havia um ritual estabelecido para tais ocasiões, que deveria ser concluído antes que a alta cúpula pudesse intervir. Ele conhecia bem o procedimento. Felizmente, seus anfitriões também.
Gabriel tinha sido detido minutos depois do ataque e conduzido em alta velocidade para a New Scotland Yard, o quartel-general da Polícia Metropolitana de Londres. Na chegada, foi levado a uma sala de interrogatório sem janelas, onde trataram de seus inúmeros cortes e escoriações e lhe serviram uma xícara de chá, que deixou intocada. Um superintendente do Comando de Contraterrorismo chegou logo depois. Examinou seus documentos de identidade com o ceticismo que mereciam e em seguida tentou determinar a sequência de eventos que levaram o “Sr. Rossi” a sacar uma arma de fogo em Covent Garden pouco antes de um terrorista se explodir. Gabriel sentia-se tentado a fazer algumas perguntas. Por exemplo, gostaria de saber por que dois especialistas em armas de fogo da divisão SO19 da polícia preferiram neutralizá-lo, e não um terrorista óbvio prestes a cometer um assassinato em massa. Em vez disso, respondeu a todas as perguntas do detetive recitando um número telefônico:
— Ligue para lá ? dizia, indicando o bloco de notas onde o detetive havia escrito o número. ? É um edifício grande não muito longe daqui. Você vai reconhecer o nome do homem que atender. Ou pelo menos deveria reconhecer.
Gabriel não soube a identidade do policial que afinal discou o número nem soube exatamente quando a ligação foi feita. Soube apenas que sua estada na New Scotland Yard durou bem mais do que o necessário. Já era quase meia-noite quando o detetive o escoltou até uma série de corredores bem iluminados em direção à entrada do prédio. Na mão esquerda ele levava um envelope de papel pardo com os pertences de Gabriel. A julgar pelo tamanho e a forma, não continha uma pistola Beretta 9 mm.
Do lado de fora, o clima agradável da tarde dera lugar a uma chuva forte. Aguardando embaixo do pórtico de vidro, com o motor ligado, encontrava-se uma limusine Jaguar escura. Gabriel pegou o envelope com o detetive e abriu a porta traseira do carro. Dentro, com as pernas cruzadas elegantemente, estava um homem que parecia ter sido projetado para a tarefa. Usava um impecável terno grafite e uma gravata prateada combinando com os cabelos. Normalmente, seus olhos claros eram inescrutáveis, mas agora revelavam o estresse de uma noite longa e difícil. Como vice-diretor do MI5, Graham Seymour carregava a pesada responsabilidade de proteger o território britânico das forças do extremismo do Islã. E mais uma vez, apesar de todos os esforços do departamento, o Islã tinha vencido.
Embora os dois homens tivessem um longo histórico profissional, Gabriel pouco sabia da vida pessoal de Graham Seymour. Sabia que Seymour era casado com uma mulher chamada Helen, que ele adorava, e que tinha um filho que era gerente da filial de Nova York de uma importante instituição financeira inglesa. O restante das informações sobre os negócios particulares de Seymour fora tirado dos volumosos arquivos do Escritório. Ele era uma relíquia do glorioso passado britânico, um produto da classe média alta que havia sido criado, educado e programado para ser líder. Acreditava em Deus, mas não com muito fervor. Acreditava em seu país, mas não era cego às suas falhas. Jogava bem golfe e outros esportes, mas dispunha-se a perder para um oponente inferior a serviço de uma causa valiosa. Era um homem admirado e, o mais importante, um homem confiável — um raro atributo entre espiões e agentes secretos.
No entanto, Graham Seymour não era um homem de paciência ilimitada, como revelava sua expressão soturna quando o Jaguar se pôs em movimento. Retirou um exemplar do Telegraph da manhã seguinte do bolso do banco da frente e o jogou no colo de Gabriel. A manchete dizia reinado de terror. Abaixo viam-se três fotografias mostrando o resultado dos três ataques. Gabriel examinou a foto de Covent Garden em busca de algum sinal de sua presença, mas havia apenas vítimas. Era a imagem de um fracasso, pensou — dezoito pessoas mortas, dezenas gravemente feridas, inclusive um dos policiais que o imobilizara. E tudo por causa do tiro que não permitiram que Gabriel disparasse.
— Um dia terrível — disse Seymour demonstrando cansaço. — Imagino que a única maneira de piorar é se a imprensa descobrir sobre você. Quando as teorias da conspiração forem concluídas, o mundo islâmico vai acreditar que os ataques foram planejados e executados pelo Escritório.
— Pode ter certeza de que isso já está acontecendo. — Gabriel devolveu o jornal e perguntou: — Onde está minha esposa?
— Está no seu hotel. Há uma equipe minha no saguão. — Seymour fez uma pausa. — Desnecessário dizer que ela não está muito satisfeita com você.
— Como você sabe? — Os ouvidos de Gabriel ainda zuniam por causa da concussão provocada pela explosão. Fechou os olhos e se perguntou como as equipes da SO19 conseguiram localizá-lo tão rapidamente.
— Como você deve imaginar, nós temos um amplo suporte técnico à nossa disposição.
— Como meu celular e sua rede de câmeras CCTV?
— Exato — concordou Seymour. — Conseguimos localizar você poucos segundos depois de receber a ligação de Chiara. Encaminhamos a informação para o Comando Dourado, o centro operacional de crises da Polícia Metropolitana, que imediatamente despachou duas equipes de especialistas em armas de fogo.
— Eles deviam estar nas imediações.
— Estavam — confirmou Seymour. — Estamos em alerta vermelho depois dos ataques em Paris e Copenhague. Várias equipes já estavam mobilizadas no distrito financeiro e em locais onde costuma haver aglomerações de turistas.
Então por que eles me atacaram e não o homem-bomba?
— Porque nem a Scotland Yard nem o Serviço de Segurança queriam uma reprise do fiasco Menezes. Em consequência da morte dele, inúmeros procedimentos e diretrizes foram implementados para evitar que algo do gênero se repita. Basta dizer que um único alerta não atende às disposições de uma ação letal, nem mesmo se por acaso a fonte é Gabriel Allon.
— E por causa disso dezoito pessoas foram mortas?
— E se ele não fosse um terrorista? E se fosse apenas um ator de rua ou alguém com problemas mentais? Nós teríamos sido crucificados.
— Mas não era um ator de rua nem um maluco, Graham. Era um homem-bomba. E eu disse isso a você.
— Como você sabia?
— Só faltava ele estar com um cartaz avisando.
— Era assim tão óbvio?
Gabriel listou os atributos que levantaram suas suspeitas e depois explicou os cálculos que o levaram a concluir que a explosão seria às 14h37. Seymour meneou a cabeça devagar.
— Já perdi a conta de quantas horas gastamos treinando nossos policiais para localizar possíveis terroristas, sem mencionar os milhões de libras que aplicamos no software de identificação de comportamento da CCTV. Ainda assim um homem-bomba do jihad andou por Covent Garden sem ninguém perceber. Ninguém além de você, é claro.
Seymour caiu num silêncio profundo. O automóvel seguia para o norte ao longo da Regent Street, intensamente iluminada. Cansado, Gabriel apoiou a cabeça no vidro da janela e perguntou se o terrorista havia sido identificado.
— O nome dele é Farid Khan. Os pais imigraram para o Reino Unido vindos de Lahore no fim dos anos 1970, mas Farid nasceu em Londres. Em Stepney Green, para ser exato. Como muitos muçulmanos ingleses de sua geração, ele rejeitou as convicções religiosas moderadas e apolíticas dos pais e se tornou islamita. No fim dos anos 1990, ele passava muito tempo na mesquita de East London em Whitchapel Road. Em pouco tempo se tornou integrante de destaque dos grupos radicais de Hizb ut-Tahrir e Al-Muhajiroun.
— Está parecendo que vocês tinham a ficha dele.
— Nós tínhamos ? concordou Seymour mas não pelas razões que você poderia imaginar. Veja bem, Farid Khan era um raio de sol, nossa esperança para o futuro. Ou ao menos foi o que pensamos.
— Você achou que ele poderia trabalhar para o outro lado?
— Seymour assentiu.
— Pouco depois do 11 de Setembro, Farid entrou para um grupo chamado New Beginnings. Seu objetivo era desprogramar militantes e reintegrá-los à opinião pública vigente do Islã e da Inglaterra. Farid era considerado um de seus grandes sucessos. Raspou a barba. Cortou relacionamentos com os velhos amigos. Formou-se entre os primeiros da turma na King’s College e arranjou um emprego bem pago numa pequena agência de publicidade em Londres. Algumas semanas atrás, ficou noivo de uma mulher de sua antiga vizinhança.
— Aí você o removeu de sua lista.
— De certa forma. Agora parece que foi tudo uma inteligente dissimulação. Farid era uma bomba-relógio prestes a explodir.
— Alguma ideia de quem o ativou?
— Estamos examinando os registros dos telefones e computadores neste exato momento, bem como o vídeo suicida que ele deixou. Está claro que o ataque está ligado aos atentados em Paris e Copenhague. Se foram coordenados pelos remanescentes da central da Al-Qaeda ou por uma nova rede é agora uma questão de intensos debates. Seja qual for o caso, não é da sua conta. Seu papel neste caso está oficialmente encerrado.
O Jaguar atravessou a Cavendish Place e parou na entrada do Hotel Langham.
— Eu gostaria de ter minha arma de volta.
— Vou ver o que posso fazer ? disse Seymour.
— Quanto tempo vou ter que ficar aqui?
— A Scotland Yard gostaria que você ficasse em Londres pelo resto do fim de semana. Na segunda de manhã você pode voltar para o seu chalé à beira-mar e só ficar pensando no seu Ticiano.
— Como você sabe do Ticiano?
— Eu sei de tudo. Tudo menos como evitar que um muçulmano nascido na Inglaterra cometa um assassinato em massa em Covent Garden.
— Eu poderia ter impedido isso, Graham.
— Poderia ? concordou Seymour com frieza. ? E teríamos retribuído o favor fazendo você em pedaços.
Gabriel desceu do carro sem falar mais nada.
— “Seu papel neste caso está oficialmente encerrado” — murmurou ao entrar no saguão. Repetiu isso inúmeras vezes, como um mantra.
8
Nova York
Naquela mesma noite, o outro universo habitado por Gabriel Allon também estava agitado, mas por razões muito diferentes. Era a temporada de leilões do outono em Nova York, uma época de ansiedade em que o mundo da arte, em todas as suas loucuras e excessos, reúne-se durante duas semanas num frenesi de compras e vendas. Como Nicholas Lovegrove gostava de dizer, era uma das poucas ocasiões em que ser muito rico não era algo considerado fora de moda. No entanto, era também um negócio mortalmente sério. Grandes coleções seriam montadas, grandes fortunas seriam construídas e perdidas. Uma só transação poderia deslanchar uma carreira brilhante. Mas também poderia destruí-la.
A reputação profissional de Lovegrove, como a de Gabriel Allon, estava firmemente estabelecida naquela noite. Nascido e educado na Inglaterra, era o consultor de arte mais procurado no mundo — um homem tão poderoso que podia influenciar o mercado apenas fazendo uma observação casual ou torcendo o elegante nariz. Seu conhecimento de arte era lendário, e também o tamanho de sua conta bancária. Lovegrove não precisava mais garimpar clientes; eles o procuravam, em geral de joelhos ou com promessas de altas comissões. O segredo do sucesso de Lovegrove estava no olhar infalível e na discrição. Lovegrove nunca traiu a confiança de ninguém; nunca fez fofocas ou se envolveu em negócios escusos. Era a ave mais rara no negócio de artes — um homem de palavra.
Apesar da reputação, Lovegrove estava acometido por seu habitual nervosismo pré-leilão enquanto se apressava pela Sexta Avenida. Depois de anos de preços em queda e vendas anêmicas, o mercado de arte começava, afinal, a dar sinais de renovação. Os primeiros leilões da temporada haviam sido respeitáveis, mas ficaram abaixo das expectativas. A venda daquela noite, de arte pós— guerra e contemporânea na Christie’s, tinha o potencial de incendiar o mundo das artes. Como de hábito, Lovegrove tinha clientes em ambos os lados do leilão. Dois eram vendedores, enquanto um terceiro queria adquirir o Lote 12, Ocher and Red on Red, óleo sobre tela, de Mark Rothko. O cliente em questão era tão único que Lovegrove nem sabia seu nome. Suas transações eram com um certo Sr. Hamdali em Paris, que por sua vez tratava com o cliente. O arranjo não era feito da forma tradicional, mas, da perspectiva de Lovegrove, era bastante lucrativo. Só durante os últimos doze meses, o colecionador havia adquirido mais de 200 milhões de dólares em pinturas. As comissões de Lovegrove nessas vendas passavam de 20 milhões. Se esta noite as coisas corressem de acordo com o planejado, seu lucro líquido aumentaria substancialmente.
Ele entrou na Rua 49 e andou meio quarteirão até a entrada da Christie’s. O imponente saguão envidraçado era um mar de diamantes, seda, egos e colágeno. Lovegrove parou um instante para beijar a bochecha perfumada de uma atraente herdeira alemã antes de continuar em direção à chapelaria, onde logo foi abordado por dois negociantes do Upper East Side. Rechaçou ambos com um gesto, pegou sua placa do leilão e subiu para o salão de vendas.
Levando-se em conta toda a intriga e o glamour envolvidos, o salão era surpreendentemente comum, uma mistura de saguão da Assembleia Geral das Nações Unidas com uma igreja evangélica de cultos televisivos. As paredes eram de um tom sem graça de bege e cinza, assim como as cadeiras dobráveis aglomeradas para aproveitar ao máximo o espaço limitado. Atrás de uma espécie de púlpito via-se uma vitrine giratória e, perto dela, uma mesa telefônica operada por meia dúzia de funcionários da Christie’s. Lovegrove ergueu os olhos para os camarotes, esperando divisar um ou dois rostos atrás do vidro fumê, depois andou com cautela em direção aos repórteres que se amontoavam como gado no canto do fundo. Escondendo o número de sua placa, passou rápido por eles e se dirigiu a seu lugar habitual na frente da sala. Era a Terra Prometida, o local onde todos os marchands, consultores e colecionadores esperavam um dia sentar. Não era um lugar para quem tivesse o coração fraco ou pouco dinheiro. Lovegrove se referia a ele como “zona da matança”.
O leilão estava programado para começar às seis. Francis Hunt, o leiloeiro-chefe da Christie’s, garantiu cinco minutos adicionais à irrequieta plateia para se acomodar antes de ocupar o seu assento. Ele tinha modos polidos e uma divertida cortesia inglesa que por alguma inexplicável razão ainda fazia os norte-americanos se sentirem inferiores. Na mão direita ele segurava o famoso “livro negro” que continha os segredos do universo, ao menos no que dizia respeito àquela noite. Cada lote à venda tinha sua própria página com informações como a reserva do vendedor, um mapa mostrando a localização dos prováveis compradores e a estratégia de Hunt para obter o maior lance possível. O nome de Lovegrove aparecia na página dedicada ao Lote 12, o Rothko. Durante uma inspeção privada pré-venda, Lovegrove insinuou que talvez estivesse interessado, mas só se o preço fosse apropriado e as estrelas estivessem no alinhamento certo. Hunt sabia que Lovegrove estava mentindo, é claro. Hunt sabia de tudo.
Desejou a todos uma boa-noite e, em seguida, com toda a pompa de um mestre de cerimônias de uma grande festa, disse: — Lote 1, o Twombly.
Os lances começaram de imediato, subindo rápido de 100 mil em 100 mil dólares. O leiloeiro administrava com habilidade o processo junto a dois auxiliares de penteados irretocáveis que se pavoneavam e posavam atrás do púlpito como modelos masculinos numa sessão de fotos. Lovegrove talvez se impressionasse com a performance se não soubesse que tudo era cuidadosamente coreografado e ensaiado. Os lances pararam em 1,5 milhão, mas foram reavivados por um lance por telefone de 1,6 milhão. Seguiram-se mais cinco lances em rápida sucessão, e nesse ponto os lances cessaram pela segunda vez.
— O lance é de 2,1 milhões, com Cordelia ao telefone — entoou Hunt, os olhos movendo-se sedutores pela plateia. — Não está com a madame, nem com o senhor. Dois ponto um, ao telefone, pelo Twombly. Último aviso. Última chance. — O martelo desceu com um baque. — Obrigado — murmurou Hunt enquanto registrava a transação em seu livro negro.
Depois do Twombly veio o Lichtenstein, seguido pelo Basquiat, o Diebenkorn, o De Kooning, o Johns, o Pollock e uma série de Warhols. Todos os trabalhos alcançaram mais do que a estimativa pré-venda e mais do que o lote anterior. Não foi por acaso; Hunt tinha organizado os leilões com inteligência de forma a criar uma escala ascendente de excitação. No momento em que o Lote 12 chegou à vitrine, ele tinha a plateia e os compradores na palma da mão.
— À minha direita temos o Rothko — anunciou. — Vamos começar os lances em 12 milhões?
Eram 2 milhões acima da estimativa pré-venda, um sinal de que Hunt esperava que a obra vendesse muito bem. Lovegrove tirou um celular do bolso do paletó Brioni e digitou um número de Paris. Hamdali atendeu. A voz dele soava como um chá morno adoçado com mel.
— Meu cliente gostaria de sentir um pouco o ambiente antes de fazer o primeiro lance.
— Bem pensado.
Lovegrove colocou o telefone no colo e cruzou os dedos. Logo ficou claro que seria uma árdua batalha. Lances se precipitaram em direção a Hunt de todos os cantos do recinto e dos funcionários da Christie’s que operavam os telefones. Hector Candiotti, consultor de arte de um magnata da indústria belga, brandia a placa no ar com agressividade, uma técnica conhecida como rolo compressor. Tony Berringer, que trabalhava para um oligarca russo do alumínio, fazia lances como se sua vida dependesse daquilo, o que bem podia ser possível. Lovegrove esperou até o preço chegar a 30 milhões antes de pegar o telefone.
— Então? — perguntou com a voz calma.
— Ainda não, Sr. Lovegrove.
Dessa vez Lovegrove manteve o telefone no ouvido. Em Paris, Hamdali falava com alguém em árabe. Infelizmente, não era uma das várias línguas que Lovegrove falava com fluência. Para passar o tempo, perscrutou os camarotes, em busca de compradores secretos. Num deles percebeu uma linda jovem, segurando um celular. Alguns segundos depois, Lovegrove notou algo mais. Quando Hamdali falava, a mulher ficava em silêncio. E quando a mulher falava, Hamdali não dizia nada. Provavelmente era uma coincidência, pensou. Ou não.
— Talvez seja o momento de fazer um teste — sugeriu Lovegrove, os olhos na mulher no camarote.
— Talvez você tenha razão — replicou Hamdali. — Um momento, por favor.
Hamdali murmurou algumas palavras em árabe. Logo depois, a mulher no camarote falou em seu celular. Depois, em inglês, Hamdali falou: — O cliente concorda, Sr. Lovegrove. Por favor, faça seu primeiro lance.
A oferta estava em 34 milhões. Arqueando uma única sobrancelha, Lovegrove aumentou em 1 milhão.
— Nós temos 35 — disse Hunt, num tom que indicava que um novo predador de respeito tinha entrado na disputa.
Hector Candiotti reagiu de imediato, assim como Tony Berringer. Dois compradores por telefone empurraram o preço para o limite de 40 milhões. Então Jack Chambers, o rei do mercado imobiliário, casualmente fez um lance de 41. Lovegrove não estava muito preocupado com Jack. O caso com aquela sirigaita de Nova Jersey tinha saído caro no divórcio. Jack não tinha fundos para ir muito além.
— A oferta está em 41 contra você — sussurrou Lovegrove ao telefone.
— O cliente acredita que tudo não passa de pose.
— Trata-se de um leilão de arte na Christie’s. Pose é praxe.
— Paciência, Sr. Lovegrove.
Lovegrove mantinha os olhos na mulher no camarote quando os lances alcançaram a marca de 50 milhões. Jack Chambers fez um último lance de 60; Tony Berringer e seu gângster russo fizeram as honras com 70. Hector Candiotti desistiu da disputa.
— Parece que está entre nós e os russos — disse Lovegrove ao homem em Paris.
— Meu cliente não se importa com os russos.
— O que o seu cliente gostaria de fazer?
— Qual é o recorde de um Rothko num leilão?
— É de 72 e uns trocados.
— Por favor, faça um lance de 75.
— É demais. Você nunca...
— Faça o lance, Sr. Lovegrove.
Lovegrove arqueou uma sobrancelha e ergueu cinco dedos.
— O lance é de 75 milhões — disse Hunt. — Não está com o senhor. Nem com o senhor. Temos 75 milhões pelo Rothko. Último aviso. Última chance. Todos de acordo?
O martelo foi batido.
Um suspiro perpassou o recinto. Lovegrove olhou para o camarote, mas a mulher já havia ido embora.
9
Península do Lagarto, Cornualha
Com a aprovação da Scotland Yard, do Home Office e do primeiro-ministro britânico, Gabriel e Chiara voltaram à Cornualha três dias depois do atentado em Covent Garden. Madona e a Criança com Maria Madalena, óleo sobre tela, 110 por 92 centímetros, chegou às dez horas da manhã seguinte. Depois de retirar a pintura com todo o cuidado de seu estojo de proteção, Gabriel colocou-a no velho cavalete de carvalho da sala de estar e passou o resto da tarde examinando os raios X. As fantasmagóricas imagens apenas reforçaram sua opinião de que o quadro era de fato um Ticiano, aliás, um belo Ticiano.
Como fazia muitos meses que Gabriel não punha as mãos numa pintura, ele estava ansioso para começar a trabalhar logo. Levantou-se cedo na manhã seguinte, preparou uma tigela de café au lait e imediatamente se lançou à delicada tarefa de revestir a tela. O primeiro passo era colar toalhas de papel sobre a imagem para evitar mais danos à pintura durante o procedimento. Existiam inúmeras colas de fácil aquisição apropriadas à tarefa, mas Gabriel sempre preferiu fazer seu próprio aderente usando a receita que havia aprendido em Veneza do mestre restaurador Umberto Conti — pelotas da cola de rabo de coelho dissolvidas numa mistura de água, vinagre, bile de boi e melaço.
Cozinhou lentamente o malcheiroso preparado no fogão da cozinha até adquirir a consistência de um xarope e assistiu ao noticiário matinal na BBC enquanto esperava a mistura esfriar. Farid Khan era agora um nome conhecido no Reino Unido. Em vista da sincronia precisa de seu ataque, a Scotland Yard e a inteligência britânica operavam com base na tese de que estava ligado aos atentados em Paris e em Copenhague. Ainda não estava clara a que organização terrorista os homens-bomba pertenciam. O debate entre especialistas na televisão era intenso, com um dos lados proclamando que os ataques foram orquestrados pela antiga liderança da Al-Qaeda no Paquistão, enquanto outro declarava que era obviamente o trabalho de uma nova rede que ainda iria aparecer no radar da inteligência do Ocidente. Fosse qual fosse o caso, as autoridades europeias se preparavam para novos derramamentos de sangue. O Centro de Análise Conjunta do Terrorismo do MI5 tinha subido o nível de ameaça para “crítico”, o que significava que era esperado outro ataque iminente.
Gabriel teve sua atenção atraída para uma reportagem sobre a conduta da Scotland Yard logo antes do ataque. Numa declaração formulada com todo o cuidado, o comissário da Polícia Metropolitana admitiu ter recebido um alerta sobre um homem suspeito com um casaco grande demais dirigindo-se a Covent Garden. Lamentavelmente, disse o comissário, a informação não atingiu o nível de especificidade exigido para ação letal. Em seguida confirmou que dois agentes do SO19 haviam sido despachados para Covent Garden, mas que, dentro da política atual, eles não deveriam atirar. Quanto aos relatos de uma arma sendo sacada, a polícia tinha interrogado o homem envolvido e concluído que não era uma arma, e sim uma câmera. Por razões de privacidade, a identidade do homem não seria revelada. A imprensa pareceu aceitar a versão da polícia, assim como os representantes dos direitos civis, que aplaudiram a atitude comedida da polícia mesmo com a morte de dezoito inocentes.
Gabriel desligou a televisão quando Chiara entrou na cozinha. Ela abriu de imediato a janela para tirar o mau cheiro de bile de boi e vinagre e repreendeu Gabriel por ter sujado sua panela de aço inoxidável favorita. Gabriel sorriu e mergulhou a ponta do indicador na mistura. Agora já estava fria o bastante para ser usada. Com Chiara espiando por cima do ombro dele, Gabriel aplicou a cola sobre o verniz amarelado de maneira uniforme e grudou diversas toalhas de papel na superfície. O trabalho de Ticiano estava invisível agora, e assim ficaria por muitos dias até que o novo revestimento fosse finalizado.
Gabriel não podia fazer mais nada naquela manhã a não ser verificar a pintura de tempos em tempos para saber se a cola estava secando de forma adequada. Sentou-se no caramanchão de frente para o mar, um notebook no colo, e pesquisou na internet por mais informações sobre os três ataques. Sentiu-se tentado a contactar o King Saul Boulevard, mas achou melhor não. Já não tinha informado Tel Aviv sobre seu envolvimento em Covent Garden, e fazer isso agora só daria a seus ex-colegas uma desculpa para se intrometerem em sua vida. Gabriel aprendera com a experiência que era melhor tratar o Escritório como uma ex-namorada. O contato devia ser mínimo e o melhor é que ocorresse em lugares públicos, onde seria inapropriado criar confusão.
Pouco antes do meio-dia, as últimas lufadas dos ventos da noite passaram pela enseada de Gunwalloe, deixando o céu claro e de um azul cristalino. Depois de checar mais uma vez a pintura, Gabriel vestiu um agasalho e um par de botas de caminhada e saiu para seu passeio diário pelos penhascos. Na tarde anterior ele tinha caminhado para o norte ao longo do Caminho Costeiro até Praa Sands. Agora subiu a pequena inclinação atrás do chalé e partiu para o sul em direção à ponta da península.
Não demorou muito para a magia da costa da Cornualha espantar os pensamentos sobre os mortos e feridos em Covent Garden. Quando Gabriel chegou aos limites do Mullion Golf Club, a última imagem terrível já estava escondida em segurança debaixo de uma camada de tinta. Enquanto seguia para o sul, passando pelo afloramento rochoso dos penhascos de Polurrian, ele só pensava no trabalho a ser feito no Ticiano. No dia seguinte removeria com todo o cuidado a pintura do esticador e fixaria a tela mole numa faixa de linho italiano, pressionando-a com firmeza no lugar com um pesado ferro de passar. Depois viria a mais longa e árdua fase da restauração: a remoção do verniz quebradiço e amarelado e o retoque das porções de pintura danificadas pelo tempo e a pressão. Enquanto alguns restauradores costumavam ser agressivos nos retoques, Gabriel era conhecido no mundo da arte pela leveza do toque e a fantástica habilidade de imitar as pinceladas dos Grandes Mestres. Ele acreditava ser dever de um restaurador passar despercebido, não deixando evidência alguma a não ser a pintura devolvida à sua glória original.
Quando Gabriel chegou à ponta norte da enseada de Kynance, uma linha de nuvens negras obscurecia o sol e o vento do mar tinha ficado bem mais frio. Como arguto observador do caprichoso clima da Cornualha, ele percebeu que o “intervalo brilhante”, como os meteorologistas britânicos gostavam de chamar os períodos de sol, estava prestes a ter um fim abrupto. Parou por um momento, pensando onde poderia se abrigar. Para o leste, depois da paisagem que se assemelhava a uma colcha de retalhos, estava o vilarejo do Lagarto. Bem à frente estava a ponta. Gabriel escolheu a segunda opção. Ele não queria encurtar sua caminhada por causa de algo trivial como uma rajada de vento passageira. Além do mais, havia um bom café no alto do penhasco, onde ele poderia esperar a tempestade comendo um bolinho recém-assado e tomando um bule de chá.
Levantou a gola do agasalho e seguiu pela orla da enseada enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O café apareceu sob um véu de névoa. Na base dos penhascos, abrigando-se próximo a uma casa de barcos abandonada, viu um homem de uns 25 anos com cabelos curtos e óculos escuros sobre a cabeça. Um segundo homem encontrava-se no alto do ponto de observação, olhando por um telescópio que funcionava com a inserção de moedas. Gabriel sabia que o telescópio estava inativo havia meses.
Parou de andar e olhou em direção ao café assim que um terceiro homem saiu para a varanda. Tinha um chapéu impermeável enterrado até as sobrancelhas e óculos sem aro muito usados por intelectuais alemães e banqueiros suíços. Sua expressão era de impaciência — de um executivo atarefado forçado pela esposa a tirar férias. Olhou diretamente para Gabriel por um longo tempo antes de erguer um punho largo em direção ao rosto e consultar o relógio. Gabriel sentiu-se tentado a virar na direção oposta, mas preferiu baixar o olhar e continuar andando. Melhor fazer isso em público, pensou. Reduziria as chances de uma confusão.
10
Ponta do Lagarto, Cornualha
— Você tinha mesmo que pedir bolinhos? — perguntou Uzi Navot, ressentido.
— São os melhores da Cornualha. Assim como o creme talhado.
Navot não se mexeu. Gabriel deu um sorriso perspicaz.
— Bella quer que você perca quantos quilos?
— Três. Depois eu preciso manter o peso — respondeu Navot com pesar, como se fosse uma sentença de prisão. — O que eu não daria para ter seu metabolismo. Você é casado com uma das maiores cozinheiras do mundo, mas ainda tem o corpo de um jovem de 25 anos. Eu? Sou casado com uma das mais destacadas peritas em assuntos sobre a Síria do país e não posso nem me aproximar de um doce. Talvez seja hora de pedir a Bella para pegar mais leve com as restrições alimentares.
— Peça você — replicou Navot. — Todos esses anos estudando os baatistas de Damasco deixaram sequelas. Às vezes acho que vivo numa ditadura.
Os dois estavam sentados a uma mesa isolada perto das janelas golpeadas pela chuva, Gabriel de frente para o interior, Navot, para o mar. Uzi vestia calças de cotelê e um suéter bege que ainda cheiravam ao departamento masculino da loja da Harrods. Depositou o chapéu numa cadeira próxima e passou a mão no cabelo curto louro-avermelhado. Estava um pouco mais grisalho do que Gabriel se lembrava, mas era compreensível. Uzi Navot era agora o chefe do serviço de inteligência de Israel. Os cabelos grisalhos eram um dos muitos benefícios secundários do trabalho.
Se o breve mandato de Navot terminasse agora, era quase certo que seria considerado um dos mais bem-sucedidos na longa e renomada história do Escritório. As honras concedidas a ele eram resultado da operação Obra-Prima, o empreendimento conjunto anglo-americano-israelense que ocasionou a destruição de quatro instalações nucleares secretas iranianas. Muitos dos créditos eram de Gabriel, ainda que Navot preferisse não se estender muito nesse ponto. Ele só foi nomeado chefe porque Gabriel recusou o posto repetidas vezes. E as quatro usinas de enriquecimento ainda estariam funcionando se Gabriel não tivesse identificado e recrutado o empresário suíço que vendia peças para os iranianos em segredo.
No momento, porém, os pensamentos de Navot pareciam focados apenas no prato de bolinhos. Incapaz de continuar resistindo, ele escolheu um, partiu-o com grande cuidado e lambuzou-o com geleia de morango e um bocado de creme talhado. Gabriel colocou chá em sua xícara e perguntou calmamente sobre o propósito daquela visita não anunciada. Fez isso em alemão fluente, que ele falava com o sotaque berlinense de sua mãe. Era uma das cinco línguas que compartilhava com Navot.
— Eu tinha vários assuntos a discutir com minhas contrapartes britânicas. Na pauta estava um surpreendente relatório sobre um de nossos ex-agentes que agora vive aposentado aqui sob a proteção do MI5. Havia um grande alarde a respeito desse agente e o atentado de Covent Garden. Para ser honesto, fiquei um pouco em dúvida quando ouvi. Conhecendo bem esse agente, não conseguia imaginar que ele arriscasse sua posição na Inglaterra fazendo algo tão tolo como sacar uma arma em público.
— O que eu deveria ter feito, Uzi?
— Deveria ter chamado o seu contato no MI5 e lavado as mãos.
— E se você estivesse numa situação semelhante?
— Se estivesse em Jerusalém ou em Tel Aviv, eu não teria hesitado em abater o canalha. Mas aqui... Acho que teria considerado antes as possíveis consequências das minhas ações.
— Dezoito pessoas morreram, Uzi.
— Considere-se com sorte por não terem sido dezenove. — Navot tirou os óculos de armação alongada, algo que costumava fazer antes de se envolver numa conversa desagradável. — Sinto-me tentado a perguntar se você realmente pretendia fazer o disparo. Mas em vista de seu treinamento e seus feitos passados, acho que sei a resposta. Um agente do Escritório saca a arma em campo por uma razão e apenas por uma razão. Não a fica sacudindo como um gângster ou faz ameaças vazias. Simplesmente puxa o gatilho e atira para matar. — Navot fez uma pausa, depois acrescentou: — Faça com os outros antes que eles tenham oportunidade de fazer com você. Acredito que essas palavras podem ser encontradas na página 12 do pequeno livro vermelho de Shamron.
— Ele sabe sobre Covent Garden?
— Você já sabe a resposta. Shamron sabe de tudo. Aliás, eu não ficaria surpreso se ele não tivesse ouvido sobre sua pequena aventura antes de mim. Apesar de minhas tentativas de mantê-lo na aposentadoria, ele insiste em permanecer em contato com suas fontes dos velhos tempos.
Gabriel acrescentou umas gotas de leite a seu chá e mexeu devagar. Shamron... O nome era quase sinônimo da história de Israel e de seus serviços de inteligência. Depois de lutar na guerra que levou à reconstituição de Israel, Ari Shamron passou os sessenta anos seguintes protegendo o país de uma horda de inimigos dispostos a destruí-lo. Tinha penetrado nas cortes de reis, roubado segredos de tiranos e matado incontáveis adversários, às vezes com as próprias mãos, às vezes com as mãos de homens como Gabriel. Apenas um segredo fugia a Shamron — o segredo da satisfação. Já idoso e com a saúde em frangalhos, agarrava-se desesperadamente a seu papel de eminência parda do establishment de segurança de Israel e ainda se metia nos negócios internos do Escritório como se fosse seu feudo. Não era a arrogância que motivava Shamron, mas, sim, um constante temor de que todo o seu trabalho tivesse sido em vão. Embora próspero na economia e forte na área militar, Israel continuava cercado por um mundo que era, em sua maior parte, hostil a sua existência. O fato de Gabriel ter escolhido morar nesse mundo estava entre as maiores decepções de Shamron.
— Estou surpreso de ele mesmo não ter vindo — comentou Gabriel.
— Ele teve vontade.
— E por que não veio?
— Não é mais tão fácil para ele viajar.
— Qual o problema agora?
— Tudo — respondeu Navot, dando de ombros. — Atualmente ele mal sai de Tiberíades. Só fica na varanda olhando para o lago. Gilah está ficando louca. Tem me pedido para arrumar alguma coisa para ele fazer.
— Será que devo fazer uma visita?
— Ele não está no leito de morte, se é o que está insinuando. Mas você deveria fazer uma visita logo. Quem sabe? Talvez você resolva gostar do seu país outra vez.
— Eu adoro o meu país, Uzi.
— Mas não o suficiente para viver lá.
— Você sempre me lembrou um pouco Shamron — disse Gabriel, franzindo a testa ?, mas agora essa semelhança é impressionante.
— Gilah me disse a mesma coisa pouco tempo atrás.
— Eu não disse que isso é um elogio.
— Nem ela. — Navot acrescentou outra colher de sopa de creme talhado ao bolinho com um cuidado exagerado.
— Então, por que você está aqui, Uzi?
— Quero oferecer uma oportunidade única.
?Você está falando como um vendedor.
— Eu sou um espião. Não tem muita diferença.
— O que você quer oferecer?
— Uma oportunidade de reparar um erro.
— E qual foi esse erro?
— Você deveria ter acertado Farid Khan antes de ele apertar o botão do detonador. — Navot baixou a voz e acrescentou, confiante: — É o que eu teria feito, se estivesse no seu lugar.
— E como eu poderia reparar esse erro de julgamento?
— Aceitando um convite.
— De quem?
Navot olhou em silêncio para o oeste.
— Dos norte-americanos? — perguntou Gabriel.
Navot sorriu.
— Mais chá?
A chuva parou tão de repente quanto começou. Gabriel deixou dinheiro em cima da mesa e acompanhou Navot pelo caminho íngreme até a enseada de Polpeor. O guarda-costas ainda estava encostado na rampa em escombros da casa de barcos. Olhou com falsa indiferença quando Gabriel e Navot caminharam juntos pela praia rochosa até a beira da água. Navot deu um olhar distraído para seu relógio de aço inoxidável e levantou a gola do casaco para se proteger do tempestuoso vento do mar. Gabriel ficou mais uma vez surpreso com a incrível semelhança com Shamron, que não era apenas superficial. Era como se Ari, pela pura força de sua vontade indomável, tivesse de alguma forma possuído Navot de corpo e alma. Não era o Shamron enfraquecido pela idade e pela doença, pensou Gabriel, mas o homem em seu auge. Só o que faltava eram os malditos cigarros turcos que destruíram a saúde de Shamron. Bella nunca tinha deixado Navot fumar, nem mesmo como disfarce.
— Quem está por trás dos atentados, Uzi?
— Até agora, não conseguimos estabelecer isso com certeza. Os norte-americanos, porém, acham que se trata da futura face do terror jihadista global, o novo Bin Laden.
— E esse novo Bin Laden tem um nome?
— Os norte-americanos insistem em partilhar essa informação pessoalmente com você. Querem que você vá a Washington, com todas as despesas pagas, claro.
— Como foi feito esse convite?
— Adrian Carter me ligou.
Adrian Carter era o diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA.
— Qual é o código de vestuário?
— Preto. Sua visita aos Estados Unidos jamais terá acontecido.
Gabriel encarou Navot em silêncio por um momento.
— Obviamente você quer que eu vá, Uzi, ou não estaria aqui.
— Mal não pode fazer. Na pior das hipóteses, vai nos dar uma oportunidade de ouvir o que os norte-americanos têm a dizer sobre os atentados. Mas existem outros benefícios indiretos também.
— Tais como?
— Nosso relacionamento pode se dar bem com alguns retoques.
— Que tipo de retoques?
— Você não soube? Washington está de cara nova. A mudança está no ar — observou Navot com sarcasmo. — O novo presidente dos Estados Unidos é um idealista. Acredita que pode consertar as relações entre o Ocidente e o Islã e está convencido de que nós somos parte do problema.
— Então a solução sou eu, um ex-assassino com o sangue de vários palestinos e terroristas islâmicos nas mãos?
— Quando os serviços de inteligência se dão bem, isso tende a se alastrar para a política, por isso o primeiro-ministro também está ansioso para que você faça a viagem.
— O primeiro-ministro? Daqui a pouco você vai me dizer que Shamron também está envolvido.
— E está. — Navot pegou uma pedra e atirou-a ao mar. — Depois da operação no Irã, eu me permiti pensar que Shamron poderia afinal sumir. Eu estava enganado. Ele não tem intenção de me deixar dirigir o Escritório sem sua interferência constante. Mas isso não surpreende, não é, Gabriel? Nós dois sabemos que Shamron tinha outra pessoa em mente para o trabalho. Eu estou destinado a figurar na história de nosso ilustre serviço como o chefe acidental. E você sempre será o escolhido.
— Escolha outra pessoa, Uzi. Estou aposentado, lembra? Mande outra pessoa para Washington.
— Adrian não quer nem ouvir falar disso — disse Navot, esfregando o ombro. — Nem Shamron. Quanto a sua pretensa aposentadoria, terminou no momento em que você resolveu seguir Farid Khan em Covent Garden.
Gabriel olhou para o mar e visualizou o resultado do tiro não disparado: sangue e corpos despedaçados, Bagdá no Tâmisa. Navot pareceu adivinhar o que ele estava pensando e se aproveitou.
— Os norte-americanos querem você em Washington amanhã bem cedo. Haverá um Gulfstream à sua espera perto de Londres. Foi um dos aviões usados no programa de sequestros de prisioneiros. Eles me garantiram que removeram as algemas e agulhas hipodérmicas.
— E quanto a Chiara?
— O convite é individual.
— Ela não pode ficar aqui sozinha.
— Graham concordou em mandar uma equipe de segurança de Londres.
— Eu não confio neles, Uzi. Leve-a para Israel com você. Ela pode ajudar Gilah a cuidar do velho por alguns dias até eu voltar.
— Talvez ela fique lá por algum tempo.
Gabriel examinou Navot com atenção. Dava para notar que ele sabia mais do que estava dizendo. Ele sempre sabia.
— Eu acabei de concordar em restaurar um quadro para Julian Isherwood.
— Um Madona e a Criança com Maria Madalena, outrora atribuído ao estúdio de Palma Vecchio, agora talvez atribuído a Ticiano, dependendo da revisão de especialistas.
— Muito impressionante, Uzi.
— Bella tem tentado ampliar meus horizontes.
— O quadro não pode ficar num chalé vazio perto do mar.
— Julian concordou em pegar o quadro de volta. Como você deve imaginar, ele ficou bastante desapontado.
— Eu ia receber 200 mil libras por esse trabalho.
— Não olhe para mim, Gabriel. O caixa está vazio. Fui obrigado a fazer cortes em todos os níveis dos departamentos. Os contadores estão querendo inclusive que eu diminua minhas despesas pessoais. Minha diária é uma miséria.
— Ainda bem que você está de dieta.
Navot levou a mão à barriga de forma inconsciente, como se quisesse verificar se tinha aumentado desde que saiu de casa.
— É um longo caminho até Londres, Uzi. Talvez seja melhor você levar alguns bolinhos.
— Nem pense nisso.
— Tem medo de que Bella descubra?
— Eu sei que ela vai descobrir. — Navot olhou para o guarda-costas encostado na rampa da casa de barcos. — Esses canalhas contam tudo para ela. É como viver numa ditadura.
11
Georgetown, Washington
A casa ficava no quarteirão 3300 da N Street, uma das elegantes residências com terraço e preços apenas ao alcance dos mais ricos de Washington. Gabriel subiu a escada em curva da entrada à meia-luz da aurora e, como instruído, entrou sem tocar a campainha. Adrian Carter esperava no vestíbulo, usando calça de algodão vincada, um suéter de gola olímpica e um blazer de cotelê marrom-claro. Combinado com seu cabelo escasso e despenteado e um bigode fora de moda, o traje lhe dava o ar de um professor de uma pequena universidade, do tipo que defende nobres causas e é sempre uma dor de cabeça para o reitor. Como diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA, no momento Carter só defendia uma causa: manter o território norte-americano a salvo de ataques terroristas ? embora duas vezes por mês, se a agenda permitisse, ele pudesse ser encontrado no porão de sua igreja episcopal no subúrbio de Reston preparando refeições para os sem-teto. Para Carter, o trabalho voluntário era uma meditação, uma rara oportunidade de se envolver com algo que não fosse o destrutivo estado de guerra que sempre assolava as salas de reunião da vasta comunidade de inteligência dos Estados Unidos.
Cumprimentou Gabriel com a circunspecção natural dos homens que vivem no mundo da clandestinidade e o conduziu para dentro. Gabriel parou um momento no centro do corredor e olhou ao redor. Protocolos secretos haviam sido feitos e rompidos naquelas salas de mobília sem graça; homens foram seduzidos para trair seus países em troca de valises cheias de dólares e promessas de proteção norte-americana. Carter tinha usado tantas vezes aquela casa que ela era conhecida em Langley como seu pied-à-terre de Georgetown. Um espertinho da Agência a havia batizado como Dar-al-Harb, que em árabe quer dizer “Casa da Guerra”. Era uma guerra encoberta, claro, pois Carter não conhecia outra forma de lutar.
Adrian Carter não tinha procurado o poder intencionalmente. Bloco a bloco, foi jogado em seus ombros estreitos sem que ele quisesse. Recrutado pela Agência ainda antes de se formar, passou a maior parte da carreira travando uma guerra secreta contra os russos — primeiro na Polônia, onde canalizava dinheiro e mimeógrafos para o Solidariedade; depois em Moscou, onde trabalhou como chefe de base; e finalmente no Afeganistão, onde incentivou e armou os soldados de Alá, mesmo sabendo que um dia eles mandariam fogo e morte sobre ele. Se o Afeganistão acabaria se mostrando a causa de destruição do Império do Mal, também permitiria a Carter um avanço na carreira. Ele não monitorou o colapso da União Soviética em campo, mas de um confortável escritório em Langley, onde tinha sido promovido havia pouco a chefe da Divisão Europeia. Enquanto seus subordinados comemoravam abertamente a morte do inimigo, Carter observava os eventos se desdobrarem com um mau pressentimento. Sua amada Agência falhara em prever o colapso do comunismo, um erro grave que assombraria Langley durante anos. Pior ainda: num piscar de olhos, a CIA tinha perdido a própria razão de sua existência.
Isso mudou na manhã do dia 11 de setembro de 2011. A guerra que se seguiu seria uma guerra travada nas sombras, um lugar que Adrian Carter conhecia muito bem. Enquanto o Pentágono lutava para elaborar uma reação militar ao horror do 11 de Setembro, foi Carter e sua equipe do Centro de Contraterrorismo que produziram um ousado plano para destruir o santuário afegão da Al-Qaeda com uma guerrilha montada pela CIA e conduzida por uma pequena força de agentes especiais norte-americanos. E quando os comandantes e soldados de infantaria da Al-Qaeda começaram a cair nas mãos dos Estados Unidos, foi Carter, de sua escrivaninha em Langley, que com frequência atuou como júri e juiz. As prisões secretas, os sequestros extraordinários, os métodos brutos de interrogatório — tudo tinha o dedo de Carter. Ele não lamentava suas ações; não podia se dar a esse luxo. Para Adrian Carter, todas as manhãs eram 12 de setembro. Nunca mais, jurou, ele veria norte-americanos se atirando de arranha-céus em chamas atingidos por terroristas.
Durante dez anos, Carter tinha conseguido manter essa promessa. Ninguém tinha feito mais para proteger o território dos Estados Unidos de um segundo ataque previsto com muita antecedência, embora, por seus muitos pecados secretos, ele tenha sido crucificado pela imprensa e ameaçado por processos criminais. Aconselhado por advogados da Agência, ele contratou os serviços de um caro advogado de Washington, uma extravagância que drenava suas economias e obrigou sua esposa, Margaret, a voltar a dar aulas. Amigos tinham insistido com Carter para esquecer a Agência e aceitar um cargo lucrativo na crescente indústria de segurança privada de Washington, mas ele recusou. Seu fracasso em evitar os ataques de 11 de setembro ainda o perseguia. E os fantasmas dos três mil mortos o incitavam a continuar lutando até o inimigo ser derrotado.
A guerra tinha cobrado seu preço de Carter — não apenas a vida de sua família, que estava em ruínas, mas também sua saúde. Seu rosto estava magro e cansado, e Gabriel percebeu um leve tremor na mão direita dele quando encheu um prato, sem nenhum entusiasmo, com iguarias do governo dispostas sobre um bufê na sala de jantar.
— Pressão alta — explicou Carter, ao se servir de café de uma garrafa térmica. — Começou no dia da posse do presidente e sobe e desce de acordo com o nível de ameaça terrorista. É triste dizer, mas depois de dez anos lutando contra o terror islâmico, parece que me tornei um medidor ambulante de ameaça nacional.
— Em que nível estamos hoje?
— Você não ouviu falar? Nós abandonamos o antigo sistema de cores.
— O que sua pressão está dizendo?
— Vermelho — respondeu Carter secamente. — Vermelho vivo.
— Não é o que diz sua diretora de segurança interna. Ela diz que não há ameaças iminentes.
— Nem sempre ela escreve seus próprios discursos.
— Quem escreve?
— A Casa Branca. E o presidente não gosta de alarmar o povo norte-americano sem necessidade. Além do mais, aumentar o nível de ameaça entraria em conflito com a narrativa conveniente que ronda todas as conversas de Washington hoje em dia.
— Que narrativa é essa?
— A que diz que os Estados Unidos reagiram com sucesso ao 11 de Setembro. A que diz que a Al-Qaeda deixou de ser uma ameaça, principalmente para o país mais poderoso da face da terra. A que diz que chegou a hora de declarar vitória na guerra global ao terror e voltar a atenção para dentro. — Carter franziu a testa. — Meu Deus, eu odeio quando jornalistas usam a palavra "narrativa”. Houve uma época em que os romancistas escreviam narrativas e os jornalistas se contentavam em relatar os fatos. E os fatos são bastante simples. Existe no mundo atual uma força organizada que quer enfraquecer ou até destruir o Ocidente com atos de violência indiscriminada. Essa força e parte de um movimento radical mais abrangente para impor a lei da charia e restaurar o califado islâmico. E nenhum pensamento positivo vai eliminar esse fato.
Os dois se sentaram frente a frente numa mesa retangular. Carter pegou a ponta de um croissant murcho, os pensamentos claramente em outro lugar. Gabriel sabia que era melhor não apressar nada. Numa conversa, Carter acabava divagando um pouco. Chegaria ao essencial, mas haveria vários desvios e digressões ao longo do caminho, e todas se mostrariam úteis para Gabriel no futuro.
— Sob alguns aspectos, eu simpatizo com o desejo do presidente de virar a pagina da história — continuou Carter. — Ele acha que a guerra global ao terrorismo desvia a atenção de objetivos maiores. Pode ser difícil de acreditar, mas eu só o encontrei em duas ocasiões. Ele me chama de Andrew.
— Mas pelo menos ele nos deu esperança.
— Esperança não é uma estratégia aceitável quando vidas estão em risco. Foi a esperança que nos levou ao 11 de Setembro.
— Então quem está dando as cartas dentro do governo?
— James McKenna, consultor do presidente para segurança interna e contraterrorismo, também conhecido como o czar do terrorismo, o que é interessante, pois ele emitiu um decreto banindo a palavra “terrorismo” de todos os nossos pronunciamentos públicos. Chega a desencorajar até mesmo o uso no âmbito particular. E Deus nos livre se mencionarmos a palavra “islâmico” junto. Segundo James McKenna, não estamos engajados numa guerra contra terroristas islâmicos. Estamos engajados num esforço internacional contra um pequeno grupo de extremistas transnacionais. Esses extremistas, por um acaso também muçulmanos, são irritantes, mas não representam uma verdadeira ameaça contra nossa existência ou estilo de vida.
— Diga isso às famílias dos que morreram em Paris, Copenhague e Londres.
— Isso é uma resposta emocional — observou Carter com ironia. — E James McKenna não tolera emoções quando se fala de terrorismo.
— Você quer dizer extremismo — comentou Gabriel.
— Me perdoe — disse Carter. — McKenna é um animal político que se vê como um perito em inteligência. Trabalhou com o Comitê Seleto de Inteligência do Senado nos anos 1990 e veio para Langley logo depois da chegada dos gregos. Ficou só alguns meses, mas isso não o impede de se definir como um veterano da CIA. Ele diz ser um homem da Agência que, de coração, só quer o melhor para a instituição. A verdade é um tanto diferente. Ele odeia a Agência e todos os que trabalham ali. Acima de tudo, ele me detesta.
— Por quê?
— Parece que eu o deixei constrangido durante uma reunião de diretoria. Não me lembro do incidente, mas parece que McKenna nunca conseguiu superar. Além disso, me disseram que McKenna me considera um monstro que fez um mal irreparável para a imagem dos Estados Unidos no mundo. Nada o faria mais feliz do que me ver atrás das grades.
— É bom saber que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está funcionando bem outra vez.
— Na verdade, McKenna acha que está tudo bem agora que ele comanda o espetáculo. Conseguiu até se fazer nomear presidente do nosso Grupo de Interrogatório de Prisioneiros de Alto Valor. Se uma figura importante do terrorismo for capturada em qualquer parte do mundo, sob quaisquer circunstâncias, James McKenna será o encarregado de questioná-la. É muito poder para uma pessoa só, mesmo que essa pessoa seja competente. Mas, infelizmente, James McKenna não se enquadra nessa categoria. Ele é ambicioso, é bem-intencionado, mas não sabe o que está fazendo. E se não tomar cuidado, vai acabar nos matando.
— Parece encantador — observou Gabriel. — Quando vou conhecê-lo?
— Nunca.
— Então por que estou aqui, Adrian?
— Você está aqui por causa de Paris, Copenhague e Londres.
— Quem foi o responsável?
— Uma nova ramificação da Al-Qaeda. Mas receio que eles sejam apoiados por uma pessoa que ocupa um cargo sensível e poderoso na inteligência ocidental.
— Quem?
Carter não respondeu. Sua mão direita estava tremendo.
CONTINUA
Aposentado do serviço secreto israelense, o restaurador de arte Gabriel Allon decide passar um fim de semana em Londres com a esposa, Chiara, Mas seus sentidos estão sempre em alerta, sobretudo depois dos recentes atentados suicidas em Paris e Copenhague.
Em meio à multidão, Gabriel detecta um suspeito. Um homem-bomba. Quando está prestes a atirar para matar, ele é detido pela polícia britânica e acaba presenciando um terrível massacre.
Já de volta a sua casa na Cornualha e ainda assombrado por não ter sido capaz de impedir o ataque, o agente é convocado a comandar um esquema global contra a guerra santa muçulmana. Uma nova rede terrorista se espalha pela Europa e só há uma solução para derrotá-la: infiltrar um agente duplo.
A espiã ideal é uma bilionária saudita que vive de dissimulações transitando entre os mundos islâmico e ocidental. Treinada por Allon ela deve evitar que o terror se dissemine.
Numa trama que espelha as tensões e conflitos da atualidade, Gabriel precisa identificar o inimigo para, enfim, chegar a seu covil: o plácido porém implacável deserto da Arábia Saudita.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/11_RETRATO_DE_UMA_ESPI_.webp
Parte Um
Morte no jardim
1
Península do Lagarto, Cornualha
Foi o Rembrandt que resolveu o mistério de uma vez por todas. Mais tarde nas estranhas lojas onde faziam suas compras e nos pequenos e escuros pubs à beira-mar onde tomavam seus drinques, eles iriam recriminar uns aos outros por não terem percebido os sinais óbvios e dariam boas risadas de algumas de suas mais extravagantes teorias sobre a verdadeira natureza do trabalho dele. Pois nem em seus sonhos mais loucos alguém pensou na possibilidade de o homem taciturno que morava no extremo da enseada de Gunwalloe ser um restaurador de arte, quanto mais um restaurador mundialmente famoso.
Não era o primeiro forasteiro a surgir na Cornualha com um segredo, mas poucos o tinham guardado com tanto zelo e tanta classe. Havia chamado atenção a maneira peculiar com que ele conseguira uma casa para si mesmo e sua linda esposa, muito mais jovem. Depois de escolher o pitoresco chalé do penhasco — sem que ninguém soubesse ?, pagou os doze meses de aluguel adiantado, e um obscuro advogado em Hamburgo cuidou discretamente de toda papelada. Ocupou o chalé duas semanas depois, como se estivesse liderando um ataque a um posto avançado inimigo. Os que o encontraram em suas primeiras incursões no vilarejo ficaram surpresos com sua notável falta de franqueza. Ele parecia não ter nome — pelo menos não um que quisesse compartilhar — nem um país de origem que qualquer um conseguisse identificar. Duncan Reynolds, aposentado havia trinta anos do trabalho na ferrovia e considerado o mais mundano dos moradores de Gunwalloe, o descreveu como “um homem enigmático”, enquanto outras definições variavam entre “reservado” e “insuportavelmente mal-educado”. Mesmo assim, todos concordavam que, para o bem ou para o mal, o pequeno vilarejo no oeste da Cornualha tinha se tornado um lugar muito mais interessante.
Com o passar do tempo, descobriram que o nome dele era Giovanni Rossi e que, como sua esposa, era descendente de italianos. E tudo se tornou ainda estranho quando eles começaram a notar carros do governo cheios de homens rondando as ruas do vilarejo tarde da noite. Depois foram os dois sujeitos que as vezes pescavam na enseada. A opinião de todos é que eram os piores pescadores que já tinham visto. Aliás, a maioria supôs que nem mesmo fossem pescadores. Como costuma acontecer em pequenos vilarejos como Gunwalloe, teve início um intenso debate sobre a verdadeira identidade do recém-chegado e a natureza de seu trabalho — um debate que afinal cessou com a descoberta do Retrato de uma jovem, óleo sobre tela, de 104 por 86 centímetros, de Rembrandt van Rijn.
Nunca se soube exatamente quando o quadro chegou. Achavam que havia sido em meados de janeiro, pois foi quando perceberam uma mudança drástica em sua rotina. Um dia ele estava andando pelos penhascos escarpados da península do Lagarto como se estivesse lutando contra uma consciência culpada; no dia seguinte estava diante de um cavalete na sala de estar, um pincel numa das mãos e uma paleta na outra, ópera tocando tão alto que seu lamento podia ser ouvido do outro lado de Mounts Bay em Marazion. Como seu chalé era muito próximo do Caminho Costeiro, era possível — se alguém parasse no lugar exato e esticasse o pescoço no ângulo certo — vê-lo em seu estúdio. No início, imaginaram que estivesse trabalhando numa pintura de sua autoria. Mas com o lento passar das semanas, ficou claro que ele estava envolvido no ofício conhecido como conservação ou, mais comumente, restauração.
— Que diabo significa isso? — perguntou Malcolm Braithwaite, um pescador de lagosta aposentado que cheirava sempre a mar, certa noite no Lamb and Flag Pub.
— Significa que ele está consertando aquela coisa — respondeu Duncan Reynolds. — Uma pintura é como um ser vivo, respirando. Quando fica velha, esfarela e se enruga. Como você, Malcolm.
— Ouvi dizer que é uma jovem.
— Bonitinha — disse Duncan, assentindo. — Bochechas da cor de maçãs. Com certeza é comível.
— Nós conhecemos o pintor?
— Ainda estamos averiguando.
E averiguaram mesmo. Consultaram muitos livros, buscaram em muitos sites, foram atrás de pessoas que sabiam mais sobre arte do que eles — uma categoria que incluía a maior parte da população do oeste da Cornualha. Finalmente, no início de abril, Dottie Cox, da loja do vilarejo, tomou coragem para simplesmente perguntar à linda jovem italiana sobre a pintura quando ela veio fazer compras na cidade. A mulher se esquivou da pergunta com um sorriso ambíguo e, com a sacola de palha ao ombro, voltou para a enseada, o cabelo exuberante agitado pelo vento da primavera. Minutos depois de sua chegada, o lamento da ópera cessou e as persianas das janelas do chalé se fecharam.
Continuaram fechadas ao longo da semana seguinte, quando o restaurador e a esposa desapareceram de repente. Durante vários dias, os moradores de Gunwalloe temeram que eles não voltassem mais, e alguns se repreenderam por terem bisbilhotado e se intrometido nos negócios particulares do casal. Certa manhã, ao folhear o Times em sua loja, Dottie Cox reparou numa reportagem de Washington sobre a descoberta de um retrato de Rembrandt há muito perdido — um retrato exatamente igual ao que estava no chalé. E assim o mistério foi resolvido.
Por coincidência, na mesma edição do Times, na primeira página, havia um artigo sobre uma série de misteriosas explosões em quatro instalações nucleares iranianas. Ninguém em Gunwalloe imaginou que poderia haver uma conexão. Pelo menos não por enquanto.
Dava para notar que o restaurador era um homem mudado quando voltou da América. Embora continuasse reservado — ainda não era um tipo que você gostaria de encontrar de surpresa no escuro ?, estava claro que um fardo tinha sido retirado de seus ombros. De vez em quando avistavam um sorriso em seu rosto anguloso, e o brilho em seus olhos verdes parecia de uma tonalidade menos defensiva. Até mesmo suas longas caminhadas diárias estavam diferentes. Antes ele pisoteava o caminho como um homem possuído; agora ele parecia pairar acima dos penhascos cobertos pela névoa como um espírito que voltara para casa depois de muito tempo numa terra distante.
— Parece que ele foi liberado de um voto secreto — observou Vera Hobbs, dona da padaria. Mas quando alguém pediu para arriscar um palpite sobre o voto, ou com quem havia se comprometido, ela não respondeu. Como todos os outros no vilarejo, tinha se mostrado uma tola ao tentar adivinhar a ocupação do homem. — Além do mais, é melhor deixá-lo em paz. Senão, da próxima vez que ele e a linda esposa saírem da península, vai ser para sempre.
De fato, enquanto aquele glorioso verão passava, os futuros planos do restaurador se tornaram a principal preocupação de todo o vilarejo. Como o contrato de aluguel do chalé expirava em setembro e não havia nenhuma evidência de que seria renovado, eles se engajaram em convencê-lo a ficar. Decidiram que o restaurador precisava de algo para prendê-lo na costa da Cornualha — um trabalho que exigisse suas habilidades únicas, algo a fazer além de caminhar pelos penhascos. Eles não tinham ideia do que seria exatamente esse trabalho e de quem poderia oferecê-lo, mas confiaram a si mesmos a delicada tarefa de descobrir isso.
Depois de muitas deliberações, foi Dottie Cox quem finalmente surgiu com a ideia do Primeiro Festival Anual de Belas-Artes de Gunwalloe, e o famoso restaurador Giovanni Rossi seria o presidente honorário. Fez a proposta para a esposa do restaurador na manhã seguinte, quando ela apareceu na loja na hora de sempre. A mulher riu por alguns minutos. A oferta era lisonjeira, comentou depois de recuperar a compostura, mas ela achava que não era o tipo de coisa com que o signor Rossi concordaria. A recusa oficial aconteceu pouco depois e a ideia do festival foi por água abaixo. Mas não houve problema: poucos dias depois, eles souberam que o restaurador tinha renovado o contrato por um ano. Mais uma vez, o aluguel foi pago adiantado e o mesmo advogado obscuro de Hamburgo cuidou de toda a papelada.
Assim, a vida voltou ao que poderia ser chamado de normal. Continuaram a ver o restaurador no meio da manhã quando fazia compras com a esposa e também no meio da tarde quando andava pelos penhascos de casaco e boina puxada para a frente. E se ele se esquecia de cumprimentar alguém da forma apropriada, ninguém se ofendia. Se ele se sentia desconfortável com algo, deixavam-no à vontade para fazer do seu jeito. E se um estranho chegasse ao povoado, observavam cada movimento até que ele fosse embora. O restaurador e a esposa poderiam ter vindo da Itália, mas agora pertenciam à Cornualha, e que os céus ajudassem o tolo que tentasse tirá-los de lá outra vez.
No entanto, algumas pessoas da península acreditavam que havia mais naquela história — e um homem em particular achava que sabia o que era. Seu nome era Teddy Sinclair, dono de uma pizzaria muito boa em Helston, com um pendor para teorias da conspiração, grandes e pequenas. Teddy acreditava que os pousos na Lua eram uma farsa, que o 11 de Setembro fora armado pelo governo e que o homem da enseada de Gunwalloe estava escondendo mais que uma habilidade secreta para restaurar pinturas.
Para provar de uma vez por todas que tinha razão, convocou os moradores ao Lamb and Flag na segunda quinta-feira de novembro e revelou um esquema que parecia um pouco a tabela periódica. O propósito era estabelecer, sem a menor sombra de dúvida, que as explosões nas instalações nucleares iranianas eram trabalho de um lendário oficial de inteligência israelense chamado Gabriel Allon — e que o mesmo Gabriel Allon estava agora vivendo em paz em Gunwalloe com o nome de Giovanni Rossi. Quando as gargalhadas finalmente diminuíram, Duncan Reynolds disse que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido desde que um francês decidiu que a Europa devia ter uma moeda em comum. Mas dessa vez Teddy permaneceu firme, o que era o certo a fazer. Teddy poderia estar enganado sobre o pouso na Lua e o 11 de Setembro, mas no que dizia respeito ao homem de enseada de Gunwalloe, sua teoria era perfeitamente verdadeira.
Na manhã seguinte, Dia do Armistício, o vilarejo acordou com a notícia de que o restaurador e a esposa tinham desaparecido. Em pânico. Vera Hobbs correu até a enseada e espiou pelas janelas do chalé. As ferramentas do restaurador estavam espalhadas por uma mesa baixa, e apoiada no cavalete havia a pintura de uma mulher nua deitada num sofá. Vera demorou a perceber que o sofá era idêntico ao da sala de estar e que a mulher era a mesma que ela via todas as manhãs na padaria. Apesar do constrangimento, Vera não conseguiu desviar o olhar, pois era uma das pinturas mais extraordinárias e belas que já vira. Era também um bom sinal, ela pensou enquanto caminhava de volta para o povoado. Uma pintura como aquela não era algo que um homem deixaria para trás ao sair de um lugar. Os dois iriam acabar voltando. E que os céus ajudassem aquele maldito Teddy Sinclair se não voltassem.
2
Paris
A primeira bomba explodiu às 11h46 na avenida Champs-Élysées, em Paris. O diretor do serviço de segurança francês falaria mais tarde que não tinha recebido alerta do ataque iminente, uma afirmação que seus detratores poderiam ter considerado risível se o número de mortos não fosse tão alto. Os sinais de alerta eram claros, disseram. Só um cego ou ignorante não notaria.
Do ponto de vista da Europa, o momento do ataque não poderia ter sido pior. Após décadas de gastos excessivos na área social, a maior parte do continente estava oscilando à beira de um desastre fiscal e monetário. As dívidas subiam, os caixas estavam vazios e seus mimados cidadãos ficavam cada vez mais velhos e desiludidos. Austeridade era a ordem do dia. No clima vigente, nada era considerado sagrado; sistema de saúde, bolsas de estudo, patrocínio artístico e até benefícios de aposentados estavam sofrendo cortes drásticos. Na chamada periferia da Europa, as economias menores estavam tombando num efeito dominó. A Grécia naufragava lentamente no Egeu, a Espanha estava na UTI e o Milagre Irlandês tinha se transformado em nada mais que uma miragem. Nos elegantes salões de Bruxelas, muitos eurocratas ousavam dizer em voz alta o que já fora impensável: que o sonho de uma integração europeia estava morrendo. E em seus momentos mais sombrios, alguns deles imaginavam se a Europa como eles conheciam não estaria morrendo também.
Mais uma crença estava se deteriorando naquele novembro — a convicção de que a Europa poderia absorver um interminável fluxo de imigrantes muçulmanos das antigas colônias enquanto preservava sua cultura e seu modo de vida. O quis tinha começado como um programa temporário para atenuar a falta de emprego após a guerra agora alterava permanentemente todo o continente. Agitados subúrbios muçulmanos rodeavam quase todas as cidades e diversos países pareciam destinados a ter uma população de maioria muçulmana antes do fim do século. Nenhuma autoridade havia se dado ao trabalho de consultar a população nativa da Europa antes de escancarar os portões, e agora, depois de anos de relativa passividade, os europeus começavam a reagir. A Dinamarca havia imposto restrições rigorosas contra casamentos de imigrantes. A França vetara o uso de véu cobrindo todo o rosto em público. E os suíços, que mal toleravam uns aos outros, tinham decidido manter suas pequenas e bem cuidadas cidades livres de desagradáveis minaretes. Os líderes da Inglaterra e da Alemanha haviam declarado que o multiculturalismo, a religião virtual da Europa pós-cristianismo, estava morto. A maioria não se curvaria mais ao desejo da minoria, afirmaram. Nem faria vista grossa ao extremismo que florescia em seu seio. Parecia que o antigo embate da Europa com o Islã tinha entrado numa fase nova e potencialmente perigosa. Eram muitos os que temiam que fosse uma luta desigual. Um dos lados estava velho, cansado, satisfeito consigo mesmo. O outro podia ser levado a um furor assassino por causa de alguns rabiscos num jornal dinamarquês.
Nenhum outro lugar da Europa expunha esses problemas de forma tão clara quanto Clichy-sous-Bois, o inflamável banlieue árabe próximo de Paris. Epicentro dos tumultos mortais que varreram a França em 2005, o subúrbio tinha uma das taxas de desemprego mais elevadas do país, assim como os mais altos índices de crimes violentos. Tão perigoso era Clichy-sous-Bois que até mesmo a polícia francesa hesitava em entrar em seus fervilhantes cortiços — inclusive no cortiço onde morava Nazim Kadir, um argelino de 26 anos, funcionário do renomado restaurante Fouquet, com doze integrantes de sua grande família.
Naquela manhã de novembro, ele saiu de seu apartamento ainda em meio à escuridão para se purificar numa mesquita construída com dinheiro saudita e administrada por um imame treinado na Arábia Saudita que não falava francês. Depois de cumprir o mais importante pilar do Islã, ele tomou o ônibus 601AB até Le Raincy e em seguida embarcou num trem RER até a Gare Saint-Lazare. Lá, fez baldeação para o metrô de Paris e a etapa final de sua viagem. Em nenhum momento ele despertou suspeitas das autoridades ou dos passageiros. Seu casaco pesado escondia um colete com explosivos.
Saiu da estação George V em sua hora habitual, 11h40, e tomou a avenida Champs-Élysées. Os que tiveram a sorte de escapar do inferno que se seguiu diriam mais tarde que não havia nada incomum em sua aparência, embora o dono de uma popular floricultura afirmasse ter notado uma curiosa determinação em seu andar quando ele se aproximou da entrada do restaurante. Entre os que estavam do lado de fora havia um representante do ministro da Justiça, um apresentador de jornal da televisão francesa, uma modelo que estampava a capa da edição atual da Vogue, um mendigo cigano segurando a mão de uma criança e um ruidoso grupo de turistas japoneses. O homem-bomba consultou o relógio pela última vez. Depois abriu o zíper do casaco.
Não se sabe ao certo se houve o tradicional brado de “Allahu Akbar”. Diversos sobreviventes afirmaram ter ouvido; muitos outros juraram que o homem-bomba detonou o dispositivo em silêncio. Quanto ao som da explosão, os que estavam mais próximos não tinham memória alguma, pois os tímpanos foram muito afetados. Todos só conseguiram se lembrar de uma luz branca cegante. Era a luz da morte, disseram. A luz que se vê no momento em que se confronta Deus pela primeira vez.
A bomba em si era uma maravilha de design e construção. Não era o tipo de dispositivo construído com base em manuais da internet ou nos panfletos instrutivos que percorriam as mesquitas salafistas da Europa. Havia sido aperfeiçoada em meio aos conflitos na Palestina e na Mesopotâmia. Recheada de pregos embebidos em veneno para rato — uma prática emprestada dos homens-bomba do Hamas ?, rasgou a multidão como uma serra circular. A explosão foi tão poderosa que a Pirâmide do Louvre, a quase 2,5 quilômetros ao leste, estremeceu com a lufada de ar. Os que estavam mais próximos da bomba foram despedaçados, cortados pela metade ou decapitados, o castigo preferido para os hereges. A mais de 30 metros ainda havia membros perdidos. Nas bordas mais distantes da zona de impacto, a morte aparecia de forma cristalina. Poupados de traumas externos, alguns tinham sido mortos pela onda de choque, que destruiu seus órgãos internos como um tsunami. Deus havia sido misericordioso por deixá-los sangrar em particular.
Os primeiros gendarmes a chegar sentiram-se instantaneamente enojados pelo que viram. Havia membros espalhados pelas ruas ao lado de sapatos, relógios de pulso esmagados e congelados às 11h46 e celulares que tocavam sem parar. Num insulto final, os restos do assassino estavam misturados aos de suas vítimas — menos a cabeça, que parou sobre um caminhão de entregas a cerca de 30 metros de distância, com a expressão do homem-bomba estranhamente serena.
O ministro do Interior francês chegou dez minutos depois da explosão. Ao ver a carnificina, ele declarou: “Bagdá chegou a Paris.” Dezessete minutos depois, chegou aos Jardins de Tivoli, em Copenhague, onde, às 12h03, um segundo homem-bomba se detonou no meio de um grande grupo de crianças que esperavam impacientes para embarcar na montanha-russa do parque. O serviço de segurança dinamarquês logo descobriu que o shahid nascera em Copenhague, frequentara escolas dinamarquesas e era casado com uma dinamarquesa. Pareceu não dar importância ao fato de que os filhos dele frequentassem a mesma escola que suas vítimas.
Para os profissionais de segurança em toda a Europa, um pesadelo se tornava realidade: ataques coordenados e altamente sofisticados que pareciam ter sido planejados e executados por uma mente brilhante. Temiam que os terroristas logo voltassem a atacar, embora faltassem duas informações cruciais. Eles não sabiam onde. E não sabiam quando.
3
St. James, Londres
Mais tarde, o comando de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres gastaria muito tempo e esforço valiosos tentando reconstituir os passos de um certo Gabriel Allon naquela manhã, o lendário porém imprevisível filho da inteligência israelense agora formalmente aposentado e vivendo tranquilamente no Reino Unido. Soube-se, por relatos de seus vizinhos intrometidos, que ele havia partido de seu chalé na Cornualha poucos minutos depois do amanhecer em seu Range Rover, acompanhado por Chiara, sua bela esposa italiana. Sabia-se também, graças ao onipresente sistema de câmeras CCTV da Grã-Bretanha, que o casal tinha chegado ao centro de Londres em tempo quase recorde e que, por um ato de intervenção divina, tinha conseguido encontrar um local para estacionar legalmente em Piccadilly. De lá seguiram a pé até a Masons Yard, um tranquilo pátio retangular de pedras e comércio em St. James e apresentaram-se à porta da Isherwood Fine Arts. De acordo com a câmera no pátio, foram admitidos no recinto às 11h40, horário de Londres, embora Maggie, a medíocre secretária de Isherwood, tenha registrado errado o horário em sua agenda como 11h45.
Desde 1968 detentora de pinturas de Grandes Mestres italianos e holandeses que bem podiam estar em museus, a galeria já havia ocupado um salão na aristocrática New Bond Street, em Mayfair. Empurrado para o exílio em St. James por tipos como Hermès, Burberry e Cartier, Isherwood refugiara-se num decadente armazém de três andares que já fora da loja de departamentos Fortnum & Mason. Entre os fofoqueiros moradores de St. James, a galeria sempre foi considerada um bom teatro — comédias e tragédias, com surpreendentes altos e baixos e um ar de conspiração que sempre a envolvia. Isso se devia principalmente à personalidade de seu dono. Julian Isherwood era amaldiçoado com um defeito quase fatal para um negociante de arte — gostava mais de possuir do que de vender as obras. Ele estava sobrecarregado por um grande inventário do que é carinhosamente chamado, no mercado de arte, de estoque morto — pinturas pelas quais nenhum comprador ofereceria um bom preço. Corriam boatos de que a coleção particular de Isherwood comparava-se à da família real britânica. Até Gabriel, que já restaurava pinturas para a galeria havia mais de trinta anos, tinha apenas uma vaga ideia de todas as posses de Isherwood.
Eles o encontraram em seu escritório — uma figura alta e levemente frágil inclinada sobre uma escrivaninha atulhada de antigos catálogos e monografias. Usava um terno risca de giz e uma gravata lavanda que havia ganhado de presente num encontro na noite anterior. Como de hábito, ele parecia levemente de ressaca, uma aparência que cultivava. Seu olhar estava pesaroso, fixo na televisão.
— Suponho que tenha ouvido as notícias?
Gabriel assentiu lentamente. Ele e Chiara haviam escutado os primeiros boletins no rádio enquanto passavam pelos subúrbios no oeste de Londres. As imagens que apareciam na tela agora eram muito parecidas com as que haviam se formado na mente de Gabriel — os mortos cobertos com plástico, os sobreviventes ensanguentados, os transeuntes com as mãos no rosto, horrorizados. Nada mudava. Ele imaginou que nunca mudaria.
— Eu almocei no Fouquet na semana passada com um cliente — disse Isherwood, passando a mão por suas longas mechas grisalhas. — Nos separamos no mesmo local onde esse maníaco detonou a bomba. E se o cliente tivesse marcado o almoço para hoje? Eu poderia estar...
Isherwood parou de falar. Era uma reação típica depois de um ataque, pensou Gabriel. Os vivos sempre tentam encontrar uma conexão, por mais tênue que seja, com os mortos.
— O homem-bomba de Copenhague matou crianças — continuou Isherwood. — Você poderia me explicar, por favor, por que assassinam crianças inocentes?
— Medo — respondeu Gabriel. — Eles querem que sintamos medo.
— Quando isso vai terminar? — perguntou Isherwood, meneando a cabeça com desgosto. — Em nome de Deus, quando essa loucura vai acabar?
— Você devia saber que não adianta fazer perguntas desse tipo, Julian. — Gabriel baixou a voz e acrescentou: — Afinal, você está assistindo a essa guerra de camarote há muito tempo.
Isherwood deu um sorriso melancólico. Seu nome e perfil genuinamente ingleses ocultavam o fato de que ele não era inglês de verdade. Britânico de nacionalidade e passaporte, sim, porém alemão de nascimento, francês de formação e judeu por religião. Apenas poucos amigos de sua confiança sabiam que Isherwood tinha chegado a Londres como uma criança refugiada em 1942 depois de ser carregado pelos Pireneus cobertos de neve por dois pastores bascos. Ou que seu pai, o renomado comerciante de arte parisiense Samuel Isakowitz, tinha sido assassinado no campo de concentração de Sobibór junto com sua mãe. Apesar de Isherwood ter guardado com cuidado os segredos do passado, a história de sua dramática fuga da Europa ocupada pelos nazistas chegou aos ouvidos do serviço secreto de inteligência de Israel. E em meados dos anos 1970, durante uma onda de ataques terroristas palestinos contra alvos israelenses na Europa, ele foi recrutado como um sayan, um ajudante voluntário. Isherwood tinha apenas uma missão — ajudar a construir e manter a imagem de restaurador de arte de Gabriel Allon.
— Só não se esqueça de uma coisa — observou Isherwood. — Agora você trabalha para mim, não para eles. Isso não é problema seu, queridinho. Não mais. — Apontou o controle remoto para a televisão e as destruições em Paris e Copenhague desapareceram. — Vamos ver algo mais bonito?
O limitado espaço da galeria obrigara Isherwood a organizar seu império verticalmente — depósitos no térreo, escritórios no segundo andar e, no terceiro, uma gloriosa sala de exposição formal no modelo da famosa galeria de Paul Rosenberg em Paris, onde o jovem Julian havia passado muitas horas felizes na infância. Ao entrarem no salão, o sol do meio-dia penetrava pela claraboia, iluminando uma grande pintura a óleo sobre um pedestal coberto por um tecido grosso. Um retrato da Madona e a Criança com Maria Madalena contra um fundo noturno, obviamente da Escola de Veneza. Chiara tirou seu longo casaco de couro e sentou-se num sofá no centro da sala. Gabriel ficou bem em frente à tela, uma das mãos apoiando o queixo, a cabeça inclinada para um lado.
— Onde você o encontrou?
— Numa grande pilha de calcário na costa de Norfolk.
— E a pilha tem um dono?
— Insistem no anonimato. Basta dizer que é descendente de uma família nobre, suas propriedades são enormes e que suas reservas em dinheiro estão diminuindo num ritmo alarmante.
— Por isso pediu que tirasse algumas pinturas de suas mãos para ele se manter sem dívidas por mais um ano.
— Do jeito que ele gasta dinheiro, eu daria mais dois meses no máximo.
— Quanto você pagou por isso?
— Vinte mil.
— Quanta bondade, Julian. — Gabriel olhou para Isherwood e acrescentou: — Imagino que tenha coberto os rastros levando outras pinturas também.
— Seis peças absolutamente sem valor — confessou Isherwood. — Mas se meu palpite sobre essa estiver certo, elas valeram o investimento.
— Procedência? — perguntou Gabriel.
— Foi adquirida no Vêneto por um ancestral do proprietário enquanto fazia uma viagem pela Europa no início do século XIX. Está na família desde essa época.
— Atribuição atual?
— Oficina de Palma Vecchio.
?É mesmo? — perguntou Gabriel, cético. — De acordo com quem?
— De acordo com o perito italiano que intermediou a venda.
— Ele era cego?
— Só de um olho.
Gabriel sorriu. Muitos italianos que assessoravam a aristocracia inglesa durante suas viagens eram charlatães que faziam transações rápidas de cópias sem valor falsamente atribuídas aos mestres de Florença e Veneza. Em algumas ocasiões, se enganavam e vendiam obras legítimas. Isherwood desconfiou que a pintura no pedestal pertencesse à segunda categoria. Assim como Gabriel. Ele passou a ponta do indicador pelo rosto de Madalena, tirando o equivalente a um século de fuligem.
— Onde estava pendurado? Numa mina de carvão?
Tateou o verniz bem descolorido. Provavelmente era composto por uma resina de lentisco ou de pinho dissolvida em terebintina. A remoção seria um doloroso processo envolvendo o uso de uma mistura cuidadosamente regulada de acetona, éter glicólico e solução mineral. Gabriel podia imaginar os horrores que o esperavam quando o velho verniz fosse retirado: arquipélagos de pentimento, um deserto de rachaduras e vincos na superfície, uma quantidade enorme de pinturas escondidas por restaurações anteriores. E havia ainda as condições da tela, que se enrugara dramaticamente com o tempo. A solução era um novo revestimento, um perigoso procedimento envolvendo a aplicação de calor, umidade e pressão. Qualquer restaurador que já tivesse feito um revestimento possuía cicatrizes do trabalho. Gabriel havia destruído grande parte de uma pintura de Domenico Zampieri usando um ferro com um medidor de temperatura defeituoso. A pintura afinal restaurada, embora cristalina para olhos não treinados, demonstrava ser uma colaboração entre Zampieri e o estúdio de Gabriel Allon.
— Então? — perguntou Isherwood outra vez. — Quem pintou essa maldita coisa?
Gabriel exagerou na deliberação.
— Vou precisar de raios X para estabelecer uma atribuição definitiva.
— Vão vir aqui ainda esta tarde para levar os quadros. E nós dois sabemos que você não precisa disso para fazer uma atribuição preliminar. Você é como eu, queridinho. Está envolvido com pinturas há cem mil anos. Sabe tudo quando vê um quadro.
Gabriel pescou uma pequena lupa do bolso do casaco e usou-a para examinar as pinceladas. Inclinando-se um pouco para a frente, pôde sentir o formato familiar de uma pistola Beretta 9 mm pressionando o quadril esquerdo. Depois de trabalhar com a inteligência britânica para sabotar o programa nuclear iraniano, agora tinha permissão para portar uma arma o tempo todo para proteção. Havia recebido também um passaporte inglês, que podia ser usado livremente em viagens ao exterior, desde que não estivesse a trabalho para seu antigo serviço. Mas não havia chance de isso acontecer. A ilustre carreira de Gabriel Allon estava finalmente encerrada. Ele não era mais o anjo vingador de Israel. Era um restaurador de arte empregado pela Isherwood Fine Arts, e a Inglaterra era o seu lar.
— Você tem um palpite — disse Isherwood. — Posso ver nos seus olhos verdes.
— Tenho, sim — respondeu Gabriel, ainda absorvido pelas pinceladas ?, mas antes gostaria de uma segunda opinião.
Olhou para Chiara por cima dos ombros. Ela estava brincando com uma media de seu cabelo revolto, uma expressão levemente pensativa. Na posição em que estava, mostrava uma notáve1 semelhança com a mulher na pintura. O que não era surpresa, pensou Gabriel. Descendente de judeus expulsos da Espanha em 1492, Chiara havia sido criada no antigo gueto de Veneza. Era bem possível que algumas de suas ancestrais tivessem posado para mestres como Bellini, Veronese e Tintoretto.
— O que você acha? — perguntou Gabriel.
Chiara postou-se diante da tela ao lado de Gabriel e estalou a língua, reprovando sua condição lastimável. Embora tivesse estudado o Império Romano na faculdade, havia ajudado Gabriel em inúmeras restaurações e, durante o processo, se tornara uma formidável historiadora de arte.
— É um excelente exemplo de uma Conversação Sagrada, ou Sacra Conversazione, uma cena idílica em que os integrantes estão agrupados em uma paisagem esteticamente agradável. E como qualquer imbecil sabe, Palma Vecchio e considerado o criador dessa forma.
— O que você acha da técnica? — perguntou Isherwood, um advogado conduzindo uma testemunha favorável.
— É boa demais para Palma — respondeu Chiara. — Sua paleta de cores era incomparável, mas ele nunca foi considerado habilidoso, mesmo por seus contemporâneos.
— E a mulher posando como a Madona?
— Se eu não estiver enganada, o que é pouco provável, o nome dela é Violante. Ela aparece em várias pinturas de Palma. Mas na época havia outro famoso pintor em Veneza que dizem que gostava muito dela. O nome era...
— Tiziano Vecellio — completou Isherwood. — Mais conhecido como Ticiano.
— Parabéns, Julian — disse Gabriel, sorrindo. — Você pinçou um Ticiano pela quantia irrisória de 20 mil libras. Agora só precisa encontrar um restaurador capaz de deixá-lo perfeito.
— Quanto? — perguntou Isherwood.
Gabriel franziu a testa.
— Vai dar muito trabalho.
— Quanto? — repetiu Isherwood.
— Duzentos mil.
— Eu poderia arranjar alguém por metade desse preço.
— É verdade. Mas nós dois nos lembramos da última vez que você tentou isso.
— Quando você pode começar?
— Preciso consultar minha agenda antes de me comprometer.
— Eu faço um adiantamento de 100 mil.
— Nesse caso, eu posso começar agora mesmo.
— Vou mandar a tela para a Cornualha depois de amanhã. A questão é: quando você vai me entregar?
Gabriel não respondeu. Olhou para o relógio por um momento, como se não estivesse marcando a hora certa, e depois para a claraboia, pensativo.
Isherwood pousou a mão em seu ombro com delicadeza.
— Não é problema seu, queridinho. Não mais.
4
Covent Garden, Londres
A blitz da polícia perto da Leicester Square parou o tráfego na Charing Cross. Gabriel e Chiara atravessaram uma nuvem de fumaça dos escapamentos dos carros e seguiram pela Cranbourn Street, ladeada por pubs e cafés que atendiam as hordas de turistas que pareciam vagar sem rumo pelo Soho a qualquer hora, independentemente da estação. Gabriel olhava para a tela de seu celular. O número de vítimas em Paris e Copenhague estava subindo.
— Muito ruim? — perguntou Chiara.
— Já são 28 na Champs-Élysées e 37 nos Jardins de Tivoli.
— Eles têm alguma ideia do responsável?
— Ainda é cedo demais, mas os franceses acham que pode ser a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.
— Será que eles conseguiriam fazer dois ataques coordenados como esses?
— Eles têm células por toda a Europa e América do Norte, mas os analistas do King Saul Boulevard sempre foram céticos quanto à capacidade de eles manterem o estilo espetacular de Bin Laden.
O King Saul Boulevard era o endereço do serviço de inteligência israelense no exterior. O nome longo e propositalmente enganoso tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os que trabalhavam lá se referiam ao lugar como o Escritório e nada mais. Até mesmo agentes aposentados como Gabriel e Chiara nunca pronunciavam o verdadeiro nome da organização.
— Não me parece coisa do Bin Laden — comentou Chiara. — Parece mais...
— Bagdá — completou Gabriel. — Essa quantidade de vítimas é alta para ataques ao ar livre. A impressão é que os construtores das bombas sabiam o que estavam fazendo. Se nós tivermos sorte, ele deixou sua assinatura no local.
— Nós? — perguntou Chiara.
Gabriel guardou o telefone no bolso sem falar nada. Os dois tinham chegado ao caótico trânsito no fim da Cranbourn Street. Havia dois restaurantes italianos: o Spaghetti House e o Bella Italia. Ele olhou para Chiara e pediu que escolhesse.
— Eu não vou começar meu longo fim de semana em Londres no Bella Italia — disse Chiara franzindo a testa. — Você me prometeu um almoço decente.
— Na minha opinião, existem lugares bem piores que o Bella Italia em Londres.
— Não se você nasceu em Veneza.
Gabriel sorriu.
— Nós temos uma reserva num lugar adorável chamado Orso, na Wellington Street. É bem italiano. Achei que poderíamos passar por Covent Garden no caminho.
— Você ainda quer fazer isso?
— Nós precisamos comer, e a caminhada vai nos fazer bem.
Passaram depressa pela rotatória e entraram na Garrick Street, onde dois policiais de casacos verde-limão interrogavam o motorista de aparência árabe de uma van branca. A ansiedade dos pedestres era quase palpável. Em alguns rostos Gabriel via um medo genuíno; em outros, uma determinação inflexível de seguir em frente como sempre. Chiara segurava a mão dele com força enquanto os dois passavam pelas vitrines das lojas. Ela esperava por aquele fim de semana havia muito tempo e estava determinada a não deixar que as notícias de Paris e de Copenhague o estragassem.
— Você foi um pouco duro com Julian — falou ela. — Duzentos mil é o dobro do que você cobra normalmente.
— É um Ticiano, Chiara. Julian vai se dar muito bem.
— O mínimo que você podia fazer era aceitar o convite dele para um almoço comemorativo.
— Eu não queria almoçar com Julian. Queria almoçar com você.
— Ele queria discutir uma ideia conosco.
— Que tipo de ideia?
— Uma sociedade. Ele quer que sejamos sócios na galeria.
Gabriel diminuiu o passo e parou.
— Quero deixar uma coisa o mais claro possível: não tenho absolutamente nenhum interesse em me tornar sócio de uma empresa que só de vez em quando está no azul, como acontece com a Isherwood Fine Arts.
— Por que não?
— Por uma razão — respondeu ele, voltando a andar. — Nós não temos ideia de como tocar um negócio.
— Você já tocou vários negócios de sucesso no passado.
— Isso é fácil quando se tem o apoio de um serviço de inteligência.
— Você não está se dando o devido crédito, Gabriel. O que pode ser tão difícil em dirigir uma galeria de arte?
— Pode ser incrivelmente difícil. E como Julian já provou muitas vezes, é fácil se envolver em problemas. Até as galerias mais bem-sucedidas podem afundar-se fizerem uma aposta errada. — Gabriel olhou de soslaio e perguntou: — Quando você e Julian tramaram esse pequeno arranjo?
— Você fala como se estivéssemos conspirando pelas suas costas.
— É porque estavam mesmo.
Com um sorriso, Chiara acabou concordando.
— Foi quando estávamos em Washington na apresentação do Rembrandt. Julian me puxou de lado e disse que estava começando a pensar em se aposentar. Ele quer que a galeria fique nas mãos de alguém em quem confie.
— Julian nunca vai se aposentar.
— Eu não teria tanta certeza.
— Onde eu estava enquanto esse negócio era tramado?
— Acho que você tinha saído para uma conversa particular com uma repórter investigativa inglesa.
— Por que você não me falou nada disso até agora?
— Porque Julian pediu.
Gabriel ficou em silêncio, deixando claro que Chiara tinha violado um dos princípios fundamentais do casamento deles. Segredos, mesmo os mais triviais, eram proibidos.
— Desculpe, Gabriel. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas Julian foi inflexível. Sabia que o seu primeiro instinto seria dizer não.
— Ele poderia vender a galeria para Oliver Dimbleby num piscar de olhos e se aposentar numa ilha no Caribe.
— Você já pensou no que isso significaria para nós? Você quer mesmo restaurar pinturas para Oliver Dimbleby? Ou para Giles Pittaway? Ou acha que poderia arranjar algum trabalho freelance com a Tate ou a National Gallery?
— Parece que você e Julian já pensaram em tudo.
— Pensamos mesmo.
— Então talvez você deva ser sócia de Julian.
— Só se você restaurar pinturas para mim.
Gabriel percebeu que Chiara estava falando sério.
— Dirigir uma galeria não é só frequentar leilões glamorosos ou ir a longos almoços em restaurantes de luxo na Jermyn Street. E também não é algo que se possa considerar um passatempo.
— Obrigada por me considerar uma amadora.
— Não foi o que eu quis dizer, você sabe disso.
— Você não é o único que se aposentou do Escritório, Gabriel. Eu também me aposentei. Mas, ao contrário de você, eu não tenho Grandes Mestres danificados para ocupar o meu tempo.
— Então você quer virar uma negociante de arte? Vai passar os dias fuçando um monte de pinturas medíocres em busca de outro Ticiano perdido. E a probabilidade é de nunca encontrar um.
— Não me parece tão mau. — Chiara olhou ao redor. — E isso significa que poderíamos morar aqui.
— Achei que você gostava da Cornualha.
— Adoro. Mas não no inverno.
Gabriel ficou em silêncio. Ele vinha se preparando para uma conversa como aquela já havia algum tempo.
— Achei que nós iríamos ter um filho — falou por fim.
— Eu também — concordou Chiara. — Mas estou começando a achar que não vai ser possível. Nada que eu tento parece funcionar.
Havia um tom de resignação na voz dela que Gabriel nunca tinha ouvido.
— Então vamos continuar tentando — disse.
— Não quero que você se sinta desapontado. Foi aquela gravidez interrompida. Para mim, vai ser muito mais difícil ficar grávida outra vez. Quem sabe? Talvez uma mudança de cenário possa ajudar. Pense nisso — falou, apertando a mão dele. — É só o que estou pedindo, querido. Pode ser que gostemos de morar aqui.
Na ampla piazza do mercado de Covent Garden, um comediante de rua orientava um casal de turistas alemães a ficar numa pose que sugeria intimidade sexual, sem que eles percebessem. Chiara encostou-se numa pilastra para assistir à apresentação enquanto Gabriel fechou a cara, os olhos examinando a multidão reunida na praça e junto à mureta do restaurante Punch and Judy acima. Não estava zangado com Chiara, mas consigo mesmo. Durante anos, a relação entre os dois havia girado em torno de Gabriel e seu trabalho. Nunca lhe havia ocorrido que Chiara também pudesse ter suas próprias aspirações profissionais. Se eles fossem um casal normal, ele poderia ter considerado a proposta. Mas eles não eram um casal normal. Eram ex-agentes de um dos serviços de inteligência mais renomados do mundo. E tinham um passado sangrento demais para levar uma vida pública.
Quando se dirigiam à arrojada arcada de vidro do mercado, toda a tensão da discussão logo se dissipou. Até mesmo Gabriel, que detestava fazer compras, sentia prazer em perambular pelas tendas e lojas coloridas com Chiara a seu lado. Inebriado pelo aroma dos cabelos dela, ele imaginou a tarde que tinham pela frente — um almoço tranquilo seguido por uma agradável caminhada de volta ao hotel. Lá, na sombra fresca do quarto, Gabriel despiria Chiara devagar e faria amor na enorme cama. Por um momento, quase foi possível para Gabriel imaginar seu passado sendo apagado e suas façanhas se tornando meras lendas que juntavam poeira nos arquivos do King Saul Boulevard. Apenas o estado de alerta permanecia — a vigilância instintiva e inquietante não o deixava se sentir completamente em paz em público. Forçava-o a fazer um esboço mental de todos os rostos que passavam no mercado lotado. E na Wellington Street, quando os dois se aproximavam do restaurante, ele parou de repente. Chiara puxou-o pelo braço, de um jeito brincalhão. Depois olhou diretamente nos olhos dele e percebeu que havia algo errado.
— Parece que você viu um fantasma.
— Não um fantasma. Um homem morto.
— Onde?
Gabriel apontou com a cabeça uma figura que vestia um sobretudo de lã cinzento.
— Logo ali.
5
Covent Garden, Londres
Existem indicadores comuns reveladores de homens-bomba. Os lábios podem se movimentar involuntariamente em suas últimas preces. O olhar pode ser vidrado e distante. E o rosto às vezes pode estar pálido demais, prova de que uma barba desgrenhada foi raspada às pressas durante os preparativos para uma missão. O homem não exibia nenhuma dessas características. Os lábios estavam franzidos. O olhar estava claro e focado. E o rosto tinha uma coloração uniforme. Ele vinha se barbeando com regularidade havia algum tempo.
O que o diferenciava era a quantidade de suor escorrendo da costeleta esquerda. Por que ele suava tanto no frescor de uma tarde de outono? Se estava com calor, por que as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo? E por que o sobretudo — maior do que deveria ser, na opinião de Gabriel — estava todo abotoado? E também havia o andar. Mesmo um homem em forma, de uns 30 anos, terá dificuldade de andar normalmente quando está carregado com mais de 20 quilos de explosivos, pregos e bolas de aço. Quando passou caminhando por Gabriel na Wellington Street, ele parecia ereto demais, como se tentasse compensar o peso em torno de seu corpo. O tecido das calças de gabardine vibrava com cada passo, como se as juntas dos quadris e dos joelhos estremecessem sob o peso da bomba. Era possível que o jovem suando com um casaco exagerado fosse um inocente que simplesmente precisava fazer suas compras do dia, mas Gabriel desconfiava que não. Ele acreditava que o homem andando alguns passos à frente representava o grand finale de um dia de terror continental. Primeiro Paris, depois Copenhague, e agora Londres.
Gabriel mandou Chiara se abrigar no restaurante e atravessou rapidamente a rua. Seguiu o homem por quase 100 metros, observando quando ele virou a esquina na entrada do mercado de Covent Garden. Havia dois cafés no lado leste da piazza, ambos cheios de clientes almoçando. Em pé entre os cafés, numa réstia de sol, havia três policiais uniformizados. Nenhum deles prestou atenção ao homem que entrou.
Agora Gabriel tinha uma decisão a tomar. A atitude mais óbvia seria contar aos policiais sobre sua suspeita — óbvia, pensou, mas não necessariamente a melhor. Provavelmente a polícia reagiria à abordagem de Gabriel puxando-o de lado para um interrogatório, perdendo muitos segundos preciosos. Pior ainda, eles poderiam confrontar o homem, uma manobra que com quase toda certeza o faria provocar a explosão. Ainda que praticamente todos os policiais londrinos tivessem treinamento básico em táticas antiterroristas, poucos tinham a experiência ou o poder de fogo necessários para abater um jihadista disposto a se martirizar. Gabriel dispunha das duas coisas e já havia agido contra, homens-bomba. Passou pelos três policiais e entrou no mercado.
O homem estava agora a quase 20 metros, caminhando por uma passarela mais alta no recinto principal. Gabriel calculou que ele portava explosivos e estilhaços suficientes para matar todo mundo num raio de quase 25 metros. O procedimento recomendado era que Gabriel permanecesse fora da zona letal da explosão até chegar a hora de agir. O ambiente, porém, o compelia a diminuir a distância e se colocar num perigo maior. Um tiro na cabeça a 23 metros era difícil em quaisquer circunstâncias, mesmo para um atirador com a perícia de Gabriel Allon. Num mercado cheio de gente, seria quase impossível.
Gabriel sentiu seu celular vibrando suavemente no bolso do casaco. Ignorando-o, observou quando o homem se deteve no parapeito da passarela para consultar o relógio. Gabriel tomou nota do fato de estar no pulso esquerdo; logo, o botão do detonador devia estar na mão direita. Mas por que um homem-bomba interromperia seu caminho para ver as horas? A explicação mais plausível era que recebera ordens de terminar com sua vida e as das muitas pessoas inocentes num momento preciso. Gabriel desconfiou que havia algum tipo de simbolismo envolvido. Em geral havia. Os terroristas da Al-Qaeda e de suas ramificações adoravam simbolismos, em especial quando envolviam números.
Agora Gabriel estava próximo o bastante para ver os olhos do homem. Estavam claros e focados, um sinal animador. Significava que ele ainda estava pensando na missão e não nas delícias carnais que o esperavam no Paraíso. Quando começasse a sonhar com as houris perfumadas de olhos escuros, isso transpareceria em sua expressão. E nesse momento Gabriel teria que fazer uma escolha. Por enquanto, ele precisava que o homem continuasse neste mundo um pouco mais.
O terrorista consultou o relógio mais uma vez. Gabriel deu uma olhada rápida para o próprio relógio: 14h34. Passou os números pelo banco de dados de sua memória em busca de alguma conexão. Somou-os, subtraiu-os, multiplicou-os, inverteu-os e mudou sua ordem. Depois pensou sobre os dois ataques anteriores. O primeiro acontecera às 11h46, o segundo, às 12h03. Era possível que os números representassem anos do calendário gregoriano, mas Gabriel não viu nenhuma relação.
Apagou mentalmente as horas dos ataques e se concentrou apenas nos minutos. Quarenta e seis minutos, três minutos. Foi quando entendeu. Os horários eram tão conhecidos para ele quanto as pinceladas de Ticiano. Quarenta e seis minutos, três minutos. Eram dois dos mais famosos momentos da história do terrorismo — os minutos exatos em que os dois aviões sequestrados atingiram o World Trade Center no dia 11 de setembro. O voo 11 da American Airlines chocou-se contra a Torre Norte às 8h46. O voo 175 da United Airlines bateu na Torre Sul às 9h03. O terceiro avião a atingir seu alvo naquela manhã foi o do voo 77 da American Airlines, que foi atirado contra a face oeste do Pentágono. Às 9h37 na hora local, e 14h37 em Londres.
Gabriel consultou seu relógio digital. Haviam passado alguns segundos das 14h35. Erguendo os olhos, viu que o homem estava outra vez se movendo a passos rápidos, as mãos nos bolsos, parecendo ignorar as pessoas ao redor. Quando Gabriel começou a segui-lo, seu celular vibrou outra vez. Dessa vez ele atendeu e ouviu a voz de Chiara. Informou-a que um homem-bomba estava prestes a se explodir em Covent Garden e a instruiu a entrar em contato com o MI5. Depois guardou o telefone no bolso e começou a se aproximar do alvo. Temia que muitas pessoas inocentes estivessem prestes a morrer. E imaginava se poderia fazer algo para impedir.
6
Covent Garden, Londres
Havia outra possibilidade, é claro. Talvez o homem alguns passos à frente não tivesse nada sob o casaco a não ser alguns quilos a mais. Era inevitável se lembrar do caso de Jean Charles de Menezes, o eletricista brasileiro morto a tiros pela policia britânica na estação de Stockwell de Londres depois de ser confundido com um procurado militante islâmico. Os promotores ingleses se recusaram a fazer acusações contra os policiais envolvidos, uma decisão que provocou indignação entre os ativistas de direitos humanos e libertários civis no mundo todo. Gabriel sabia que, sob circunstâncias semelhantes, ele não poderia esperar o mesmo tratamento. Isso significava que ele teria que estar certo antes de agir. Estava confiante em relação a um ponto. Acreditava que o homem-bomba, como um pintor, assinaria o seu nome antes de apertar o botão do detonador. Iria querer que as vítimas soubessem que suas mortes iminentes não eram sem propósito, que estavam sendo sacrificadas em nome do jihad e em nome de Alá.
No momento, porém, Gabriel não tinha escolha a não ser segui-lo e esperar. Devagar, com muito cuidado, ele diminuiu a distância, fazendo pequenos ajustes em seu trajeto para manter uma linha de tiro desimpedida. Os olhos estavam focados na parte inferior do crânio do homem. Poucos centímetros abaixo estava o tálamo, região do cérebro essencial para o controle motor e sensorial do resto do corpo. Se destruísse o tálamo com uma rajada de balas, o homem-bomba não teria como apertar o botão do detonador. Se errasse o tálamo, era possível que o mártir levasse a cabo sua missão ao agonizar. Gabriel era um dos poucos homens no mundo que tinha matado um terrorista antes que ele consumasse seu ataque. Sabia que a diferença entre o sucesso e o fracasso era de uma fração de segundo. Sucesso significava que só um morreria. Fracasso resultaria na morte de muitas pessoas inocentes, talvez até mesmo dele próprio.
O homem passou pela porta que dava na piazza. Estava bem mais movimentada agora. Um violoncelista tocava uma suíte de Bach. Um imitador de Jimi Hendrix segurava uma guitarra ligada a um amplificador. Um homem bem-vestido em cima de um caixote de madeira gritava algo sobre Deus e a guerra do Iraque. O homem-bomba andou direto para o centro da praça, onde a apresentação do comediante se tornara ainda mais pervertida, para o deleite da multidão de espectadores. Usando técnicas aprendidas na juventude, Gabriel mentalmente silenciou os ruídos ao redor um por um, começando pela suave melodia da suíte de Bach e terminando com as ruidosas gargalhadas da multidão. Em seguida, olhou pela última vez para o relógio e esperou que o homem assinasse seu nome.
Eram 14h36. O terrorista tinha chegado aos limites da multidão. Parou por alguns segundos, como se buscasse um ponto fraco para adentrar, depois abriu caminho à força entre duas mulheres espantadas. Gabriel tomou outro rumo alguns metros à direita do homem, passando quase despercebido em meio a uma família de turistas norte-americanos. A multidão estava muito concentrada, e não dispersa, o que representou outro dilema para Gabriel. A munição ideal para uma situação como aquela seria uma bala de ponta oca, que infligiria maiores danos aos tecidos do alvo e reduziria substancialmente as baixas colaterais provenientes de uma penetração mais profunda. Mas a pistola Beretta de Gabriel estava carregada com balas normais Parabellum de 9 mm. Por essa razão, ele teria que se posicionar para disparar numa trajetória extrema de cima para baixo. De outra forma, havia uma grande probabilidade de matar um inocente na tentativa de salvá-lo.
O homem-bomba atravessou a barreira de pessoas e agora se dirigia diretamente para o comediante. Os olhos tinham assumido a expressão vidrada e distante. Os lábios se moviam. As preces finais... O comediante supôs que o homem queria participar da performance. Sorrindo, deu dois passos em sua direção, mas estacou quando viu as mãos dele emergirem dos bolsos do casaco. A mão esquerda estava ligeiramente aberta. A direita estava fechada, com o polegar levantado em ângulo reto. Ainda assim, Gabriel hesitou. E se não fosse um detonador? E se fosse apenas uma caneta? Ele precisava ter certeza. Declare suas intenções, pensou. Assine o seu nome.
O terrorista virou-se de frente para o mercado. Os clientes que olhavam da varanda do Punch and Judy riram nervosos, assim como alguns poucos espectadores na piazza. Em sua mente, Gabriel silenciou as risadas e congelou a imagem. A cena parecia uma pintura de Canaletto. As figuras estavam imóveis; somente Gabriel, o restaurador, era livre para se movimentar entre elas. Passou pela primeira fileira de espectadores e fixou o olhar no ponto na base do crânio. Não seria possível disparar num ângulo descendente. Mas havia outra solução para evitar baixas colaterais: uma linha de fogo de baixo para cima faria com que a bala passasse por cima da cabeça dos espectadores até atingir a fachada de um edifício próximo. Imaginou a manobra em sequência — sacar a arma com as mãos entrelaçadas, agachar, disparar, avançar — e esperou o homem-bomba assinar seu nome.
O silêncio na cabeça de Gabriel foi rompido por um grito bêbado na sacada do Punch and Judy — alguém mandando o mártir sair da frente e deixar a apresentação continuar. O terrorista reagiu erguendo os braços acima da cabeça como um maratonista rompendo a fita da linha de chegada. No lado interno do pulso direito havia um fino fio ligando o botão do detonador aos explosivos. Era toda a prova de que Gabriel precisava. Pegou sua Beretta de dentro do paletó. Em seguida, enquanto o terrorista gritava “Allahu Akbar”. Gabriel caiu sobre um joelho e ergueu a arma em direção ao alvo. Surpreendentemente, a linha de tiro estava livre, sem chance de danos secundários. Quando Gabriel ia apertar o gatilho, duas mãos empurraram com força a arma para baixo e o peso de dois homens o lançou contra o chão.
No instante em que bateu nas pedras da rua, ouviu um som retumbante e sentiu uma lufada de ar incandescente acima dele. Por alguns segundos, Gabriel não ouviu mais nada. Depois os gritos começaram, seguidos por uma ária de lamentos. Gabriel ergueu a cabeça e viu um pesadelo. Eram pedaços de corpos e sangue. Era Bagdá no Tâmisa.
7
New Scotland Yard, Londres
Existem poucos pecados mais graves para um profissional de inteligência, mesmo aposentado, do que cair sob custódia de autoridades locais. Como havia transitado por um longo tempo numa região entre o mundo público e o secreto, Gabriel tinha passado por isso com mais frequência do que a maioria de seus companheiros de viagem. A experiência lhe ensinou que havia um ritual estabelecido para tais ocasiões, que deveria ser concluído antes que a alta cúpula pudesse intervir. Ele conhecia bem o procedimento. Felizmente, seus anfitriões também.
Gabriel tinha sido detido minutos depois do ataque e conduzido em alta velocidade para a New Scotland Yard, o quartel-general da Polícia Metropolitana de Londres. Na chegada, foi levado a uma sala de interrogatório sem janelas, onde trataram de seus inúmeros cortes e escoriações e lhe serviram uma xícara de chá, que deixou intocada. Um superintendente do Comando de Contraterrorismo chegou logo depois. Examinou seus documentos de identidade com o ceticismo que mereciam e em seguida tentou determinar a sequência de eventos que levaram o “Sr. Rossi” a sacar uma arma de fogo em Covent Garden pouco antes de um terrorista se explodir. Gabriel sentia-se tentado a fazer algumas perguntas. Por exemplo, gostaria de saber por que dois especialistas em armas de fogo da divisão SO19 da polícia preferiram neutralizá-lo, e não um terrorista óbvio prestes a cometer um assassinato em massa. Em vez disso, respondeu a todas as perguntas do detetive recitando um número telefônico:
— Ligue para lá ? dizia, indicando o bloco de notas onde o detetive havia escrito o número. ? É um edifício grande não muito longe daqui. Você vai reconhecer o nome do homem que atender. Ou pelo menos deveria reconhecer.
Gabriel não soube a identidade do policial que afinal discou o número nem soube exatamente quando a ligação foi feita. Soube apenas que sua estada na New Scotland Yard durou bem mais do que o necessário. Já era quase meia-noite quando o detetive o escoltou até uma série de corredores bem iluminados em direção à entrada do prédio. Na mão esquerda ele levava um envelope de papel pardo com os pertences de Gabriel. A julgar pelo tamanho e a forma, não continha uma pistola Beretta 9 mm.
Do lado de fora, o clima agradável da tarde dera lugar a uma chuva forte. Aguardando embaixo do pórtico de vidro, com o motor ligado, encontrava-se uma limusine Jaguar escura. Gabriel pegou o envelope com o detetive e abriu a porta traseira do carro. Dentro, com as pernas cruzadas elegantemente, estava um homem que parecia ter sido projetado para a tarefa. Usava um impecável terno grafite e uma gravata prateada combinando com os cabelos. Normalmente, seus olhos claros eram inescrutáveis, mas agora revelavam o estresse de uma noite longa e difícil. Como vice-diretor do MI5, Graham Seymour carregava a pesada responsabilidade de proteger o território britânico das forças do extremismo do Islã. E mais uma vez, apesar de todos os esforços do departamento, o Islã tinha vencido.
Embora os dois homens tivessem um longo histórico profissional, Gabriel pouco sabia da vida pessoal de Graham Seymour. Sabia que Seymour era casado com uma mulher chamada Helen, que ele adorava, e que tinha um filho que era gerente da filial de Nova York de uma importante instituição financeira inglesa. O restante das informações sobre os negócios particulares de Seymour fora tirado dos volumosos arquivos do Escritório. Ele era uma relíquia do glorioso passado britânico, um produto da classe média alta que havia sido criado, educado e programado para ser líder. Acreditava em Deus, mas não com muito fervor. Acreditava em seu país, mas não era cego às suas falhas. Jogava bem golfe e outros esportes, mas dispunha-se a perder para um oponente inferior a serviço de uma causa valiosa. Era um homem admirado e, o mais importante, um homem confiável — um raro atributo entre espiões e agentes secretos.
No entanto, Graham Seymour não era um homem de paciência ilimitada, como revelava sua expressão soturna quando o Jaguar se pôs em movimento. Retirou um exemplar do Telegraph da manhã seguinte do bolso do banco da frente e o jogou no colo de Gabriel. A manchete dizia reinado de terror. Abaixo viam-se três fotografias mostrando o resultado dos três ataques. Gabriel examinou a foto de Covent Garden em busca de algum sinal de sua presença, mas havia apenas vítimas. Era a imagem de um fracasso, pensou — dezoito pessoas mortas, dezenas gravemente feridas, inclusive um dos policiais que o imobilizara. E tudo por causa do tiro que não permitiram que Gabriel disparasse.
— Um dia terrível — disse Seymour demonstrando cansaço. — Imagino que a única maneira de piorar é se a imprensa descobrir sobre você. Quando as teorias da conspiração forem concluídas, o mundo islâmico vai acreditar que os ataques foram planejados e executados pelo Escritório.
— Pode ter certeza de que isso já está acontecendo. — Gabriel devolveu o jornal e perguntou: — Onde está minha esposa?
— Está no seu hotel. Há uma equipe minha no saguão. — Seymour fez uma pausa. — Desnecessário dizer que ela não está muito satisfeita com você.
— Como você sabe? — Os ouvidos de Gabriel ainda zuniam por causa da concussão provocada pela explosão. Fechou os olhos e se perguntou como as equipes da SO19 conseguiram localizá-lo tão rapidamente.
— Como você deve imaginar, nós temos um amplo suporte técnico à nossa disposição.
— Como meu celular e sua rede de câmeras CCTV?
— Exato — concordou Seymour. — Conseguimos localizar você poucos segundos depois de receber a ligação de Chiara. Encaminhamos a informação para o Comando Dourado, o centro operacional de crises da Polícia Metropolitana, que imediatamente despachou duas equipes de especialistas em armas de fogo.
— Eles deviam estar nas imediações.
— Estavam — confirmou Seymour. — Estamos em alerta vermelho depois dos ataques em Paris e Copenhague. Várias equipes já estavam mobilizadas no distrito financeiro e em locais onde costuma haver aglomerações de turistas.
Então por que eles me atacaram e não o homem-bomba?
— Porque nem a Scotland Yard nem o Serviço de Segurança queriam uma reprise do fiasco Menezes. Em consequência da morte dele, inúmeros procedimentos e diretrizes foram implementados para evitar que algo do gênero se repita. Basta dizer que um único alerta não atende às disposições de uma ação letal, nem mesmo se por acaso a fonte é Gabriel Allon.
— E por causa disso dezoito pessoas foram mortas?
— E se ele não fosse um terrorista? E se fosse apenas um ator de rua ou alguém com problemas mentais? Nós teríamos sido crucificados.
— Mas não era um ator de rua nem um maluco, Graham. Era um homem-bomba. E eu disse isso a você.
— Como você sabia?
— Só faltava ele estar com um cartaz avisando.
— Era assim tão óbvio?
Gabriel listou os atributos que levantaram suas suspeitas e depois explicou os cálculos que o levaram a concluir que a explosão seria às 14h37. Seymour meneou a cabeça devagar.
— Já perdi a conta de quantas horas gastamos treinando nossos policiais para localizar possíveis terroristas, sem mencionar os milhões de libras que aplicamos no software de identificação de comportamento da CCTV. Ainda assim um homem-bomba do jihad andou por Covent Garden sem ninguém perceber. Ninguém além de você, é claro.
Seymour caiu num silêncio profundo. O automóvel seguia para o norte ao longo da Regent Street, intensamente iluminada. Cansado, Gabriel apoiou a cabeça no vidro da janela e perguntou se o terrorista havia sido identificado.
— O nome dele é Farid Khan. Os pais imigraram para o Reino Unido vindos de Lahore no fim dos anos 1970, mas Farid nasceu em Londres. Em Stepney Green, para ser exato. Como muitos muçulmanos ingleses de sua geração, ele rejeitou as convicções religiosas moderadas e apolíticas dos pais e se tornou islamita. No fim dos anos 1990, ele passava muito tempo na mesquita de East London em Whitchapel Road. Em pouco tempo se tornou integrante de destaque dos grupos radicais de Hizb ut-Tahrir e Al-Muhajiroun.
— Está parecendo que vocês tinham a ficha dele.
— Nós tínhamos ? concordou Seymour mas não pelas razões que você poderia imaginar. Veja bem, Farid Khan era um raio de sol, nossa esperança para o futuro. Ou ao menos foi o que pensamos.
— Você achou que ele poderia trabalhar para o outro lado?
— Seymour assentiu.
— Pouco depois do 11 de Setembro, Farid entrou para um grupo chamado New Beginnings. Seu objetivo era desprogramar militantes e reintegrá-los à opinião pública vigente do Islã e da Inglaterra. Farid era considerado um de seus grandes sucessos. Raspou a barba. Cortou relacionamentos com os velhos amigos. Formou-se entre os primeiros da turma na King’s College e arranjou um emprego bem pago numa pequena agência de publicidade em Londres. Algumas semanas atrás, ficou noivo de uma mulher de sua antiga vizinhança.
— Aí você o removeu de sua lista.
— De certa forma. Agora parece que foi tudo uma inteligente dissimulação. Farid era uma bomba-relógio prestes a explodir.
— Alguma ideia de quem o ativou?
— Estamos examinando os registros dos telefones e computadores neste exato momento, bem como o vídeo suicida que ele deixou. Está claro que o ataque está ligado aos atentados em Paris e Copenhague. Se foram coordenados pelos remanescentes da central da Al-Qaeda ou por uma nova rede é agora uma questão de intensos debates. Seja qual for o caso, não é da sua conta. Seu papel neste caso está oficialmente encerrado.
O Jaguar atravessou a Cavendish Place e parou na entrada do Hotel Langham.
— Eu gostaria de ter minha arma de volta.
— Vou ver o que posso fazer ? disse Seymour.
— Quanto tempo vou ter que ficar aqui?
— A Scotland Yard gostaria que você ficasse em Londres pelo resto do fim de semana. Na segunda de manhã você pode voltar para o seu chalé à beira-mar e só ficar pensando no seu Ticiano.
— Como você sabe do Ticiano?
— Eu sei de tudo. Tudo menos como evitar que um muçulmano nascido na Inglaterra cometa um assassinato em massa em Covent Garden.
— Eu poderia ter impedido isso, Graham.
— Poderia ? concordou Seymour com frieza. ? E teríamos retribuído o favor fazendo você em pedaços.
Gabriel desceu do carro sem falar mais nada.
— “Seu papel neste caso está oficialmente encerrado” — murmurou ao entrar no saguão. Repetiu isso inúmeras vezes, como um mantra.
8
Nova York
Naquela mesma noite, o outro universo habitado por Gabriel Allon também estava agitado, mas por razões muito diferentes. Era a temporada de leilões do outono em Nova York, uma época de ansiedade em que o mundo da arte, em todas as suas loucuras e excessos, reúne-se durante duas semanas num frenesi de compras e vendas. Como Nicholas Lovegrove gostava de dizer, era uma das poucas ocasiões em que ser muito rico não era algo considerado fora de moda. No entanto, era também um negócio mortalmente sério. Grandes coleções seriam montadas, grandes fortunas seriam construídas e perdidas. Uma só transação poderia deslanchar uma carreira brilhante. Mas também poderia destruí-la.
A reputação profissional de Lovegrove, como a de Gabriel Allon, estava firmemente estabelecida naquela noite. Nascido e educado na Inglaterra, era o consultor de arte mais procurado no mundo — um homem tão poderoso que podia influenciar o mercado apenas fazendo uma observação casual ou torcendo o elegante nariz. Seu conhecimento de arte era lendário, e também o tamanho de sua conta bancária. Lovegrove não precisava mais garimpar clientes; eles o procuravam, em geral de joelhos ou com promessas de altas comissões. O segredo do sucesso de Lovegrove estava no olhar infalível e na discrição. Lovegrove nunca traiu a confiança de ninguém; nunca fez fofocas ou se envolveu em negócios escusos. Era a ave mais rara no negócio de artes — um homem de palavra.
Apesar da reputação, Lovegrove estava acometido por seu habitual nervosismo pré-leilão enquanto se apressava pela Sexta Avenida. Depois de anos de preços em queda e vendas anêmicas, o mercado de arte começava, afinal, a dar sinais de renovação. Os primeiros leilões da temporada haviam sido respeitáveis, mas ficaram abaixo das expectativas. A venda daquela noite, de arte pós— guerra e contemporânea na Christie’s, tinha o potencial de incendiar o mundo das artes. Como de hábito, Lovegrove tinha clientes em ambos os lados do leilão. Dois eram vendedores, enquanto um terceiro queria adquirir o Lote 12, Ocher and Red on Red, óleo sobre tela, de Mark Rothko. O cliente em questão era tão único que Lovegrove nem sabia seu nome. Suas transações eram com um certo Sr. Hamdali em Paris, que por sua vez tratava com o cliente. O arranjo não era feito da forma tradicional, mas, da perspectiva de Lovegrove, era bastante lucrativo. Só durante os últimos doze meses, o colecionador havia adquirido mais de 200 milhões de dólares em pinturas. As comissões de Lovegrove nessas vendas passavam de 20 milhões. Se esta noite as coisas corressem de acordo com o planejado, seu lucro líquido aumentaria substancialmente.
Ele entrou na Rua 49 e andou meio quarteirão até a entrada da Christie’s. O imponente saguão envidraçado era um mar de diamantes, seda, egos e colágeno. Lovegrove parou um instante para beijar a bochecha perfumada de uma atraente herdeira alemã antes de continuar em direção à chapelaria, onde logo foi abordado por dois negociantes do Upper East Side. Rechaçou ambos com um gesto, pegou sua placa do leilão e subiu para o salão de vendas.
Levando-se em conta toda a intriga e o glamour envolvidos, o salão era surpreendentemente comum, uma mistura de saguão da Assembleia Geral das Nações Unidas com uma igreja evangélica de cultos televisivos. As paredes eram de um tom sem graça de bege e cinza, assim como as cadeiras dobráveis aglomeradas para aproveitar ao máximo o espaço limitado. Atrás de uma espécie de púlpito via-se uma vitrine giratória e, perto dela, uma mesa telefônica operada por meia dúzia de funcionários da Christie’s. Lovegrove ergueu os olhos para os camarotes, esperando divisar um ou dois rostos atrás do vidro fumê, depois andou com cautela em direção aos repórteres que se amontoavam como gado no canto do fundo. Escondendo o número de sua placa, passou rápido por eles e se dirigiu a seu lugar habitual na frente da sala. Era a Terra Prometida, o local onde todos os marchands, consultores e colecionadores esperavam um dia sentar. Não era um lugar para quem tivesse o coração fraco ou pouco dinheiro. Lovegrove se referia a ele como “zona da matança”.
O leilão estava programado para começar às seis. Francis Hunt, o leiloeiro-chefe da Christie’s, garantiu cinco minutos adicionais à irrequieta plateia para se acomodar antes de ocupar o seu assento. Ele tinha modos polidos e uma divertida cortesia inglesa que por alguma inexplicável razão ainda fazia os norte-americanos se sentirem inferiores. Na mão direita ele segurava o famoso “livro negro” que continha os segredos do universo, ao menos no que dizia respeito àquela noite. Cada lote à venda tinha sua própria página com informações como a reserva do vendedor, um mapa mostrando a localização dos prováveis compradores e a estratégia de Hunt para obter o maior lance possível. O nome de Lovegrove aparecia na página dedicada ao Lote 12, o Rothko. Durante uma inspeção privada pré-venda, Lovegrove insinuou que talvez estivesse interessado, mas só se o preço fosse apropriado e as estrelas estivessem no alinhamento certo. Hunt sabia que Lovegrove estava mentindo, é claro. Hunt sabia de tudo.
Desejou a todos uma boa-noite e, em seguida, com toda a pompa de um mestre de cerimônias de uma grande festa, disse: — Lote 1, o Twombly.
Os lances começaram de imediato, subindo rápido de 100 mil em 100 mil dólares. O leiloeiro administrava com habilidade o processo junto a dois auxiliares de penteados irretocáveis que se pavoneavam e posavam atrás do púlpito como modelos masculinos numa sessão de fotos. Lovegrove talvez se impressionasse com a performance se não soubesse que tudo era cuidadosamente coreografado e ensaiado. Os lances pararam em 1,5 milhão, mas foram reavivados por um lance por telefone de 1,6 milhão. Seguiram-se mais cinco lances em rápida sucessão, e nesse ponto os lances cessaram pela segunda vez.
— O lance é de 2,1 milhões, com Cordelia ao telefone — entoou Hunt, os olhos movendo-se sedutores pela plateia. — Não está com a madame, nem com o senhor. Dois ponto um, ao telefone, pelo Twombly. Último aviso. Última chance. — O martelo desceu com um baque. — Obrigado — murmurou Hunt enquanto registrava a transação em seu livro negro.
Depois do Twombly veio o Lichtenstein, seguido pelo Basquiat, o Diebenkorn, o De Kooning, o Johns, o Pollock e uma série de Warhols. Todos os trabalhos alcançaram mais do que a estimativa pré-venda e mais do que o lote anterior. Não foi por acaso; Hunt tinha organizado os leilões com inteligência de forma a criar uma escala ascendente de excitação. No momento em que o Lote 12 chegou à vitrine, ele tinha a plateia e os compradores na palma da mão.
— À minha direita temos o Rothko — anunciou. — Vamos começar os lances em 12 milhões?
Eram 2 milhões acima da estimativa pré-venda, um sinal de que Hunt esperava que a obra vendesse muito bem. Lovegrove tirou um celular do bolso do paletó Brioni e digitou um número de Paris. Hamdali atendeu. A voz dele soava como um chá morno adoçado com mel.
— Meu cliente gostaria de sentir um pouco o ambiente antes de fazer o primeiro lance.
— Bem pensado.
Lovegrove colocou o telefone no colo e cruzou os dedos. Logo ficou claro que seria uma árdua batalha. Lances se precipitaram em direção a Hunt de todos os cantos do recinto e dos funcionários da Christie’s que operavam os telefones. Hector Candiotti, consultor de arte de um magnata da indústria belga, brandia a placa no ar com agressividade, uma técnica conhecida como rolo compressor. Tony Berringer, que trabalhava para um oligarca russo do alumínio, fazia lances como se sua vida dependesse daquilo, o que bem podia ser possível. Lovegrove esperou até o preço chegar a 30 milhões antes de pegar o telefone.
— Então? — perguntou com a voz calma.
— Ainda não, Sr. Lovegrove.
Dessa vez Lovegrove manteve o telefone no ouvido. Em Paris, Hamdali falava com alguém em árabe. Infelizmente, não era uma das várias línguas que Lovegrove falava com fluência. Para passar o tempo, perscrutou os camarotes, em busca de compradores secretos. Num deles percebeu uma linda jovem, segurando um celular. Alguns segundos depois, Lovegrove notou algo mais. Quando Hamdali falava, a mulher ficava em silêncio. E quando a mulher falava, Hamdali não dizia nada. Provavelmente era uma coincidência, pensou. Ou não.
— Talvez seja o momento de fazer um teste — sugeriu Lovegrove, os olhos na mulher no camarote.
— Talvez você tenha razão — replicou Hamdali. — Um momento, por favor.
Hamdali murmurou algumas palavras em árabe. Logo depois, a mulher no camarote falou em seu celular. Depois, em inglês, Hamdali falou: — O cliente concorda, Sr. Lovegrove. Por favor, faça seu primeiro lance.
A oferta estava em 34 milhões. Arqueando uma única sobrancelha, Lovegrove aumentou em 1 milhão.
— Nós temos 35 — disse Hunt, num tom que indicava que um novo predador de respeito tinha entrado na disputa.
Hector Candiotti reagiu de imediato, assim como Tony Berringer. Dois compradores por telefone empurraram o preço para o limite de 40 milhões. Então Jack Chambers, o rei do mercado imobiliário, casualmente fez um lance de 41. Lovegrove não estava muito preocupado com Jack. O caso com aquela sirigaita de Nova Jersey tinha saído caro no divórcio. Jack não tinha fundos para ir muito além.
— A oferta está em 41 contra você — sussurrou Lovegrove ao telefone.
— O cliente acredita que tudo não passa de pose.
— Trata-se de um leilão de arte na Christie’s. Pose é praxe.
— Paciência, Sr. Lovegrove.
Lovegrove mantinha os olhos na mulher no camarote quando os lances alcançaram a marca de 50 milhões. Jack Chambers fez um último lance de 60; Tony Berringer e seu gângster russo fizeram as honras com 70. Hector Candiotti desistiu da disputa.
— Parece que está entre nós e os russos — disse Lovegrove ao homem em Paris.
— Meu cliente não se importa com os russos.
— O que o seu cliente gostaria de fazer?
— Qual é o recorde de um Rothko num leilão?
— É de 72 e uns trocados.
— Por favor, faça um lance de 75.
— É demais. Você nunca...
— Faça o lance, Sr. Lovegrove.
Lovegrove arqueou uma sobrancelha e ergueu cinco dedos.
— O lance é de 75 milhões — disse Hunt. — Não está com o senhor. Nem com o senhor. Temos 75 milhões pelo Rothko. Último aviso. Última chance. Todos de acordo?
O martelo foi batido.
Um suspiro perpassou o recinto. Lovegrove olhou para o camarote, mas a mulher já havia ido embora.
9
Península do Lagarto, Cornualha
Com a aprovação da Scotland Yard, do Home Office e do primeiro-ministro britânico, Gabriel e Chiara voltaram à Cornualha três dias depois do atentado em Covent Garden. Madona e a Criança com Maria Madalena, óleo sobre tela, 110 por 92 centímetros, chegou às dez horas da manhã seguinte. Depois de retirar a pintura com todo o cuidado de seu estojo de proteção, Gabriel colocou-a no velho cavalete de carvalho da sala de estar e passou o resto da tarde examinando os raios X. As fantasmagóricas imagens apenas reforçaram sua opinião de que o quadro era de fato um Ticiano, aliás, um belo Ticiano.
Como fazia muitos meses que Gabriel não punha as mãos numa pintura, ele estava ansioso para começar a trabalhar logo. Levantou-se cedo na manhã seguinte, preparou uma tigela de café au lait e imediatamente se lançou à delicada tarefa de revestir a tela. O primeiro passo era colar toalhas de papel sobre a imagem para evitar mais danos à pintura durante o procedimento. Existiam inúmeras colas de fácil aquisição apropriadas à tarefa, mas Gabriel sempre preferiu fazer seu próprio aderente usando a receita que havia aprendido em Veneza do mestre restaurador Umberto Conti — pelotas da cola de rabo de coelho dissolvidas numa mistura de água, vinagre, bile de boi e melaço.
Cozinhou lentamente o malcheiroso preparado no fogão da cozinha até adquirir a consistência de um xarope e assistiu ao noticiário matinal na BBC enquanto esperava a mistura esfriar. Farid Khan era agora um nome conhecido no Reino Unido. Em vista da sincronia precisa de seu ataque, a Scotland Yard e a inteligência britânica operavam com base na tese de que estava ligado aos atentados em Paris e em Copenhague. Ainda não estava clara a que organização terrorista os homens-bomba pertenciam. O debate entre especialistas na televisão era intenso, com um dos lados proclamando que os ataques foram orquestrados pela antiga liderança da Al-Qaeda no Paquistão, enquanto outro declarava que era obviamente o trabalho de uma nova rede que ainda iria aparecer no radar da inteligência do Ocidente. Fosse qual fosse o caso, as autoridades europeias se preparavam para novos derramamentos de sangue. O Centro de Análise Conjunta do Terrorismo do MI5 tinha subido o nível de ameaça para “crítico”, o que significava que era esperado outro ataque iminente.
Gabriel teve sua atenção atraída para uma reportagem sobre a conduta da Scotland Yard logo antes do ataque. Numa declaração formulada com todo o cuidado, o comissário da Polícia Metropolitana admitiu ter recebido um alerta sobre um homem suspeito com um casaco grande demais dirigindo-se a Covent Garden. Lamentavelmente, disse o comissário, a informação não atingiu o nível de especificidade exigido para ação letal. Em seguida confirmou que dois agentes do SO19 haviam sido despachados para Covent Garden, mas que, dentro da política atual, eles não deveriam atirar. Quanto aos relatos de uma arma sendo sacada, a polícia tinha interrogado o homem envolvido e concluído que não era uma arma, e sim uma câmera. Por razões de privacidade, a identidade do homem não seria revelada. A imprensa pareceu aceitar a versão da polícia, assim como os representantes dos direitos civis, que aplaudiram a atitude comedida da polícia mesmo com a morte de dezoito inocentes.
Gabriel desligou a televisão quando Chiara entrou na cozinha. Ela abriu de imediato a janela para tirar o mau cheiro de bile de boi e vinagre e repreendeu Gabriel por ter sujado sua panela de aço inoxidável favorita. Gabriel sorriu e mergulhou a ponta do indicador na mistura. Agora já estava fria o bastante para ser usada. Com Chiara espiando por cima do ombro dele, Gabriel aplicou a cola sobre o verniz amarelado de maneira uniforme e grudou diversas toalhas de papel na superfície. O trabalho de Ticiano estava invisível agora, e assim ficaria por muitos dias até que o novo revestimento fosse finalizado.
Gabriel não podia fazer mais nada naquela manhã a não ser verificar a pintura de tempos em tempos para saber se a cola estava secando de forma adequada. Sentou-se no caramanchão de frente para o mar, um notebook no colo, e pesquisou na internet por mais informações sobre os três ataques. Sentiu-se tentado a contactar o King Saul Boulevard, mas achou melhor não. Já não tinha informado Tel Aviv sobre seu envolvimento em Covent Garden, e fazer isso agora só daria a seus ex-colegas uma desculpa para se intrometerem em sua vida. Gabriel aprendera com a experiência que era melhor tratar o Escritório como uma ex-namorada. O contato devia ser mínimo e o melhor é que ocorresse em lugares públicos, onde seria inapropriado criar confusão.
Pouco antes do meio-dia, as últimas lufadas dos ventos da noite passaram pela enseada de Gunwalloe, deixando o céu claro e de um azul cristalino. Depois de checar mais uma vez a pintura, Gabriel vestiu um agasalho e um par de botas de caminhada e saiu para seu passeio diário pelos penhascos. Na tarde anterior ele tinha caminhado para o norte ao longo do Caminho Costeiro até Praa Sands. Agora subiu a pequena inclinação atrás do chalé e partiu para o sul em direção à ponta da península.
Não demorou muito para a magia da costa da Cornualha espantar os pensamentos sobre os mortos e feridos em Covent Garden. Quando Gabriel chegou aos limites do Mullion Golf Club, a última imagem terrível já estava escondida em segurança debaixo de uma camada de tinta. Enquanto seguia para o sul, passando pelo afloramento rochoso dos penhascos de Polurrian, ele só pensava no trabalho a ser feito no Ticiano. No dia seguinte removeria com todo o cuidado a pintura do esticador e fixaria a tela mole numa faixa de linho italiano, pressionando-a com firmeza no lugar com um pesado ferro de passar. Depois viria a mais longa e árdua fase da restauração: a remoção do verniz quebradiço e amarelado e o retoque das porções de pintura danificadas pelo tempo e a pressão. Enquanto alguns restauradores costumavam ser agressivos nos retoques, Gabriel era conhecido no mundo da arte pela leveza do toque e a fantástica habilidade de imitar as pinceladas dos Grandes Mestres. Ele acreditava ser dever de um restaurador passar despercebido, não deixando evidência alguma a não ser a pintura devolvida à sua glória original.
Quando Gabriel chegou à ponta norte da enseada de Kynance, uma linha de nuvens negras obscurecia o sol e o vento do mar tinha ficado bem mais frio. Como arguto observador do caprichoso clima da Cornualha, ele percebeu que o “intervalo brilhante”, como os meteorologistas britânicos gostavam de chamar os períodos de sol, estava prestes a ter um fim abrupto. Parou por um momento, pensando onde poderia se abrigar. Para o leste, depois da paisagem que se assemelhava a uma colcha de retalhos, estava o vilarejo do Lagarto. Bem à frente estava a ponta. Gabriel escolheu a segunda opção. Ele não queria encurtar sua caminhada por causa de algo trivial como uma rajada de vento passageira. Além do mais, havia um bom café no alto do penhasco, onde ele poderia esperar a tempestade comendo um bolinho recém-assado e tomando um bule de chá.
Levantou a gola do agasalho e seguiu pela orla da enseada enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O café apareceu sob um véu de névoa. Na base dos penhascos, abrigando-se próximo a uma casa de barcos abandonada, viu um homem de uns 25 anos com cabelos curtos e óculos escuros sobre a cabeça. Um segundo homem encontrava-se no alto do ponto de observação, olhando por um telescópio que funcionava com a inserção de moedas. Gabriel sabia que o telescópio estava inativo havia meses.
Parou de andar e olhou em direção ao café assim que um terceiro homem saiu para a varanda. Tinha um chapéu impermeável enterrado até as sobrancelhas e óculos sem aro muito usados por intelectuais alemães e banqueiros suíços. Sua expressão era de impaciência — de um executivo atarefado forçado pela esposa a tirar férias. Olhou diretamente para Gabriel por um longo tempo antes de erguer um punho largo em direção ao rosto e consultar o relógio. Gabriel sentiu-se tentado a virar na direção oposta, mas preferiu baixar o olhar e continuar andando. Melhor fazer isso em público, pensou. Reduziria as chances de uma confusão.
10
Ponta do Lagarto, Cornualha
— Você tinha mesmo que pedir bolinhos? — perguntou Uzi Navot, ressentido.
— São os melhores da Cornualha. Assim como o creme talhado.
Navot não se mexeu. Gabriel deu um sorriso perspicaz.
— Bella quer que você perca quantos quilos?
— Três. Depois eu preciso manter o peso — respondeu Navot com pesar, como se fosse uma sentença de prisão. — O que eu não daria para ter seu metabolismo. Você é casado com uma das maiores cozinheiras do mundo, mas ainda tem o corpo de um jovem de 25 anos. Eu? Sou casado com uma das mais destacadas peritas em assuntos sobre a Síria do país e não posso nem me aproximar de um doce. Talvez seja hora de pedir a Bella para pegar mais leve com as restrições alimentares.
— Peça você — replicou Navot. — Todos esses anos estudando os baatistas de Damasco deixaram sequelas. Às vezes acho que vivo numa ditadura.
Os dois estavam sentados a uma mesa isolada perto das janelas golpeadas pela chuva, Gabriel de frente para o interior, Navot, para o mar. Uzi vestia calças de cotelê e um suéter bege que ainda cheiravam ao departamento masculino da loja da Harrods. Depositou o chapéu numa cadeira próxima e passou a mão no cabelo curto louro-avermelhado. Estava um pouco mais grisalho do que Gabriel se lembrava, mas era compreensível. Uzi Navot era agora o chefe do serviço de inteligência de Israel. Os cabelos grisalhos eram um dos muitos benefícios secundários do trabalho.
Se o breve mandato de Navot terminasse agora, era quase certo que seria considerado um dos mais bem-sucedidos na longa e renomada história do Escritório. As honras concedidas a ele eram resultado da operação Obra-Prima, o empreendimento conjunto anglo-americano-israelense que ocasionou a destruição de quatro instalações nucleares secretas iranianas. Muitos dos créditos eram de Gabriel, ainda que Navot preferisse não se estender muito nesse ponto. Ele só foi nomeado chefe porque Gabriel recusou o posto repetidas vezes. E as quatro usinas de enriquecimento ainda estariam funcionando se Gabriel não tivesse identificado e recrutado o empresário suíço que vendia peças para os iranianos em segredo.
No momento, porém, os pensamentos de Navot pareciam focados apenas no prato de bolinhos. Incapaz de continuar resistindo, ele escolheu um, partiu-o com grande cuidado e lambuzou-o com geleia de morango e um bocado de creme talhado. Gabriel colocou chá em sua xícara e perguntou calmamente sobre o propósito daquela visita não anunciada. Fez isso em alemão fluente, que ele falava com o sotaque berlinense de sua mãe. Era uma das cinco línguas que compartilhava com Navot.
— Eu tinha vários assuntos a discutir com minhas contrapartes britânicas. Na pauta estava um surpreendente relatório sobre um de nossos ex-agentes que agora vive aposentado aqui sob a proteção do MI5. Havia um grande alarde a respeito desse agente e o atentado de Covent Garden. Para ser honesto, fiquei um pouco em dúvida quando ouvi. Conhecendo bem esse agente, não conseguia imaginar que ele arriscasse sua posição na Inglaterra fazendo algo tão tolo como sacar uma arma em público.
— O que eu deveria ter feito, Uzi?
— Deveria ter chamado o seu contato no MI5 e lavado as mãos.
— E se você estivesse numa situação semelhante?
— Se estivesse em Jerusalém ou em Tel Aviv, eu não teria hesitado em abater o canalha. Mas aqui... Acho que teria considerado antes as possíveis consequências das minhas ações.
— Dezoito pessoas morreram, Uzi.
— Considere-se com sorte por não terem sido dezenove. — Navot tirou os óculos de armação alongada, algo que costumava fazer antes de se envolver numa conversa desagradável. — Sinto-me tentado a perguntar se você realmente pretendia fazer o disparo. Mas em vista de seu treinamento e seus feitos passados, acho que sei a resposta. Um agente do Escritório saca a arma em campo por uma razão e apenas por uma razão. Não a fica sacudindo como um gângster ou faz ameaças vazias. Simplesmente puxa o gatilho e atira para matar. — Navot fez uma pausa, depois acrescentou: — Faça com os outros antes que eles tenham oportunidade de fazer com você. Acredito que essas palavras podem ser encontradas na página 12 do pequeno livro vermelho de Shamron.
— Ele sabe sobre Covent Garden?
— Você já sabe a resposta. Shamron sabe de tudo. Aliás, eu não ficaria surpreso se ele não tivesse ouvido sobre sua pequena aventura antes de mim. Apesar de minhas tentativas de mantê-lo na aposentadoria, ele insiste em permanecer em contato com suas fontes dos velhos tempos.
Gabriel acrescentou umas gotas de leite a seu chá e mexeu devagar. Shamron... O nome era quase sinônimo da história de Israel e de seus serviços de inteligência. Depois de lutar na guerra que levou à reconstituição de Israel, Ari Shamron passou os sessenta anos seguintes protegendo o país de uma horda de inimigos dispostos a destruí-lo. Tinha penetrado nas cortes de reis, roubado segredos de tiranos e matado incontáveis adversários, às vezes com as próprias mãos, às vezes com as mãos de homens como Gabriel. Apenas um segredo fugia a Shamron — o segredo da satisfação. Já idoso e com a saúde em frangalhos, agarrava-se desesperadamente a seu papel de eminência parda do establishment de segurança de Israel e ainda se metia nos negócios internos do Escritório como se fosse seu feudo. Não era a arrogância que motivava Shamron, mas, sim, um constante temor de que todo o seu trabalho tivesse sido em vão. Embora próspero na economia e forte na área militar, Israel continuava cercado por um mundo que era, em sua maior parte, hostil a sua existência. O fato de Gabriel ter escolhido morar nesse mundo estava entre as maiores decepções de Shamron.
— Estou surpreso de ele mesmo não ter vindo — comentou Gabriel.
— Ele teve vontade.
— E por que não veio?
— Não é mais tão fácil para ele viajar.
— Qual o problema agora?
— Tudo — respondeu Navot, dando de ombros. — Atualmente ele mal sai de Tiberíades. Só fica na varanda olhando para o lago. Gilah está ficando louca. Tem me pedido para arrumar alguma coisa para ele fazer.
— Será que devo fazer uma visita?
— Ele não está no leito de morte, se é o que está insinuando. Mas você deveria fazer uma visita logo. Quem sabe? Talvez você resolva gostar do seu país outra vez.
— Eu adoro o meu país, Uzi.
— Mas não o suficiente para viver lá.
— Você sempre me lembrou um pouco Shamron — disse Gabriel, franzindo a testa ?, mas agora essa semelhança é impressionante.
— Gilah me disse a mesma coisa pouco tempo atrás.
— Eu não disse que isso é um elogio.
— Nem ela. — Navot acrescentou outra colher de sopa de creme talhado ao bolinho com um cuidado exagerado.
— Então, por que você está aqui, Uzi?
— Quero oferecer uma oportunidade única.
?Você está falando como um vendedor.
— Eu sou um espião. Não tem muita diferença.
— O que você quer oferecer?
— Uma oportunidade de reparar um erro.
— E qual foi esse erro?
— Você deveria ter acertado Farid Khan antes de ele apertar o botão do detonador. — Navot baixou a voz e acrescentou, confiante: — É o que eu teria feito, se estivesse no seu lugar.
— E como eu poderia reparar esse erro de julgamento?
— Aceitando um convite.
— De quem?
Navot olhou em silêncio para o oeste.
— Dos norte-americanos? — perguntou Gabriel.
Navot sorriu.
— Mais chá?
A chuva parou tão de repente quanto começou. Gabriel deixou dinheiro em cima da mesa e acompanhou Navot pelo caminho íngreme até a enseada de Polpeor. O guarda-costas ainda estava encostado na rampa em escombros da casa de barcos. Olhou com falsa indiferença quando Gabriel e Navot caminharam juntos pela praia rochosa até a beira da água. Navot deu um olhar distraído para seu relógio de aço inoxidável e levantou a gola do casaco para se proteger do tempestuoso vento do mar. Gabriel ficou mais uma vez surpreso com a incrível semelhança com Shamron, que não era apenas superficial. Era como se Ari, pela pura força de sua vontade indomável, tivesse de alguma forma possuído Navot de corpo e alma. Não era o Shamron enfraquecido pela idade e pela doença, pensou Gabriel, mas o homem em seu auge. Só o que faltava eram os malditos cigarros turcos que destruíram a saúde de Shamron. Bella nunca tinha deixado Navot fumar, nem mesmo como disfarce.
— Quem está por trás dos atentados, Uzi?
— Até agora, não conseguimos estabelecer isso com certeza. Os norte-americanos, porém, acham que se trata da futura face do terror jihadista global, o novo Bin Laden.
— E esse novo Bin Laden tem um nome?
— Os norte-americanos insistem em partilhar essa informação pessoalmente com você. Querem que você vá a Washington, com todas as despesas pagas, claro.
— Como foi feito esse convite?
— Adrian Carter me ligou.
Adrian Carter era o diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA.
— Qual é o código de vestuário?
— Preto. Sua visita aos Estados Unidos jamais terá acontecido.
Gabriel encarou Navot em silêncio por um momento.
— Obviamente você quer que eu vá, Uzi, ou não estaria aqui.
— Mal não pode fazer. Na pior das hipóteses, vai nos dar uma oportunidade de ouvir o que os norte-americanos têm a dizer sobre os atentados. Mas existem outros benefícios indiretos também.
— Tais como?
— Nosso relacionamento pode se dar bem com alguns retoques.
— Que tipo de retoques?
— Você não soube? Washington está de cara nova. A mudança está no ar — observou Navot com sarcasmo. — O novo presidente dos Estados Unidos é um idealista. Acredita que pode consertar as relações entre o Ocidente e o Islã e está convencido de que nós somos parte do problema.
— Então a solução sou eu, um ex-assassino com o sangue de vários palestinos e terroristas islâmicos nas mãos?
— Quando os serviços de inteligência se dão bem, isso tende a se alastrar para a política, por isso o primeiro-ministro também está ansioso para que você faça a viagem.
— O primeiro-ministro? Daqui a pouco você vai me dizer que Shamron também está envolvido.
— E está. — Navot pegou uma pedra e atirou-a ao mar. — Depois da operação no Irã, eu me permiti pensar que Shamron poderia afinal sumir. Eu estava enganado. Ele não tem intenção de me deixar dirigir o Escritório sem sua interferência constante. Mas isso não surpreende, não é, Gabriel? Nós dois sabemos que Shamron tinha outra pessoa em mente para o trabalho. Eu estou destinado a figurar na história de nosso ilustre serviço como o chefe acidental. E você sempre será o escolhido.
— Escolha outra pessoa, Uzi. Estou aposentado, lembra? Mande outra pessoa para Washington.
— Adrian não quer nem ouvir falar disso — disse Navot, esfregando o ombro. — Nem Shamron. Quanto a sua pretensa aposentadoria, terminou no momento em que você resolveu seguir Farid Khan em Covent Garden.
Gabriel olhou para o mar e visualizou o resultado do tiro não disparado: sangue e corpos despedaçados, Bagdá no Tâmisa. Navot pareceu adivinhar o que ele estava pensando e se aproveitou.
— Os norte-americanos querem você em Washington amanhã bem cedo. Haverá um Gulfstream à sua espera perto de Londres. Foi um dos aviões usados no programa de sequestros de prisioneiros. Eles me garantiram que removeram as algemas e agulhas hipodérmicas.
— E quanto a Chiara?
— O convite é individual.
— Ela não pode ficar aqui sozinha.
— Graham concordou em mandar uma equipe de segurança de Londres.
— Eu não confio neles, Uzi. Leve-a para Israel com você. Ela pode ajudar Gilah a cuidar do velho por alguns dias até eu voltar.
— Talvez ela fique lá por algum tempo.
Gabriel examinou Navot com atenção. Dava para notar que ele sabia mais do que estava dizendo. Ele sempre sabia.
— Eu acabei de concordar em restaurar um quadro para Julian Isherwood.
— Um Madona e a Criança com Maria Madalena, outrora atribuído ao estúdio de Palma Vecchio, agora talvez atribuído a Ticiano, dependendo da revisão de especialistas.
— Muito impressionante, Uzi.
— Bella tem tentado ampliar meus horizontes.
— O quadro não pode ficar num chalé vazio perto do mar.
— Julian concordou em pegar o quadro de volta. Como você deve imaginar, ele ficou bastante desapontado.
— Eu ia receber 200 mil libras por esse trabalho.
— Não olhe para mim, Gabriel. O caixa está vazio. Fui obrigado a fazer cortes em todos os níveis dos departamentos. Os contadores estão querendo inclusive que eu diminua minhas despesas pessoais. Minha diária é uma miséria.
— Ainda bem que você está de dieta.
Navot levou a mão à barriga de forma inconsciente, como se quisesse verificar se tinha aumentado desde que saiu de casa.
— É um longo caminho até Londres, Uzi. Talvez seja melhor você levar alguns bolinhos.
— Nem pense nisso.
— Tem medo de que Bella descubra?
— Eu sei que ela vai descobrir. — Navot olhou para o guarda-costas encostado na rampa da casa de barcos. — Esses canalhas contam tudo para ela. É como viver numa ditadura.
11
Georgetown, Washington
A casa ficava no quarteirão 3300 da N Street, uma das elegantes residências com terraço e preços apenas ao alcance dos mais ricos de Washington. Gabriel subiu a escada em curva da entrada à meia-luz da aurora e, como instruído, entrou sem tocar a campainha. Adrian Carter esperava no vestíbulo, usando calça de algodão vincada, um suéter de gola olímpica e um blazer de cotelê marrom-claro. Combinado com seu cabelo escasso e despenteado e um bigode fora de moda, o traje lhe dava o ar de um professor de uma pequena universidade, do tipo que defende nobres causas e é sempre uma dor de cabeça para o reitor. Como diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA, no momento Carter só defendia uma causa: manter o território norte-americano a salvo de ataques terroristas ? embora duas vezes por mês, se a agenda permitisse, ele pudesse ser encontrado no porão de sua igreja episcopal no subúrbio de Reston preparando refeições para os sem-teto. Para Carter, o trabalho voluntário era uma meditação, uma rara oportunidade de se envolver com algo que não fosse o destrutivo estado de guerra que sempre assolava as salas de reunião da vasta comunidade de inteligência dos Estados Unidos.
Cumprimentou Gabriel com a circunspecção natural dos homens que vivem no mundo da clandestinidade e o conduziu para dentro. Gabriel parou um momento no centro do corredor e olhou ao redor. Protocolos secretos haviam sido feitos e rompidos naquelas salas de mobília sem graça; homens foram seduzidos para trair seus países em troca de valises cheias de dólares e promessas de proteção norte-americana. Carter tinha usado tantas vezes aquela casa que ela era conhecida em Langley como seu pied-à-terre de Georgetown. Um espertinho da Agência a havia batizado como Dar-al-Harb, que em árabe quer dizer “Casa da Guerra”. Era uma guerra encoberta, claro, pois Carter não conhecia outra forma de lutar.
Adrian Carter não tinha procurado o poder intencionalmente. Bloco a bloco, foi jogado em seus ombros estreitos sem que ele quisesse. Recrutado pela Agência ainda antes de se formar, passou a maior parte da carreira travando uma guerra secreta contra os russos — primeiro na Polônia, onde canalizava dinheiro e mimeógrafos para o Solidariedade; depois em Moscou, onde trabalhou como chefe de base; e finalmente no Afeganistão, onde incentivou e armou os soldados de Alá, mesmo sabendo que um dia eles mandariam fogo e morte sobre ele. Se o Afeganistão acabaria se mostrando a causa de destruição do Império do Mal, também permitiria a Carter um avanço na carreira. Ele não monitorou o colapso da União Soviética em campo, mas de um confortável escritório em Langley, onde tinha sido promovido havia pouco a chefe da Divisão Europeia. Enquanto seus subordinados comemoravam abertamente a morte do inimigo, Carter observava os eventos se desdobrarem com um mau pressentimento. Sua amada Agência falhara em prever o colapso do comunismo, um erro grave que assombraria Langley durante anos. Pior ainda: num piscar de olhos, a CIA tinha perdido a própria razão de sua existência.
Isso mudou na manhã do dia 11 de setembro de 2011. A guerra que se seguiu seria uma guerra travada nas sombras, um lugar que Adrian Carter conhecia muito bem. Enquanto o Pentágono lutava para elaborar uma reação militar ao horror do 11 de Setembro, foi Carter e sua equipe do Centro de Contraterrorismo que produziram um ousado plano para destruir o santuário afegão da Al-Qaeda com uma guerrilha montada pela CIA e conduzida por uma pequena força de agentes especiais norte-americanos. E quando os comandantes e soldados de infantaria da Al-Qaeda começaram a cair nas mãos dos Estados Unidos, foi Carter, de sua escrivaninha em Langley, que com frequência atuou como júri e juiz. As prisões secretas, os sequestros extraordinários, os métodos brutos de interrogatório — tudo tinha o dedo de Carter. Ele não lamentava suas ações; não podia se dar a esse luxo. Para Adrian Carter, todas as manhãs eram 12 de setembro. Nunca mais, jurou, ele veria norte-americanos se atirando de arranha-céus em chamas atingidos por terroristas.
Durante dez anos, Carter tinha conseguido manter essa promessa. Ninguém tinha feito mais para proteger o território dos Estados Unidos de um segundo ataque previsto com muita antecedência, embora, por seus muitos pecados secretos, ele tenha sido crucificado pela imprensa e ameaçado por processos criminais. Aconselhado por advogados da Agência, ele contratou os serviços de um caro advogado de Washington, uma extravagância que drenava suas economias e obrigou sua esposa, Margaret, a voltar a dar aulas. Amigos tinham insistido com Carter para esquecer a Agência e aceitar um cargo lucrativo na crescente indústria de segurança privada de Washington, mas ele recusou. Seu fracasso em evitar os ataques de 11 de setembro ainda o perseguia. E os fantasmas dos três mil mortos o incitavam a continuar lutando até o inimigo ser derrotado.
A guerra tinha cobrado seu preço de Carter — não apenas a vida de sua família, que estava em ruínas, mas também sua saúde. Seu rosto estava magro e cansado, e Gabriel percebeu um leve tremor na mão direita dele quando encheu um prato, sem nenhum entusiasmo, com iguarias do governo dispostas sobre um bufê na sala de jantar.
— Pressão alta — explicou Carter, ao se servir de café de uma garrafa térmica. — Começou no dia da posse do presidente e sobe e desce de acordo com o nível de ameaça terrorista. É triste dizer, mas depois de dez anos lutando contra o terror islâmico, parece que me tornei um medidor ambulante de ameaça nacional.
— Em que nível estamos hoje?
— Você não ouviu falar? Nós abandonamos o antigo sistema de cores.
— O que sua pressão está dizendo?
— Vermelho — respondeu Carter secamente. — Vermelho vivo.
— Não é o que diz sua diretora de segurança interna. Ela diz que não há ameaças iminentes.
— Nem sempre ela escreve seus próprios discursos.
— Quem escreve?
— A Casa Branca. E o presidente não gosta de alarmar o povo norte-americano sem necessidade. Além do mais, aumentar o nível de ameaça entraria em conflito com a narrativa conveniente que ronda todas as conversas de Washington hoje em dia.
— Que narrativa é essa?
— A que diz que os Estados Unidos reagiram com sucesso ao 11 de Setembro. A que diz que a Al-Qaeda deixou de ser uma ameaça, principalmente para o país mais poderoso da face da terra. A que diz que chegou a hora de declarar vitória na guerra global ao terror e voltar a atenção para dentro. — Carter franziu a testa. — Meu Deus, eu odeio quando jornalistas usam a palavra "narrativa”. Houve uma época em que os romancistas escreviam narrativas e os jornalistas se contentavam em relatar os fatos. E os fatos são bastante simples. Existe no mundo atual uma força organizada que quer enfraquecer ou até destruir o Ocidente com atos de violência indiscriminada. Essa força e parte de um movimento radical mais abrangente para impor a lei da charia e restaurar o califado islâmico. E nenhum pensamento positivo vai eliminar esse fato.
Os dois se sentaram frente a frente numa mesa retangular. Carter pegou a ponta de um croissant murcho, os pensamentos claramente em outro lugar. Gabriel sabia que era melhor não apressar nada. Numa conversa, Carter acabava divagando um pouco. Chegaria ao essencial, mas haveria vários desvios e digressões ao longo do caminho, e todas se mostrariam úteis para Gabriel no futuro.
— Sob alguns aspectos, eu simpatizo com o desejo do presidente de virar a pagina da história — continuou Carter. — Ele acha que a guerra global ao terrorismo desvia a atenção de objetivos maiores. Pode ser difícil de acreditar, mas eu só o encontrei em duas ocasiões. Ele me chama de Andrew.
— Mas pelo menos ele nos deu esperança.
— Esperança não é uma estratégia aceitável quando vidas estão em risco. Foi a esperança que nos levou ao 11 de Setembro.
— Então quem está dando as cartas dentro do governo?
— James McKenna, consultor do presidente para segurança interna e contraterrorismo, também conhecido como o czar do terrorismo, o que é interessante, pois ele emitiu um decreto banindo a palavra “terrorismo” de todos os nossos pronunciamentos públicos. Chega a desencorajar até mesmo o uso no âmbito particular. E Deus nos livre se mencionarmos a palavra “islâmico” junto. Segundo James McKenna, não estamos engajados numa guerra contra terroristas islâmicos. Estamos engajados num esforço internacional contra um pequeno grupo de extremistas transnacionais. Esses extremistas, por um acaso também muçulmanos, são irritantes, mas não representam uma verdadeira ameaça contra nossa existência ou estilo de vida.
— Diga isso às famílias dos que morreram em Paris, Copenhague e Londres.
— Isso é uma resposta emocional — observou Carter com ironia. — E James McKenna não tolera emoções quando se fala de terrorismo.
— Você quer dizer extremismo — comentou Gabriel.
— Me perdoe — disse Carter. — McKenna é um animal político que se vê como um perito em inteligência. Trabalhou com o Comitê Seleto de Inteligência do Senado nos anos 1990 e veio para Langley logo depois da chegada dos gregos. Ficou só alguns meses, mas isso não o impede de se definir como um veterano da CIA. Ele diz ser um homem da Agência que, de coração, só quer o melhor para a instituição. A verdade é um tanto diferente. Ele odeia a Agência e todos os que trabalham ali. Acima de tudo, ele me detesta.
— Por quê?
— Parece que eu o deixei constrangido durante uma reunião de diretoria. Não me lembro do incidente, mas parece que McKenna nunca conseguiu superar. Além disso, me disseram que McKenna me considera um monstro que fez um mal irreparável para a imagem dos Estados Unidos no mundo. Nada o faria mais feliz do que me ver atrás das grades.
— É bom saber que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está funcionando bem outra vez.
— Na verdade, McKenna acha que está tudo bem agora que ele comanda o espetáculo. Conseguiu até se fazer nomear presidente do nosso Grupo de Interrogatório de Prisioneiros de Alto Valor. Se uma figura importante do terrorismo for capturada em qualquer parte do mundo, sob quaisquer circunstâncias, James McKenna será o encarregado de questioná-la. É muito poder para uma pessoa só, mesmo que essa pessoa seja competente. Mas, infelizmente, James McKenna não se enquadra nessa categoria. Ele é ambicioso, é bem-intencionado, mas não sabe o que está fazendo. E se não tomar cuidado, vai acabar nos matando.
— Parece encantador — observou Gabriel. — Quando vou conhecê-lo?
— Nunca.
— Então por que estou aqui, Adrian?
— Você está aqui por causa de Paris, Copenhague e Londres.
— Quem foi o responsável?
— Uma nova ramificação da Al-Qaeda. Mas receio que eles sejam apoiados por uma pessoa que ocupa um cargo sensível e poderoso na inteligência ocidental.
— Quem?
Carter não respondeu. Sua mão direita estava tremendo.
CONTINUA
Aposentado do serviço secreto israelense, o restaurador de arte Gabriel Allon decide passar um fim de semana em Londres com a esposa, Chiara, Mas seus sentidos estão sempre em alerta, sobretudo depois dos recentes atentados suicidas em Paris e Copenhague.
Em meio à multidão, Gabriel detecta um suspeito. Um homem-bomba. Quando está prestes a atirar para matar, ele é detido pela polícia britânica e acaba presenciando um terrível massacre.
Já de volta a sua casa na Cornualha e ainda assombrado por não ter sido capaz de impedir o ataque, o agente é convocado a comandar um esquema global contra a guerra santa muçulmana. Uma nova rede terrorista se espalha pela Europa e só há uma solução para derrotá-la: infiltrar um agente duplo.
A espiã ideal é uma bilionária saudita que vive de dissimulações transitando entre os mundos islâmico e ocidental. Treinada por Allon ela deve evitar que o terror se dissemine.
Numa trama que espelha as tensões e conflitos da atualidade, Gabriel precisa identificar o inimigo para, enfim, chegar a seu covil: o plácido porém implacável deserto da Arábia Saudita.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/11_RETRATO_DE_UMA_ESPI_.webp
Parte Um
Morte no jardim
1
Península do Lagarto, Cornualha
Foi o Rembrandt que resolveu o mistério de uma vez por todas. Mais tarde nas estranhas lojas onde faziam suas compras e nos pequenos e escuros pubs à beira-mar onde tomavam seus drinques, eles iriam recriminar uns aos outros por não terem percebido os sinais óbvios e dariam boas risadas de algumas de suas mais extravagantes teorias sobre a verdadeira natureza do trabalho dele. Pois nem em seus sonhos mais loucos alguém pensou na possibilidade de o homem taciturno que morava no extremo da enseada de Gunwalloe ser um restaurador de arte, quanto mais um restaurador mundialmente famoso.
Não era o primeiro forasteiro a surgir na Cornualha com um segredo, mas poucos o tinham guardado com tanto zelo e tanta classe. Havia chamado atenção a maneira peculiar com que ele conseguira uma casa para si mesmo e sua linda esposa, muito mais jovem. Depois de escolher o pitoresco chalé do penhasco — sem que ninguém soubesse ?, pagou os doze meses de aluguel adiantado, e um obscuro advogado em Hamburgo cuidou discretamente de toda papelada. Ocupou o chalé duas semanas depois, como se estivesse liderando um ataque a um posto avançado inimigo. Os que o encontraram em suas primeiras incursões no vilarejo ficaram surpresos com sua notável falta de franqueza. Ele parecia não ter nome — pelo menos não um que quisesse compartilhar — nem um país de origem que qualquer um conseguisse identificar. Duncan Reynolds, aposentado havia trinta anos do trabalho na ferrovia e considerado o mais mundano dos moradores de Gunwalloe, o descreveu como “um homem enigmático”, enquanto outras definições variavam entre “reservado” e “insuportavelmente mal-educado”. Mesmo assim, todos concordavam que, para o bem ou para o mal, o pequeno vilarejo no oeste da Cornualha tinha se tornado um lugar muito mais interessante.
Com o passar do tempo, descobriram que o nome dele era Giovanni Rossi e que, como sua esposa, era descendente de italianos. E tudo se tornou ainda estranho quando eles começaram a notar carros do governo cheios de homens rondando as ruas do vilarejo tarde da noite. Depois foram os dois sujeitos que as vezes pescavam na enseada. A opinião de todos é que eram os piores pescadores que já tinham visto. Aliás, a maioria supôs que nem mesmo fossem pescadores. Como costuma acontecer em pequenos vilarejos como Gunwalloe, teve início um intenso debate sobre a verdadeira identidade do recém-chegado e a natureza de seu trabalho — um debate que afinal cessou com a descoberta do Retrato de uma jovem, óleo sobre tela, de 104 por 86 centímetros, de Rembrandt van Rijn.
Nunca se soube exatamente quando o quadro chegou. Achavam que havia sido em meados de janeiro, pois foi quando perceberam uma mudança drástica em sua rotina. Um dia ele estava andando pelos penhascos escarpados da península do Lagarto como se estivesse lutando contra uma consciência culpada; no dia seguinte estava diante de um cavalete na sala de estar, um pincel numa das mãos e uma paleta na outra, ópera tocando tão alto que seu lamento podia ser ouvido do outro lado de Mounts Bay em Marazion. Como seu chalé era muito próximo do Caminho Costeiro, era possível — se alguém parasse no lugar exato e esticasse o pescoço no ângulo certo — vê-lo em seu estúdio. No início, imaginaram que estivesse trabalhando numa pintura de sua autoria. Mas com o lento passar das semanas, ficou claro que ele estava envolvido no ofício conhecido como conservação ou, mais comumente, restauração.
— Que diabo significa isso? — perguntou Malcolm Braithwaite, um pescador de lagosta aposentado que cheirava sempre a mar, certa noite no Lamb and Flag Pub.
— Significa que ele está consertando aquela coisa — respondeu Duncan Reynolds. — Uma pintura é como um ser vivo, respirando. Quando fica velha, esfarela e se enruga. Como você, Malcolm.
— Ouvi dizer que é uma jovem.
— Bonitinha — disse Duncan, assentindo. — Bochechas da cor de maçãs. Com certeza é comível.
— Nós conhecemos o pintor?
— Ainda estamos averiguando.
E averiguaram mesmo. Consultaram muitos livros, buscaram em muitos sites, foram atrás de pessoas que sabiam mais sobre arte do que eles — uma categoria que incluía a maior parte da população do oeste da Cornualha. Finalmente, no início de abril, Dottie Cox, da loja do vilarejo, tomou coragem para simplesmente perguntar à linda jovem italiana sobre a pintura quando ela veio fazer compras na cidade. A mulher se esquivou da pergunta com um sorriso ambíguo e, com a sacola de palha ao ombro, voltou para a enseada, o cabelo exuberante agitado pelo vento da primavera. Minutos depois de sua chegada, o lamento da ópera cessou e as persianas das janelas do chalé se fecharam.
Continuaram fechadas ao longo da semana seguinte, quando o restaurador e a esposa desapareceram de repente. Durante vários dias, os moradores de Gunwalloe temeram que eles não voltassem mais, e alguns se repreenderam por terem bisbilhotado e se intrometido nos negócios particulares do casal. Certa manhã, ao folhear o Times em sua loja, Dottie Cox reparou numa reportagem de Washington sobre a descoberta de um retrato de Rembrandt há muito perdido — um retrato exatamente igual ao que estava no chalé. E assim o mistério foi resolvido.
Por coincidência, na mesma edição do Times, na primeira página, havia um artigo sobre uma série de misteriosas explosões em quatro instalações nucleares iranianas. Ninguém em Gunwalloe imaginou que poderia haver uma conexão. Pelo menos não por enquanto.
Dava para notar que o restaurador era um homem mudado quando voltou da América. Embora continuasse reservado — ainda não era um tipo que você gostaria de encontrar de surpresa no escuro ?, estava claro que um fardo tinha sido retirado de seus ombros. De vez em quando avistavam um sorriso em seu rosto anguloso, e o brilho em seus olhos verdes parecia de uma tonalidade menos defensiva. Até mesmo suas longas caminhadas diárias estavam diferentes. Antes ele pisoteava o caminho como um homem possuído; agora ele parecia pairar acima dos penhascos cobertos pela névoa como um espírito que voltara para casa depois de muito tempo numa terra distante.
— Parece que ele foi liberado de um voto secreto — observou Vera Hobbs, dona da padaria. Mas quando alguém pediu para arriscar um palpite sobre o voto, ou com quem havia se comprometido, ela não respondeu. Como todos os outros no vilarejo, tinha se mostrado uma tola ao tentar adivinhar a ocupação do homem. — Além do mais, é melhor deixá-lo em paz. Senão, da próxima vez que ele e a linda esposa saírem da península, vai ser para sempre.
De fato, enquanto aquele glorioso verão passava, os futuros planos do restaurador se tornaram a principal preocupação de todo o vilarejo. Como o contrato de aluguel do chalé expirava em setembro e não havia nenhuma evidência de que seria renovado, eles se engajaram em convencê-lo a ficar. Decidiram que o restaurador precisava de algo para prendê-lo na costa da Cornualha — um trabalho que exigisse suas habilidades únicas, algo a fazer além de caminhar pelos penhascos. Eles não tinham ideia do que seria exatamente esse trabalho e de quem poderia oferecê-lo, mas confiaram a si mesmos a delicada tarefa de descobrir isso.
Depois de muitas deliberações, foi Dottie Cox quem finalmente surgiu com a ideia do Primeiro Festival Anual de Belas-Artes de Gunwalloe, e o famoso restaurador Giovanni Rossi seria o presidente honorário. Fez a proposta para a esposa do restaurador na manhã seguinte, quando ela apareceu na loja na hora de sempre. A mulher riu por alguns minutos. A oferta era lisonjeira, comentou depois de recuperar a compostura, mas ela achava que não era o tipo de coisa com que o signor Rossi concordaria. A recusa oficial aconteceu pouco depois e a ideia do festival foi por água abaixo. Mas não houve problema: poucos dias depois, eles souberam que o restaurador tinha renovado o contrato por um ano. Mais uma vez, o aluguel foi pago adiantado e o mesmo advogado obscuro de Hamburgo cuidou de toda a papelada.
Assim, a vida voltou ao que poderia ser chamado de normal. Continuaram a ver o restaurador no meio da manhã quando fazia compras com a esposa e também no meio da tarde quando andava pelos penhascos de casaco e boina puxada para a frente. E se ele se esquecia de cumprimentar alguém da forma apropriada, ninguém se ofendia. Se ele se sentia desconfortável com algo, deixavam-no à vontade para fazer do seu jeito. E se um estranho chegasse ao povoado, observavam cada movimento até que ele fosse embora. O restaurador e a esposa poderiam ter vindo da Itália, mas agora pertenciam à Cornualha, e que os céus ajudassem o tolo que tentasse tirá-los de lá outra vez.
No entanto, algumas pessoas da península acreditavam que havia mais naquela história — e um homem em particular achava que sabia o que era. Seu nome era Teddy Sinclair, dono de uma pizzaria muito boa em Helston, com um pendor para teorias da conspiração, grandes e pequenas. Teddy acreditava que os pousos na Lua eram uma farsa, que o 11 de Setembro fora armado pelo governo e que o homem da enseada de Gunwalloe estava escondendo mais que uma habilidade secreta para restaurar pinturas.
Para provar de uma vez por todas que tinha razão, convocou os moradores ao Lamb and Flag na segunda quinta-feira de novembro e revelou um esquema que parecia um pouco a tabela periódica. O propósito era estabelecer, sem a menor sombra de dúvida, que as explosões nas instalações nucleares iranianas eram trabalho de um lendário oficial de inteligência israelense chamado Gabriel Allon — e que o mesmo Gabriel Allon estava agora vivendo em paz em Gunwalloe com o nome de Giovanni Rossi. Quando as gargalhadas finalmente diminuíram, Duncan Reynolds disse que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido desde que um francês decidiu que a Europa devia ter uma moeda em comum. Mas dessa vez Teddy permaneceu firme, o que era o certo a fazer. Teddy poderia estar enganado sobre o pouso na Lua e o 11 de Setembro, mas no que dizia respeito ao homem de enseada de Gunwalloe, sua teoria era perfeitamente verdadeira.
Na manhã seguinte, Dia do Armistício, o vilarejo acordou com a notícia de que o restaurador e a esposa tinham desaparecido. Em pânico. Vera Hobbs correu até a enseada e espiou pelas janelas do chalé. As ferramentas do restaurador estavam espalhadas por uma mesa baixa, e apoiada no cavalete havia a pintura de uma mulher nua deitada num sofá. Vera demorou a perceber que o sofá era idêntico ao da sala de estar e que a mulher era a mesma que ela via todas as manhãs na padaria. Apesar do constrangimento, Vera não conseguiu desviar o olhar, pois era uma das pinturas mais extraordinárias e belas que já vira. Era também um bom sinal, ela pensou enquanto caminhava de volta para o povoado. Uma pintura como aquela não era algo que um homem deixaria para trás ao sair de um lugar. Os dois iriam acabar voltando. E que os céus ajudassem aquele maldito Teddy Sinclair se não voltassem.
2
Paris
A primeira bomba explodiu às 11h46 na avenida Champs-Élysées, em Paris. O diretor do serviço de segurança francês falaria mais tarde que não tinha recebido alerta do ataque iminente, uma afirmação que seus detratores poderiam ter considerado risível se o número de mortos não fosse tão alto. Os sinais de alerta eram claros, disseram. Só um cego ou ignorante não notaria.
Do ponto de vista da Europa, o momento do ataque não poderia ter sido pior. Após décadas de gastos excessivos na área social, a maior parte do continente estava oscilando à beira de um desastre fiscal e monetário. As dívidas subiam, os caixas estavam vazios e seus mimados cidadãos ficavam cada vez mais velhos e desiludidos. Austeridade era a ordem do dia. No clima vigente, nada era considerado sagrado; sistema de saúde, bolsas de estudo, patrocínio artístico e até benefícios de aposentados estavam sofrendo cortes drásticos. Na chamada periferia da Europa, as economias menores estavam tombando num efeito dominó. A Grécia naufragava lentamente no Egeu, a Espanha estava na UTI e o Milagre Irlandês tinha se transformado em nada mais que uma miragem. Nos elegantes salões de Bruxelas, muitos eurocratas ousavam dizer em voz alta o que já fora impensável: que o sonho de uma integração europeia estava morrendo. E em seus momentos mais sombrios, alguns deles imaginavam se a Europa como eles conheciam não estaria morrendo também.
Mais uma crença estava se deteriorando naquele novembro — a convicção de que a Europa poderia absorver um interminável fluxo de imigrantes muçulmanos das antigas colônias enquanto preservava sua cultura e seu modo de vida. O quis tinha começado como um programa temporário para atenuar a falta de emprego após a guerra agora alterava permanentemente todo o continente. Agitados subúrbios muçulmanos rodeavam quase todas as cidades e diversos países pareciam destinados a ter uma população de maioria muçulmana antes do fim do século. Nenhuma autoridade havia se dado ao trabalho de consultar a população nativa da Europa antes de escancarar os portões, e agora, depois de anos de relativa passividade, os europeus começavam a reagir. A Dinamarca havia imposto restrições rigorosas contra casamentos de imigrantes. A França vetara o uso de véu cobrindo todo o rosto em público. E os suíços, que mal toleravam uns aos outros, tinham decidido manter suas pequenas e bem cuidadas cidades livres de desagradáveis minaretes. Os líderes da Inglaterra e da Alemanha haviam declarado que o multiculturalismo, a religião virtual da Europa pós-cristianismo, estava morto. A maioria não se curvaria mais ao desejo da minoria, afirmaram. Nem faria vista grossa ao extremismo que florescia em seu seio. Parecia que o antigo embate da Europa com o Islã tinha entrado numa fase nova e potencialmente perigosa. Eram muitos os que temiam que fosse uma luta desigual. Um dos lados estava velho, cansado, satisfeito consigo mesmo. O outro podia ser levado a um furor assassino por causa de alguns rabiscos num jornal dinamarquês.
Nenhum outro lugar da Europa expunha esses problemas de forma tão clara quanto Clichy-sous-Bois, o inflamável banlieue árabe próximo de Paris. Epicentro dos tumultos mortais que varreram a França em 2005, o subúrbio tinha uma das taxas de desemprego mais elevadas do país, assim como os mais altos índices de crimes violentos. Tão perigoso era Clichy-sous-Bois que até mesmo a polícia francesa hesitava em entrar em seus fervilhantes cortiços — inclusive no cortiço onde morava Nazim Kadir, um argelino de 26 anos, funcionário do renomado restaurante Fouquet, com doze integrantes de sua grande família.
Naquela manhã de novembro, ele saiu de seu apartamento ainda em meio à escuridão para se purificar numa mesquita construída com dinheiro saudita e administrada por um imame treinado na Arábia Saudita que não falava francês. Depois de cumprir o mais importante pilar do Islã, ele tomou o ônibus 601AB até Le Raincy e em seguida embarcou num trem RER até a Gare Saint-Lazare. Lá, fez baldeação para o metrô de Paris e a etapa final de sua viagem. Em nenhum momento ele despertou suspeitas das autoridades ou dos passageiros. Seu casaco pesado escondia um colete com explosivos.
Saiu da estação George V em sua hora habitual, 11h40, e tomou a avenida Champs-Élysées. Os que tiveram a sorte de escapar do inferno que se seguiu diriam mais tarde que não havia nada incomum em sua aparência, embora o dono de uma popular floricultura afirmasse ter notado uma curiosa determinação em seu andar quando ele se aproximou da entrada do restaurante. Entre os que estavam do lado de fora havia um representante do ministro da Justiça, um apresentador de jornal da televisão francesa, uma modelo que estampava a capa da edição atual da Vogue, um mendigo cigano segurando a mão de uma criança e um ruidoso grupo de turistas japoneses. O homem-bomba consultou o relógio pela última vez. Depois abriu o zíper do casaco.
Não se sabe ao certo se houve o tradicional brado de “Allahu Akbar”. Diversos sobreviventes afirmaram ter ouvido; muitos outros juraram que o homem-bomba detonou o dispositivo em silêncio. Quanto ao som da explosão, os que estavam mais próximos não tinham memória alguma, pois os tímpanos foram muito afetados. Todos só conseguiram se lembrar de uma luz branca cegante. Era a luz da morte, disseram. A luz que se vê no momento em que se confronta Deus pela primeira vez.
A bomba em si era uma maravilha de design e construção. Não era o tipo de dispositivo construído com base em manuais da internet ou nos panfletos instrutivos que percorriam as mesquitas salafistas da Europa. Havia sido aperfeiçoada em meio aos conflitos na Palestina e na Mesopotâmia. Recheada de pregos embebidos em veneno para rato — uma prática emprestada dos homens-bomba do Hamas ?, rasgou a multidão como uma serra circular. A explosão foi tão poderosa que a Pirâmide do Louvre, a quase 2,5 quilômetros ao leste, estremeceu com a lufada de ar. Os que estavam mais próximos da bomba foram despedaçados, cortados pela metade ou decapitados, o castigo preferido para os hereges. A mais de 30 metros ainda havia membros perdidos. Nas bordas mais distantes da zona de impacto, a morte aparecia de forma cristalina. Poupados de traumas externos, alguns tinham sido mortos pela onda de choque, que destruiu seus órgãos internos como um tsunami. Deus havia sido misericordioso por deixá-los sangrar em particular.
Os primeiros gendarmes a chegar sentiram-se instantaneamente enojados pelo que viram. Havia membros espalhados pelas ruas ao lado de sapatos, relógios de pulso esmagados e congelados às 11h46 e celulares que tocavam sem parar. Num insulto final, os restos do assassino estavam misturados aos de suas vítimas — menos a cabeça, que parou sobre um caminhão de entregas a cerca de 30 metros de distância, com a expressão do homem-bomba estranhamente serena.
O ministro do Interior francês chegou dez minutos depois da explosão. Ao ver a carnificina, ele declarou: “Bagdá chegou a Paris.” Dezessete minutos depois, chegou aos Jardins de Tivoli, em Copenhague, onde, às 12h03, um segundo homem-bomba se detonou no meio de um grande grupo de crianças que esperavam impacientes para embarcar na montanha-russa do parque. O serviço de segurança dinamarquês logo descobriu que o shahid nascera em Copenhague, frequentara escolas dinamarquesas e era casado com uma dinamarquesa. Pareceu não dar importância ao fato de que os filhos dele frequentassem a mesma escola que suas vítimas.
Para os profissionais de segurança em toda a Europa, um pesadelo se tornava realidade: ataques coordenados e altamente sofisticados que pareciam ter sido planejados e executados por uma mente brilhante. Temiam que os terroristas logo voltassem a atacar, embora faltassem duas informações cruciais. Eles não sabiam onde. E não sabiam quando.
3
St. James, Londres
Mais tarde, o comando de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres gastaria muito tempo e esforço valiosos tentando reconstituir os passos de um certo Gabriel Allon naquela manhã, o lendário porém imprevisível filho da inteligência israelense agora formalmente aposentado e vivendo tranquilamente no Reino Unido. Soube-se, por relatos de seus vizinhos intrometidos, que ele havia partido de seu chalé na Cornualha poucos minutos depois do amanhecer em seu Range Rover, acompanhado por Chiara, sua bela esposa italiana. Sabia-se também, graças ao onipresente sistema de câmeras CCTV da Grã-Bretanha, que o casal tinha chegado ao centro de Londres em tempo quase recorde e que, por um ato de intervenção divina, tinha conseguido encontrar um local para estacionar legalmente em Piccadilly. De lá seguiram a pé até a Masons Yard, um tranquilo pátio retangular de pedras e comércio em St. James e apresentaram-se à porta da Isherwood Fine Arts. De acordo com a câmera no pátio, foram admitidos no recinto às 11h40, horário de Londres, embora Maggie, a medíocre secretária de Isherwood, tenha registrado errado o horário em sua agenda como 11h45.
Desde 1968 detentora de pinturas de Grandes Mestres italianos e holandeses que bem podiam estar em museus, a galeria já havia ocupado um salão na aristocrática New Bond Street, em Mayfair. Empurrado para o exílio em St. James por tipos como Hermès, Burberry e Cartier, Isherwood refugiara-se num decadente armazém de três andares que já fora da loja de departamentos Fortnum & Mason. Entre os fofoqueiros moradores de St. James, a galeria sempre foi considerada um bom teatro — comédias e tragédias, com surpreendentes altos e baixos e um ar de conspiração que sempre a envolvia. Isso se devia principalmente à personalidade de seu dono. Julian Isherwood era amaldiçoado com um defeito quase fatal para um negociante de arte — gostava mais de possuir do que de vender as obras. Ele estava sobrecarregado por um grande inventário do que é carinhosamente chamado, no mercado de arte, de estoque morto — pinturas pelas quais nenhum comprador ofereceria um bom preço. Corriam boatos de que a coleção particular de Isherwood comparava-se à da família real britânica. Até Gabriel, que já restaurava pinturas para a galeria havia mais de trinta anos, tinha apenas uma vaga ideia de todas as posses de Isherwood.
Eles o encontraram em seu escritório — uma figura alta e levemente frágil inclinada sobre uma escrivaninha atulhada de antigos catálogos e monografias. Usava um terno risca de giz e uma gravata lavanda que havia ganhado de presente num encontro na noite anterior. Como de hábito, ele parecia levemente de ressaca, uma aparência que cultivava. Seu olhar estava pesaroso, fixo na televisão.
— Suponho que tenha ouvido as notícias?
Gabriel assentiu lentamente. Ele e Chiara haviam escutado os primeiros boletins no rádio enquanto passavam pelos subúrbios no oeste de Londres. As imagens que apareciam na tela agora eram muito parecidas com as que haviam se formado na mente de Gabriel — os mortos cobertos com plástico, os sobreviventes ensanguentados, os transeuntes com as mãos no rosto, horrorizados. Nada mudava. Ele imaginou que nunca mudaria.
— Eu almocei no Fouquet na semana passada com um cliente — disse Isherwood, passando a mão por suas longas mechas grisalhas. — Nos separamos no mesmo local onde esse maníaco detonou a bomba. E se o cliente tivesse marcado o almoço para hoje? Eu poderia estar...
Isherwood parou de falar. Era uma reação típica depois de um ataque, pensou Gabriel. Os vivos sempre tentam encontrar uma conexão, por mais tênue que seja, com os mortos.
— O homem-bomba de Copenhague matou crianças — continuou Isherwood. — Você poderia me explicar, por favor, por que assassinam crianças inocentes?
— Medo — respondeu Gabriel. — Eles querem que sintamos medo.
— Quando isso vai terminar? — perguntou Isherwood, meneando a cabeça com desgosto. — Em nome de Deus, quando essa loucura vai acabar?
— Você devia saber que não adianta fazer perguntas desse tipo, Julian. — Gabriel baixou a voz e acrescentou: — Afinal, você está assistindo a essa guerra de camarote há muito tempo.
Isherwood deu um sorriso melancólico. Seu nome e perfil genuinamente ingleses ocultavam o fato de que ele não era inglês de verdade. Britânico de nacionalidade e passaporte, sim, porém alemão de nascimento, francês de formação e judeu por religião. Apenas poucos amigos de sua confiança sabiam que Isherwood tinha chegado a Londres como uma criança refugiada em 1942 depois de ser carregado pelos Pireneus cobertos de neve por dois pastores bascos. Ou que seu pai, o renomado comerciante de arte parisiense Samuel Isakowitz, tinha sido assassinado no campo de concentração de Sobibór junto com sua mãe. Apesar de Isherwood ter guardado com cuidado os segredos do passado, a história de sua dramática fuga da Europa ocupada pelos nazistas chegou aos ouvidos do serviço secreto de inteligência de Israel. E em meados dos anos 1970, durante uma onda de ataques terroristas palestinos contra alvos israelenses na Europa, ele foi recrutado como um sayan, um ajudante voluntário. Isherwood tinha apenas uma missão — ajudar a construir e manter a imagem de restaurador de arte de Gabriel Allon.
— Só não se esqueça de uma coisa — observou Isherwood. — Agora você trabalha para mim, não para eles. Isso não é problema seu, queridinho. Não mais. — Apontou o controle remoto para a televisão e as destruições em Paris e Copenhague desapareceram. — Vamos ver algo mais bonito?
O limitado espaço da galeria obrigara Isherwood a organizar seu império verticalmente — depósitos no térreo, escritórios no segundo andar e, no terceiro, uma gloriosa sala de exposição formal no modelo da famosa galeria de Paul Rosenberg em Paris, onde o jovem Julian havia passado muitas horas felizes na infância. Ao entrarem no salão, o sol do meio-dia penetrava pela claraboia, iluminando uma grande pintura a óleo sobre um pedestal coberto por um tecido grosso. Um retrato da Madona e a Criança com Maria Madalena contra um fundo noturno, obviamente da Escola de Veneza. Chiara tirou seu longo casaco de couro e sentou-se num sofá no centro da sala. Gabriel ficou bem em frente à tela, uma das mãos apoiando o queixo, a cabeça inclinada para um lado.
— Onde você o encontrou?
— Numa grande pilha de calcário na costa de Norfolk.
— E a pilha tem um dono?
— Insistem no anonimato. Basta dizer que é descendente de uma família nobre, suas propriedades são enormes e que suas reservas em dinheiro estão diminuindo num ritmo alarmante.
— Por isso pediu que tirasse algumas pinturas de suas mãos para ele se manter sem dívidas por mais um ano.
— Do jeito que ele gasta dinheiro, eu daria mais dois meses no máximo.
— Quanto você pagou por isso?
— Vinte mil.
— Quanta bondade, Julian. — Gabriel olhou para Isherwood e acrescentou: — Imagino que tenha coberto os rastros levando outras pinturas também.
— Seis peças absolutamente sem valor — confessou Isherwood. — Mas se meu palpite sobre essa estiver certo, elas valeram o investimento.
— Procedência? — perguntou Gabriel.
— Foi adquirida no Vêneto por um ancestral do proprietário enquanto fazia uma viagem pela Europa no início do século XIX. Está na família desde essa época.
— Atribuição atual?
— Oficina de Palma Vecchio.
?É mesmo? — perguntou Gabriel, cético. — De acordo com quem?
— De acordo com o perito italiano que intermediou a venda.
— Ele era cego?
— Só de um olho.
Gabriel sorriu. Muitos italianos que assessoravam a aristocracia inglesa durante suas viagens eram charlatães que faziam transações rápidas de cópias sem valor falsamente atribuídas aos mestres de Florença e Veneza. Em algumas ocasiões, se enganavam e vendiam obras legítimas. Isherwood desconfiou que a pintura no pedestal pertencesse à segunda categoria. Assim como Gabriel. Ele passou a ponta do indicador pelo rosto de Madalena, tirando o equivalente a um século de fuligem.
— Onde estava pendurado? Numa mina de carvão?
Tateou o verniz bem descolorido. Provavelmente era composto por uma resina de lentisco ou de pinho dissolvida em terebintina. A remoção seria um doloroso processo envolvendo o uso de uma mistura cuidadosamente regulada de acetona, éter glicólico e solução mineral. Gabriel podia imaginar os horrores que o esperavam quando o velho verniz fosse retirado: arquipélagos de pentimento, um deserto de rachaduras e vincos na superfície, uma quantidade enorme de pinturas escondidas por restaurações anteriores. E havia ainda as condições da tela, que se enrugara dramaticamente com o tempo. A solução era um novo revestimento, um perigoso procedimento envolvendo a aplicação de calor, umidade e pressão. Qualquer restaurador que já tivesse feito um revestimento possuía cicatrizes do trabalho. Gabriel havia destruído grande parte de uma pintura de Domenico Zampieri usando um ferro com um medidor de temperatura defeituoso. A pintura afinal restaurada, embora cristalina para olhos não treinados, demonstrava ser uma colaboração entre Zampieri e o estúdio de Gabriel Allon.
— Então? — perguntou Isherwood outra vez. — Quem pintou essa maldita coisa?
Gabriel exagerou na deliberação.
— Vou precisar de raios X para estabelecer uma atribuição definitiva.
— Vão vir aqui ainda esta tarde para levar os quadros. E nós dois sabemos que você não precisa disso para fazer uma atribuição preliminar. Você é como eu, queridinho. Está envolvido com pinturas há cem mil anos. Sabe tudo quando vê um quadro.
Gabriel pescou uma pequena lupa do bolso do casaco e usou-a para examinar as pinceladas. Inclinando-se um pouco para a frente, pôde sentir o formato familiar de uma pistola Beretta 9 mm pressionando o quadril esquerdo. Depois de trabalhar com a inteligência britânica para sabotar o programa nuclear iraniano, agora tinha permissão para portar uma arma o tempo todo para proteção. Havia recebido também um passaporte inglês, que podia ser usado livremente em viagens ao exterior, desde que não estivesse a trabalho para seu antigo serviço. Mas não havia chance de isso acontecer. A ilustre carreira de Gabriel Allon estava finalmente encerrada. Ele não era mais o anjo vingador de Israel. Era um restaurador de arte empregado pela Isherwood Fine Arts, e a Inglaterra era o seu lar.
— Você tem um palpite — disse Isherwood. — Posso ver nos seus olhos verdes.
— Tenho, sim — respondeu Gabriel, ainda absorvido pelas pinceladas ?, mas antes gostaria de uma segunda opinião.
Olhou para Chiara por cima dos ombros. Ela estava brincando com uma media de seu cabelo revolto, uma expressão levemente pensativa. Na posição em que estava, mostrava uma notáve1 semelhança com a mulher na pintura. O que não era surpresa, pensou Gabriel. Descendente de judeus expulsos da Espanha em 1492, Chiara havia sido criada no antigo gueto de Veneza. Era bem possível que algumas de suas ancestrais tivessem posado para mestres como Bellini, Veronese e Tintoretto.
— O que você acha? — perguntou Gabriel.
Chiara postou-se diante da tela ao lado de Gabriel e estalou a língua, reprovando sua condição lastimável. Embora tivesse estudado o Império Romano na faculdade, havia ajudado Gabriel em inúmeras restaurações e, durante o processo, se tornara uma formidável historiadora de arte.
— É um excelente exemplo de uma Conversação Sagrada, ou Sacra Conversazione, uma cena idílica em que os integrantes estão agrupados em uma paisagem esteticamente agradável. E como qualquer imbecil sabe, Palma Vecchio e considerado o criador dessa forma.
— O que você acha da técnica? — perguntou Isherwood, um advogado conduzindo uma testemunha favorável.
— É boa demais para Palma — respondeu Chiara. — Sua paleta de cores era incomparável, mas ele nunca foi considerado habilidoso, mesmo por seus contemporâneos.
— E a mulher posando como a Madona?
— Se eu não estiver enganada, o que é pouco provável, o nome dela é Violante. Ela aparece em várias pinturas de Palma. Mas na época havia outro famoso pintor em Veneza que dizem que gostava muito dela. O nome era...
— Tiziano Vecellio — completou Isherwood. — Mais conhecido como Ticiano.
— Parabéns, Julian — disse Gabriel, sorrindo. — Você pinçou um Ticiano pela quantia irrisória de 20 mil libras. Agora só precisa encontrar um restaurador capaz de deixá-lo perfeito.
— Quanto? — perguntou Isherwood.
Gabriel franziu a testa.
— Vai dar muito trabalho.
— Quanto? — repetiu Isherwood.
— Duzentos mil.
— Eu poderia arranjar alguém por metade desse preço.
— É verdade. Mas nós dois nos lembramos da última vez que você tentou isso.
— Quando você pode começar?
— Preciso consultar minha agenda antes de me comprometer.
— Eu faço um adiantamento de 100 mil.
— Nesse caso, eu posso começar agora mesmo.
— Vou mandar a tela para a Cornualha depois de amanhã. A questão é: quando você vai me entregar?
Gabriel não respondeu. Olhou para o relógio por um momento, como se não estivesse marcando a hora certa, e depois para a claraboia, pensativo.
Isherwood pousou a mão em seu ombro com delicadeza.
— Não é problema seu, queridinho. Não mais.
4
Covent Garden, Londres
A blitz da polícia perto da Leicester Square parou o tráfego na Charing Cross. Gabriel e Chiara atravessaram uma nuvem de fumaça dos escapamentos dos carros e seguiram pela Cranbourn Street, ladeada por pubs e cafés que atendiam as hordas de turistas que pareciam vagar sem rumo pelo Soho a qualquer hora, independentemente da estação. Gabriel olhava para a tela de seu celular. O número de vítimas em Paris e Copenhague estava subindo.
— Muito ruim? — perguntou Chiara.
— Já são 28 na Champs-Élysées e 37 nos Jardins de Tivoli.
— Eles têm alguma ideia do responsável?
— Ainda é cedo demais, mas os franceses acham que pode ser a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.
— Será que eles conseguiriam fazer dois ataques coordenados como esses?
— Eles têm células por toda a Europa e América do Norte, mas os analistas do King Saul Boulevard sempre foram céticos quanto à capacidade de eles manterem o estilo espetacular de Bin Laden.
O King Saul Boulevard era o endereço do serviço de inteligência israelense no exterior. O nome longo e propositalmente enganoso tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os que trabalhavam lá se referiam ao lugar como o Escritório e nada mais. Até mesmo agentes aposentados como Gabriel e Chiara nunca pronunciavam o verdadeiro nome da organização.
— Não me parece coisa do Bin Laden — comentou Chiara. — Parece mais...
— Bagdá — completou Gabriel. — Essa quantidade de vítimas é alta para ataques ao ar livre. A impressão é que os construtores das bombas sabiam o que estavam fazendo. Se nós tivermos sorte, ele deixou sua assinatura no local.
— Nós? — perguntou Chiara.
Gabriel guardou o telefone no bolso sem falar nada. Os dois tinham chegado ao caótico trânsito no fim da Cranbourn Street. Havia dois restaurantes italianos: o Spaghetti House e o Bella Italia. Ele olhou para Chiara e pediu que escolhesse.
— Eu não vou começar meu longo fim de semana em Londres no Bella Italia — disse Chiara franzindo a testa. — Você me prometeu um almoço decente.
— Na minha opinião, existem lugares bem piores que o Bella Italia em Londres.
— Não se você nasceu em Veneza.
Gabriel sorriu.
— Nós temos uma reserva num lugar adorável chamado Orso, na Wellington Street. É bem italiano. Achei que poderíamos passar por Covent Garden no caminho.
— Você ainda quer fazer isso?
— Nós precisamos comer, e a caminhada vai nos fazer bem.
Passaram depressa pela rotatória e entraram na Garrick Street, onde dois policiais de casacos verde-limão interrogavam o motorista de aparência árabe de uma van branca. A ansiedade dos pedestres era quase palpável. Em alguns rostos Gabriel via um medo genuíno; em outros, uma determinação inflexível de seguir em frente como sempre. Chiara segurava a mão dele com força enquanto os dois passavam pelas vitrines das lojas. Ela esperava por aquele fim de semana havia muito tempo e estava determinada a não deixar que as notícias de Paris e de Copenhague o estragassem.
— Você foi um pouco duro com Julian — falou ela. — Duzentos mil é o dobro do que você cobra normalmente.
— É um Ticiano, Chiara. Julian vai se dar muito bem.
— O mínimo que você podia fazer era aceitar o convite dele para um almoço comemorativo.
— Eu não queria almoçar com Julian. Queria almoçar com você.
— Ele queria discutir uma ideia conosco.
— Que tipo de ideia?
— Uma sociedade. Ele quer que sejamos sócios na galeria.
Gabriel diminuiu o passo e parou.
— Quero deixar uma coisa o mais claro possível: não tenho absolutamente nenhum interesse em me tornar sócio de uma empresa que só de vez em quando está no azul, como acontece com a Isherwood Fine Arts.
— Por que não?
— Por uma razão — respondeu ele, voltando a andar. — Nós não temos ideia de como tocar um negócio.
— Você já tocou vários negócios de sucesso no passado.
— Isso é fácil quando se tem o apoio de um serviço de inteligência.
— Você não está se dando o devido crédito, Gabriel. O que pode ser tão difícil em dirigir uma galeria de arte?
— Pode ser incrivelmente difícil. E como Julian já provou muitas vezes, é fácil se envolver em problemas. Até as galerias mais bem-sucedidas podem afundar-se fizerem uma aposta errada. — Gabriel olhou de soslaio e perguntou: — Quando você e Julian tramaram esse pequeno arranjo?
— Você fala como se estivéssemos conspirando pelas suas costas.
— É porque estavam mesmo.
Com um sorriso, Chiara acabou concordando.
— Foi quando estávamos em Washington na apresentação do Rembrandt. Julian me puxou de lado e disse que estava começando a pensar em se aposentar. Ele quer que a galeria fique nas mãos de alguém em quem confie.
— Julian nunca vai se aposentar.
— Eu não teria tanta certeza.
— Onde eu estava enquanto esse negócio era tramado?
— Acho que você tinha saído para uma conversa particular com uma repórter investigativa inglesa.
— Por que você não me falou nada disso até agora?
— Porque Julian pediu.
Gabriel ficou em silêncio, deixando claro que Chiara tinha violado um dos princípios fundamentais do casamento deles. Segredos, mesmo os mais triviais, eram proibidos.
— Desculpe, Gabriel. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas Julian foi inflexível. Sabia que o seu primeiro instinto seria dizer não.
— Ele poderia vender a galeria para Oliver Dimbleby num piscar de olhos e se aposentar numa ilha no Caribe.
— Você já pensou no que isso significaria para nós? Você quer mesmo restaurar pinturas para Oliver Dimbleby? Ou para Giles Pittaway? Ou acha que poderia arranjar algum trabalho freelance com a Tate ou a National Gallery?
— Parece que você e Julian já pensaram em tudo.
— Pensamos mesmo.
— Então talvez você deva ser sócia de Julian.
— Só se você restaurar pinturas para mim.
Gabriel percebeu que Chiara estava falando sério.
— Dirigir uma galeria não é só frequentar leilões glamorosos ou ir a longos almoços em restaurantes de luxo na Jermyn Street. E também não é algo que se possa considerar um passatempo.
— Obrigada por me considerar uma amadora.
— Não foi o que eu quis dizer, você sabe disso.
— Você não é o único que se aposentou do Escritório, Gabriel. Eu também me aposentei. Mas, ao contrário de você, eu não tenho Grandes Mestres danificados para ocupar o meu tempo.
— Então você quer virar uma negociante de arte? Vai passar os dias fuçando um monte de pinturas medíocres em busca de outro Ticiano perdido. E a probabilidade é de nunca encontrar um.
— Não me parece tão mau. — Chiara olhou ao redor. — E isso significa que poderíamos morar aqui.
— Achei que você gostava da Cornualha.
— Adoro. Mas não no inverno.
Gabriel ficou em silêncio. Ele vinha se preparando para uma conversa como aquela já havia algum tempo.
— Achei que nós iríamos ter um filho — falou por fim.
— Eu também — concordou Chiara. — Mas estou começando a achar que não vai ser possível. Nada que eu tento parece funcionar.
Havia um tom de resignação na voz dela que Gabriel nunca tinha ouvido.
— Então vamos continuar tentando — disse.
— Não quero que você se sinta desapontado. Foi aquela gravidez interrompida. Para mim, vai ser muito mais difícil ficar grávida outra vez. Quem sabe? Talvez uma mudança de cenário possa ajudar. Pense nisso — falou, apertando a mão dele. — É só o que estou pedindo, querido. Pode ser que gostemos de morar aqui.
Na ampla piazza do mercado de Covent Garden, um comediante de rua orientava um casal de turistas alemães a ficar numa pose que sugeria intimidade sexual, sem que eles percebessem. Chiara encostou-se numa pilastra para assistir à apresentação enquanto Gabriel fechou a cara, os olhos examinando a multidão reunida na praça e junto à mureta do restaurante Punch and Judy acima. Não estava zangado com Chiara, mas consigo mesmo. Durante anos, a relação entre os dois havia girado em torno de Gabriel e seu trabalho. Nunca lhe havia ocorrido que Chiara também pudesse ter suas próprias aspirações profissionais. Se eles fossem um casal normal, ele poderia ter considerado a proposta. Mas eles não eram um casal normal. Eram ex-agentes de um dos serviços de inteligência mais renomados do mundo. E tinham um passado sangrento demais para levar uma vida pública.
Quando se dirigiam à arrojada arcada de vidro do mercado, toda a tensão da discussão logo se dissipou. Até mesmo Gabriel, que detestava fazer compras, sentia prazer em perambular pelas tendas e lojas coloridas com Chiara a seu lado. Inebriado pelo aroma dos cabelos dela, ele imaginou a tarde que tinham pela frente — um almoço tranquilo seguido por uma agradável caminhada de volta ao hotel. Lá, na sombra fresca do quarto, Gabriel despiria Chiara devagar e faria amor na enorme cama. Por um momento, quase foi possível para Gabriel imaginar seu passado sendo apagado e suas façanhas se tornando meras lendas que juntavam poeira nos arquivos do King Saul Boulevard. Apenas o estado de alerta permanecia — a vigilância instintiva e inquietante não o deixava se sentir completamente em paz em público. Forçava-o a fazer um esboço mental de todos os rostos que passavam no mercado lotado. E na Wellington Street, quando os dois se aproximavam do restaurante, ele parou de repente. Chiara puxou-o pelo braço, de um jeito brincalhão. Depois olhou diretamente nos olhos dele e percebeu que havia algo errado.
— Parece que você viu um fantasma.
— Não um fantasma. Um homem morto.
— Onde?
Gabriel apontou com a cabeça uma figura que vestia um sobretudo de lã cinzento.
— Logo ali.
5
Covent Garden, Londres
Existem indicadores comuns reveladores de homens-bomba. Os lábios podem se movimentar involuntariamente em suas últimas preces. O olhar pode ser vidrado e distante. E o rosto às vezes pode estar pálido demais, prova de que uma barba desgrenhada foi raspada às pressas durante os preparativos para uma missão. O homem não exibia nenhuma dessas características. Os lábios estavam franzidos. O olhar estava claro e focado. E o rosto tinha uma coloração uniforme. Ele vinha se barbeando com regularidade havia algum tempo.
O que o diferenciava era a quantidade de suor escorrendo da costeleta esquerda. Por que ele suava tanto no frescor de uma tarde de outono? Se estava com calor, por que as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo? E por que o sobretudo — maior do que deveria ser, na opinião de Gabriel — estava todo abotoado? E também havia o andar. Mesmo um homem em forma, de uns 30 anos, terá dificuldade de andar normalmente quando está carregado com mais de 20 quilos de explosivos, pregos e bolas de aço. Quando passou caminhando por Gabriel na Wellington Street, ele parecia ereto demais, como se tentasse compensar o peso em torno de seu corpo. O tecido das calças de gabardine vibrava com cada passo, como se as juntas dos quadris e dos joelhos estremecessem sob o peso da bomba. Era possível que o jovem suando com um casaco exagerado fosse um inocente que simplesmente precisava fazer suas compras do dia, mas Gabriel desconfiava que não. Ele acreditava que o homem andando alguns passos à frente representava o grand finale de um dia de terror continental. Primeiro Paris, depois Copenhague, e agora Londres.
Gabriel mandou Chiara se abrigar no restaurante e atravessou rapidamente a rua. Seguiu o homem por quase 100 metros, observando quando ele virou a esquina na entrada do mercado de Covent Garden. Havia dois cafés no lado leste da piazza, ambos cheios de clientes almoçando. Em pé entre os cafés, numa réstia de sol, havia três policiais uniformizados. Nenhum deles prestou atenção ao homem que entrou.
Agora Gabriel tinha uma decisão a tomar. A atitude mais óbvia seria contar aos policiais sobre sua suspeita — óbvia, pensou, mas não necessariamente a melhor. Provavelmente a polícia reagiria à abordagem de Gabriel puxando-o de lado para um interrogatório, perdendo muitos segundos preciosos. Pior ainda, eles poderiam confrontar o homem, uma manobra que com quase toda certeza o faria provocar a explosão. Ainda que praticamente todos os policiais londrinos tivessem treinamento básico em táticas antiterroristas, poucos tinham a experiência ou o poder de fogo necessários para abater um jihadista disposto a se martirizar. Gabriel dispunha das duas coisas e já havia agido contra, homens-bomba. Passou pelos três policiais e entrou no mercado.
O homem estava agora a quase 20 metros, caminhando por uma passarela mais alta no recinto principal. Gabriel calculou que ele portava explosivos e estilhaços suficientes para matar todo mundo num raio de quase 25 metros. O procedimento recomendado era que Gabriel permanecesse fora da zona letal da explosão até chegar a hora de agir. O ambiente, porém, o compelia a diminuir a distância e se colocar num perigo maior. Um tiro na cabeça a 23 metros era difícil em quaisquer circunstâncias, mesmo para um atirador com a perícia de Gabriel Allon. Num mercado cheio de gente, seria quase impossível.
Gabriel sentiu seu celular vibrando suavemente no bolso do casaco. Ignorando-o, observou quando o homem se deteve no parapeito da passarela para consultar o relógio. Gabriel tomou nota do fato de estar no pulso esquerdo; logo, o botão do detonador devia estar na mão direita. Mas por que um homem-bomba interromperia seu caminho para ver as horas? A explicação mais plausível era que recebera ordens de terminar com sua vida e as das muitas pessoas inocentes num momento preciso. Gabriel desconfiou que havia algum tipo de simbolismo envolvido. Em geral havia. Os terroristas da Al-Qaeda e de suas ramificações adoravam simbolismos, em especial quando envolviam números.
Agora Gabriel estava próximo o bastante para ver os olhos do homem. Estavam claros e focados, um sinal animador. Significava que ele ainda estava pensando na missão e não nas delícias carnais que o esperavam no Paraíso. Quando começasse a sonhar com as houris perfumadas de olhos escuros, isso transpareceria em sua expressão. E nesse momento Gabriel teria que fazer uma escolha. Por enquanto, ele precisava que o homem continuasse neste mundo um pouco mais.
O terrorista consultou o relógio mais uma vez. Gabriel deu uma olhada rápida para o próprio relógio: 14h34. Passou os números pelo banco de dados de sua memória em busca de alguma conexão. Somou-os, subtraiu-os, multiplicou-os, inverteu-os e mudou sua ordem. Depois pensou sobre os dois ataques anteriores. O primeiro acontecera às 11h46, o segundo, às 12h03. Era possível que os números representassem anos do calendário gregoriano, mas Gabriel não viu nenhuma relação.
Apagou mentalmente as horas dos ataques e se concentrou apenas nos minutos. Quarenta e seis minutos, três minutos. Foi quando entendeu. Os horários eram tão conhecidos para ele quanto as pinceladas de Ticiano. Quarenta e seis minutos, três minutos. Eram dois dos mais famosos momentos da história do terrorismo — os minutos exatos em que os dois aviões sequestrados atingiram o World Trade Center no dia 11 de setembro. O voo 11 da American Airlines chocou-se contra a Torre Norte às 8h46. O voo 175 da United Airlines bateu na Torre Sul às 9h03. O terceiro avião a atingir seu alvo naquela manhã foi o do voo 77 da American Airlines, que foi atirado contra a face oeste do Pentágono. Às 9h37 na hora local, e 14h37 em Londres.
Gabriel consultou seu relógio digital. Haviam passado alguns segundos das 14h35. Erguendo os olhos, viu que o homem estava outra vez se movendo a passos rápidos, as mãos nos bolsos, parecendo ignorar as pessoas ao redor. Quando Gabriel começou a segui-lo, seu celular vibrou outra vez. Dessa vez ele atendeu e ouviu a voz de Chiara. Informou-a que um homem-bomba estava prestes a se explodir em Covent Garden e a instruiu a entrar em contato com o MI5. Depois guardou o telefone no bolso e começou a se aproximar do alvo. Temia que muitas pessoas inocentes estivessem prestes a morrer. E imaginava se poderia fazer algo para impedir.
6
Covent Garden, Londres
Havia outra possibilidade, é claro. Talvez o homem alguns passos à frente não tivesse nada sob o casaco a não ser alguns quilos a mais. Era inevitável se lembrar do caso de Jean Charles de Menezes, o eletricista brasileiro morto a tiros pela policia britânica na estação de Stockwell de Londres depois de ser confundido com um procurado militante islâmico. Os promotores ingleses se recusaram a fazer acusações contra os policiais envolvidos, uma decisão que provocou indignação entre os ativistas de direitos humanos e libertários civis no mundo todo. Gabriel sabia que, sob circunstâncias semelhantes, ele não poderia esperar o mesmo tratamento. Isso significava que ele teria que estar certo antes de agir. Estava confiante em relação a um ponto. Acreditava que o homem-bomba, como um pintor, assinaria o seu nome antes de apertar o botão do detonador. Iria querer que as vítimas soubessem que suas mortes iminentes não eram sem propósito, que estavam sendo sacrificadas em nome do jihad e em nome de Alá.
No momento, porém, Gabriel não tinha escolha a não ser segui-lo e esperar. Devagar, com muito cuidado, ele diminuiu a distância, fazendo pequenos ajustes em seu trajeto para manter uma linha de tiro desimpedida. Os olhos estavam focados na parte inferior do crânio do homem. Poucos centímetros abaixo estava o tálamo, região do cérebro essencial para o controle motor e sensorial do resto do corpo. Se destruísse o tálamo com uma rajada de balas, o homem-bomba não teria como apertar o botão do detonador. Se errasse o tálamo, era possível que o mártir levasse a cabo sua missão ao agonizar. Gabriel era um dos poucos homens no mundo que tinha matado um terrorista antes que ele consumasse seu ataque. Sabia que a diferença entre o sucesso e o fracasso era de uma fração de segundo. Sucesso significava que só um morreria. Fracasso resultaria na morte de muitas pessoas inocentes, talvez até mesmo dele próprio.
O homem passou pela porta que dava na piazza. Estava bem mais movimentada agora. Um violoncelista tocava uma suíte de Bach. Um imitador de Jimi Hendrix segurava uma guitarra ligada a um amplificador. Um homem bem-vestido em cima de um caixote de madeira gritava algo sobre Deus e a guerra do Iraque. O homem-bomba andou direto para o centro da praça, onde a apresentação do comediante se tornara ainda mais pervertida, para o deleite da multidão de espectadores. Usando técnicas aprendidas na juventude, Gabriel mentalmente silenciou os ruídos ao redor um por um, começando pela suave melodia da suíte de Bach e terminando com as ruidosas gargalhadas da multidão. Em seguida, olhou pela última vez para o relógio e esperou que o homem assinasse seu nome.
Eram 14h36. O terrorista tinha chegado aos limites da multidão. Parou por alguns segundos, como se buscasse um ponto fraco para adentrar, depois abriu caminho à força entre duas mulheres espantadas. Gabriel tomou outro rumo alguns metros à direita do homem, passando quase despercebido em meio a uma família de turistas norte-americanos. A multidão estava muito concentrada, e não dispersa, o que representou outro dilema para Gabriel. A munição ideal para uma situação como aquela seria uma bala de ponta oca, que infligiria maiores danos aos tecidos do alvo e reduziria substancialmente as baixas colaterais provenientes de uma penetração mais profunda. Mas a pistola Beretta de Gabriel estava carregada com balas normais Parabellum de 9 mm. Por essa razão, ele teria que se posicionar para disparar numa trajetória extrema de cima para baixo. De outra forma, havia uma grande probabilidade de matar um inocente na tentativa de salvá-lo.
O homem-bomba atravessou a barreira de pessoas e agora se dirigia diretamente para o comediante. Os olhos tinham assumido a expressão vidrada e distante. Os lábios se moviam. As preces finais... O comediante supôs que o homem queria participar da performance. Sorrindo, deu dois passos em sua direção, mas estacou quando viu as mãos dele emergirem dos bolsos do casaco. A mão esquerda estava ligeiramente aberta. A direita estava fechada, com o polegar levantado em ângulo reto. Ainda assim, Gabriel hesitou. E se não fosse um detonador? E se fosse apenas uma caneta? Ele precisava ter certeza. Declare suas intenções, pensou. Assine o seu nome.
O terrorista virou-se de frente para o mercado. Os clientes que olhavam da varanda do Punch and Judy riram nervosos, assim como alguns poucos espectadores na piazza. Em sua mente, Gabriel silenciou as risadas e congelou a imagem. A cena parecia uma pintura de Canaletto. As figuras estavam imóveis; somente Gabriel, o restaurador, era livre para se movimentar entre elas. Passou pela primeira fileira de espectadores e fixou o olhar no ponto na base do crânio. Não seria possível disparar num ângulo descendente. Mas havia outra solução para evitar baixas colaterais: uma linha de fogo de baixo para cima faria com que a bala passasse por cima da cabeça dos espectadores até atingir a fachada de um edifício próximo. Imaginou a manobra em sequência — sacar a arma com as mãos entrelaçadas, agachar, disparar, avançar — e esperou o homem-bomba assinar seu nome.
O silêncio na cabeça de Gabriel foi rompido por um grito bêbado na sacada do Punch and Judy — alguém mandando o mártir sair da frente e deixar a apresentação continuar. O terrorista reagiu erguendo os braços acima da cabeça como um maratonista rompendo a fita da linha de chegada. No lado interno do pulso direito havia um fino fio ligando o botão do detonador aos explosivos. Era toda a prova de que Gabriel precisava. Pegou sua Beretta de dentro do paletó. Em seguida, enquanto o terrorista gritava “Allahu Akbar”. Gabriel caiu sobre um joelho e ergueu a arma em direção ao alvo. Surpreendentemente, a linha de tiro estava livre, sem chance de danos secundários. Quando Gabriel ia apertar o gatilho, duas mãos empurraram com força a arma para baixo e o peso de dois homens o lançou contra o chão.
No instante em que bateu nas pedras da rua, ouviu um som retumbante e sentiu uma lufada de ar incandescente acima dele. Por alguns segundos, Gabriel não ouviu mais nada. Depois os gritos começaram, seguidos por uma ária de lamentos. Gabriel ergueu a cabeça e viu um pesadelo. Eram pedaços de corpos e sangue. Era Bagdá no Tâmisa.
7
New Scotland Yard, Londres
Existem poucos pecados mais graves para um profissional de inteligência, mesmo aposentado, do que cair sob custódia de autoridades locais. Como havia transitado por um longo tempo numa região entre o mundo público e o secreto, Gabriel tinha passado por isso com mais frequência do que a maioria de seus companheiros de viagem. A experiência lhe ensinou que havia um ritual estabelecido para tais ocasiões, que deveria ser concluído antes que a alta cúpula pudesse intervir. Ele conhecia bem o procedimento. Felizmente, seus anfitriões também.
Gabriel tinha sido detido minutos depois do ataque e conduzido em alta velocidade para a New Scotland Yard, o quartel-general da Polícia Metropolitana de Londres. Na chegada, foi levado a uma sala de interrogatório sem janelas, onde trataram de seus inúmeros cortes e escoriações e lhe serviram uma xícara de chá, que deixou intocada. Um superintendente do Comando de Contraterrorismo chegou logo depois. Examinou seus documentos de identidade com o ceticismo que mereciam e em seguida tentou determinar a sequência de eventos que levaram o “Sr. Rossi” a sacar uma arma de fogo em Covent Garden pouco antes de um terrorista se explodir. Gabriel sentia-se tentado a fazer algumas perguntas. Por exemplo, gostaria de saber por que dois especialistas em armas de fogo da divisão SO19 da polícia preferiram neutralizá-lo, e não um terrorista óbvio prestes a cometer um assassinato em massa. Em vez disso, respondeu a todas as perguntas do detetive recitando um número telefônico:
— Ligue para lá ? dizia, indicando o bloco de notas onde o detetive havia escrito o número. ? É um edifício grande não muito longe daqui. Você vai reconhecer o nome do homem que atender. Ou pelo menos deveria reconhecer.
Gabriel não soube a identidade do policial que afinal discou o número nem soube exatamente quando a ligação foi feita. Soube apenas que sua estada na New Scotland Yard durou bem mais do que o necessário. Já era quase meia-noite quando o detetive o escoltou até uma série de corredores bem iluminados em direção à entrada do prédio. Na mão esquerda ele levava um envelope de papel pardo com os pertences de Gabriel. A julgar pelo tamanho e a forma, não continha uma pistola Beretta 9 mm.
Do lado de fora, o clima agradável da tarde dera lugar a uma chuva forte. Aguardando embaixo do pórtico de vidro, com o motor ligado, encontrava-se uma limusine Jaguar escura. Gabriel pegou o envelope com o detetive e abriu a porta traseira do carro. Dentro, com as pernas cruzadas elegantemente, estava um homem que parecia ter sido projetado para a tarefa. Usava um impecável terno grafite e uma gravata prateada combinando com os cabelos. Normalmente, seus olhos claros eram inescrutáveis, mas agora revelavam o estresse de uma noite longa e difícil. Como vice-diretor do MI5, Graham Seymour carregava a pesada responsabilidade de proteger o território britânico das forças do extremismo do Islã. E mais uma vez, apesar de todos os esforços do departamento, o Islã tinha vencido.
Embora os dois homens tivessem um longo histórico profissional, Gabriel pouco sabia da vida pessoal de Graham Seymour. Sabia que Seymour era casado com uma mulher chamada Helen, que ele adorava, e que tinha um filho que era gerente da filial de Nova York de uma importante instituição financeira inglesa. O restante das informações sobre os negócios particulares de Seymour fora tirado dos volumosos arquivos do Escritório. Ele era uma relíquia do glorioso passado britânico, um produto da classe média alta que havia sido criado, educado e programado para ser líder. Acreditava em Deus, mas não com muito fervor. Acreditava em seu país, mas não era cego às suas falhas. Jogava bem golfe e outros esportes, mas dispunha-se a perder para um oponente inferior a serviço de uma causa valiosa. Era um homem admirado e, o mais importante, um homem confiável — um raro atributo entre espiões e agentes secretos.
No entanto, Graham Seymour não era um homem de paciência ilimitada, como revelava sua expressão soturna quando o Jaguar se pôs em movimento. Retirou um exemplar do Telegraph da manhã seguinte do bolso do banco da frente e o jogou no colo de Gabriel. A manchete dizia reinado de terror. Abaixo viam-se três fotografias mostrando o resultado dos três ataques. Gabriel examinou a foto de Covent Garden em busca de algum sinal de sua presença, mas havia apenas vítimas. Era a imagem de um fracasso, pensou — dezoito pessoas mortas, dezenas gravemente feridas, inclusive um dos policiais que o imobilizara. E tudo por causa do tiro que não permitiram que Gabriel disparasse.
— Um dia terrível — disse Seymour demonstrando cansaço. — Imagino que a única maneira de piorar é se a imprensa descobrir sobre você. Quando as teorias da conspiração forem concluídas, o mundo islâmico vai acreditar que os ataques foram planejados e executados pelo Escritório.
— Pode ter certeza de que isso já está acontecendo. — Gabriel devolveu o jornal e perguntou: — Onde está minha esposa?
— Está no seu hotel. Há uma equipe minha no saguão. — Seymour fez uma pausa. — Desnecessário dizer que ela não está muito satisfeita com você.
— Como você sabe? — Os ouvidos de Gabriel ainda zuniam por causa da concussão provocada pela explosão. Fechou os olhos e se perguntou como as equipes da SO19 conseguiram localizá-lo tão rapidamente.
— Como você deve imaginar, nós temos um amplo suporte técnico à nossa disposição.
— Como meu celular e sua rede de câmeras CCTV?
— Exato — concordou Seymour. — Conseguimos localizar você poucos segundos depois de receber a ligação de Chiara. Encaminhamos a informação para o Comando Dourado, o centro operacional de crises da Polícia Metropolitana, que imediatamente despachou duas equipes de especialistas em armas de fogo.
— Eles deviam estar nas imediações.
— Estavam — confirmou Seymour. — Estamos em alerta vermelho depois dos ataques em Paris e Copenhague. Várias equipes já estavam mobilizadas no distrito financeiro e em locais onde costuma haver aglomerações de turistas.
Então por que eles me atacaram e não o homem-bomba?
— Porque nem a Scotland Yard nem o Serviço de Segurança queriam uma reprise do fiasco Menezes. Em consequência da morte dele, inúmeros procedimentos e diretrizes foram implementados para evitar que algo do gênero se repita. Basta dizer que um único alerta não atende às disposições de uma ação letal, nem mesmo se por acaso a fonte é Gabriel Allon.
— E por causa disso dezoito pessoas foram mortas?
— E se ele não fosse um terrorista? E se fosse apenas um ator de rua ou alguém com problemas mentais? Nós teríamos sido crucificados.
— Mas não era um ator de rua nem um maluco, Graham. Era um homem-bomba. E eu disse isso a você.
— Como você sabia?
— Só faltava ele estar com um cartaz avisando.
— Era assim tão óbvio?
Gabriel listou os atributos que levantaram suas suspeitas e depois explicou os cálculos que o levaram a concluir que a explosão seria às 14h37. Seymour meneou a cabeça devagar.
— Já perdi a conta de quantas horas gastamos treinando nossos policiais para localizar possíveis terroristas, sem mencionar os milhões de libras que aplicamos no software de identificação de comportamento da CCTV. Ainda assim um homem-bomba do jihad andou por Covent Garden sem ninguém perceber. Ninguém além de você, é claro.
Seymour caiu num silêncio profundo. O automóvel seguia para o norte ao longo da Regent Street, intensamente iluminada. Cansado, Gabriel apoiou a cabeça no vidro da janela e perguntou se o terrorista havia sido identificado.
— O nome dele é Farid Khan. Os pais imigraram para o Reino Unido vindos de Lahore no fim dos anos 1970, mas Farid nasceu em Londres. Em Stepney Green, para ser exato. Como muitos muçulmanos ingleses de sua geração, ele rejeitou as convicções religiosas moderadas e apolíticas dos pais e se tornou islamita. No fim dos anos 1990, ele passava muito tempo na mesquita de East London em Whitchapel Road. Em pouco tempo se tornou integrante de destaque dos grupos radicais de Hizb ut-Tahrir e Al-Muhajiroun.
— Está parecendo que vocês tinham a ficha dele.
— Nós tínhamos ? concordou Seymour mas não pelas razões que você poderia imaginar. Veja bem, Farid Khan era um raio de sol, nossa esperança para o futuro. Ou ao menos foi o que pensamos.
— Você achou que ele poderia trabalhar para o outro lado?
— Seymour assentiu.
— Pouco depois do 11 de Setembro, Farid entrou para um grupo chamado New Beginnings. Seu objetivo era desprogramar militantes e reintegrá-los à opinião pública vigente do Islã e da Inglaterra. Farid era considerado um de seus grandes sucessos. Raspou a barba. Cortou relacionamentos com os velhos amigos. Formou-se entre os primeiros da turma na King’s College e arranjou um emprego bem pago numa pequena agência de publicidade em Londres. Algumas semanas atrás, ficou noivo de uma mulher de sua antiga vizinhança.
— Aí você o removeu de sua lista.
— De certa forma. Agora parece que foi tudo uma inteligente dissimulação. Farid era uma bomba-relógio prestes a explodir.
— Alguma ideia de quem o ativou?
— Estamos examinando os registros dos telefones e computadores neste exato momento, bem como o vídeo suicida que ele deixou. Está claro que o ataque está ligado aos atentados em Paris e Copenhague. Se foram coordenados pelos remanescentes da central da Al-Qaeda ou por uma nova rede é agora uma questão de intensos debates. Seja qual for o caso, não é da sua conta. Seu papel neste caso está oficialmente encerrado.
O Jaguar atravessou a Cavendish Place e parou na entrada do Hotel Langham.
— Eu gostaria de ter minha arma de volta.
— Vou ver o que posso fazer ? disse Seymour.
— Quanto tempo vou ter que ficar aqui?
— A Scotland Yard gostaria que você ficasse em Londres pelo resto do fim de semana. Na segunda de manhã você pode voltar para o seu chalé à beira-mar e só ficar pensando no seu Ticiano.
— Como você sabe do Ticiano?
— Eu sei de tudo. Tudo menos como evitar que um muçulmano nascido na Inglaterra cometa um assassinato em massa em Covent Garden.
— Eu poderia ter impedido isso, Graham.
— Poderia ? concordou Seymour com frieza. ? E teríamos retribuído o favor fazendo você em pedaços.
Gabriel desceu do carro sem falar mais nada.
— “Seu papel neste caso está oficialmente encerrado” — murmurou ao entrar no saguão. Repetiu isso inúmeras vezes, como um mantra.
8
Nova York
Naquela mesma noite, o outro universo habitado por Gabriel Allon também estava agitado, mas por razões muito diferentes. Era a temporada de leilões do outono em Nova York, uma época de ansiedade em que o mundo da arte, em todas as suas loucuras e excessos, reúne-se durante duas semanas num frenesi de compras e vendas. Como Nicholas Lovegrove gostava de dizer, era uma das poucas ocasiões em que ser muito rico não era algo considerado fora de moda. No entanto, era também um negócio mortalmente sério. Grandes coleções seriam montadas, grandes fortunas seriam construídas e perdidas. Uma só transação poderia deslanchar uma carreira brilhante. Mas também poderia destruí-la.
A reputação profissional de Lovegrove, como a de Gabriel Allon, estava firmemente estabelecida naquela noite. Nascido e educado na Inglaterra, era o consultor de arte mais procurado no mundo — um homem tão poderoso que podia influenciar o mercado apenas fazendo uma observação casual ou torcendo o elegante nariz. Seu conhecimento de arte era lendário, e também o tamanho de sua conta bancária. Lovegrove não precisava mais garimpar clientes; eles o procuravam, em geral de joelhos ou com promessas de altas comissões. O segredo do sucesso de Lovegrove estava no olhar infalível e na discrição. Lovegrove nunca traiu a confiança de ninguém; nunca fez fofocas ou se envolveu em negócios escusos. Era a ave mais rara no negócio de artes — um homem de palavra.
Apesar da reputação, Lovegrove estava acometido por seu habitual nervosismo pré-leilão enquanto se apressava pela Sexta Avenida. Depois de anos de preços em queda e vendas anêmicas, o mercado de arte começava, afinal, a dar sinais de renovação. Os primeiros leilões da temporada haviam sido respeitáveis, mas ficaram abaixo das expectativas. A venda daquela noite, de arte pós— guerra e contemporânea na Christie’s, tinha o potencial de incendiar o mundo das artes. Como de hábito, Lovegrove tinha clientes em ambos os lados do leilão. Dois eram vendedores, enquanto um terceiro queria adquirir o Lote 12, Ocher and Red on Red, óleo sobre tela, de Mark Rothko. O cliente em questão era tão único que Lovegrove nem sabia seu nome. Suas transações eram com um certo Sr. Hamdali em Paris, que por sua vez tratava com o cliente. O arranjo não era feito da forma tradicional, mas, da perspectiva de Lovegrove, era bastante lucrativo. Só durante os últimos doze meses, o colecionador havia adquirido mais de 200 milhões de dólares em pinturas. As comissões de Lovegrove nessas vendas passavam de 20 milhões. Se esta noite as coisas corressem de acordo com o planejado, seu lucro líquido aumentaria substancialmente.
Ele entrou na Rua 49 e andou meio quarteirão até a entrada da Christie’s. O imponente saguão envidraçado era um mar de diamantes, seda, egos e colágeno. Lovegrove parou um instante para beijar a bochecha perfumada de uma atraente herdeira alemã antes de continuar em direção à chapelaria, onde logo foi abordado por dois negociantes do Upper East Side. Rechaçou ambos com um gesto, pegou sua placa do leilão e subiu para o salão de vendas.
Levando-se em conta toda a intriga e o glamour envolvidos, o salão era surpreendentemente comum, uma mistura de saguão da Assembleia Geral das Nações Unidas com uma igreja evangélica de cultos televisivos. As paredes eram de um tom sem graça de bege e cinza, assim como as cadeiras dobráveis aglomeradas para aproveitar ao máximo o espaço limitado. Atrás de uma espécie de púlpito via-se uma vitrine giratória e, perto dela, uma mesa telefônica operada por meia dúzia de funcionários da Christie’s. Lovegrove ergueu os olhos para os camarotes, esperando divisar um ou dois rostos atrás do vidro fumê, depois andou com cautela em direção aos repórteres que se amontoavam como gado no canto do fundo. Escondendo o número de sua placa, passou rápido por eles e se dirigiu a seu lugar habitual na frente da sala. Era a Terra Prometida, o local onde todos os marchands, consultores e colecionadores esperavam um dia sentar. Não era um lugar para quem tivesse o coração fraco ou pouco dinheiro. Lovegrove se referia a ele como “zona da matança”.
O leilão estava programado para começar às seis. Francis Hunt, o leiloeiro-chefe da Christie’s, garantiu cinco minutos adicionais à irrequieta plateia para se acomodar antes de ocupar o seu assento. Ele tinha modos polidos e uma divertida cortesia inglesa que por alguma inexplicável razão ainda fazia os norte-americanos se sentirem inferiores. Na mão direita ele segurava o famoso “livro negro” que continha os segredos do universo, ao menos no que dizia respeito àquela noite. Cada lote à venda tinha sua própria página com informações como a reserva do vendedor, um mapa mostrando a localização dos prováveis compradores e a estratégia de Hunt para obter o maior lance possível. O nome de Lovegrove aparecia na página dedicada ao Lote 12, o Rothko. Durante uma inspeção privada pré-venda, Lovegrove insinuou que talvez estivesse interessado, mas só se o preço fosse apropriado e as estrelas estivessem no alinhamento certo. Hunt sabia que Lovegrove estava mentindo, é claro. Hunt sabia de tudo.
Desejou a todos uma boa-noite e, em seguida, com toda a pompa de um mestre de cerimônias de uma grande festa, disse: — Lote 1, o Twombly.
Os lances começaram de imediato, subindo rápido de 100 mil em 100 mil dólares. O leiloeiro administrava com habilidade o processo junto a dois auxiliares de penteados irretocáveis que se pavoneavam e posavam atrás do púlpito como modelos masculinos numa sessão de fotos. Lovegrove talvez se impressionasse com a performance se não soubesse que tudo era cuidadosamente coreografado e ensaiado. Os lances pararam em 1,5 milhão, mas foram reavivados por um lance por telefone de 1,6 milhão. Seguiram-se mais cinco lances em rápida sucessão, e nesse ponto os lances cessaram pela segunda vez.
— O lance é de 2,1 milhões, com Cordelia ao telefone — entoou Hunt, os olhos movendo-se sedutores pela plateia. — Não está com a madame, nem com o senhor. Dois ponto um, ao telefone, pelo Twombly. Último aviso. Última chance. — O martelo desceu com um baque. — Obrigado — murmurou Hunt enquanto registrava a transação em seu livro negro.
Depois do Twombly veio o Lichtenstein, seguido pelo Basquiat, o Diebenkorn, o De Kooning, o Johns, o Pollock e uma série de Warhols. Todos os trabalhos alcançaram mais do que a estimativa pré-venda e mais do que o lote anterior. Não foi por acaso; Hunt tinha organizado os leilões com inteligência de forma a criar uma escala ascendente de excitação. No momento em que o Lote 12 chegou à vitrine, ele tinha a plateia e os compradores na palma da mão.
— À minha direita temos o Rothko — anunciou. — Vamos começar os lances em 12 milhões?
Eram 2 milhões acima da estimativa pré-venda, um sinal de que Hunt esperava que a obra vendesse muito bem. Lovegrove tirou um celular do bolso do paletó Brioni e digitou um número de Paris. Hamdali atendeu. A voz dele soava como um chá morno adoçado com mel.
— Meu cliente gostaria de sentir um pouco o ambiente antes de fazer o primeiro lance.
— Bem pensado.
Lovegrove colocou o telefone no colo e cruzou os dedos. Logo ficou claro que seria uma árdua batalha. Lances se precipitaram em direção a Hunt de todos os cantos do recinto e dos funcionários da Christie’s que operavam os telefones. Hector Candiotti, consultor de arte de um magnata da indústria belga, brandia a placa no ar com agressividade, uma técnica conhecida como rolo compressor. Tony Berringer, que trabalhava para um oligarca russo do alumínio, fazia lances como se sua vida dependesse daquilo, o que bem podia ser possível. Lovegrove esperou até o preço chegar a 30 milhões antes de pegar o telefone.
— Então? — perguntou com a voz calma.
— Ainda não, Sr. Lovegrove.
Dessa vez Lovegrove manteve o telefone no ouvido. Em Paris, Hamdali falava com alguém em árabe. Infelizmente, não era uma das várias línguas que Lovegrove falava com fluência. Para passar o tempo, perscrutou os camarotes, em busca de compradores secretos. Num deles percebeu uma linda jovem, segurando um celular. Alguns segundos depois, Lovegrove notou algo mais. Quando Hamdali falava, a mulher ficava em silêncio. E quando a mulher falava, Hamdali não dizia nada. Provavelmente era uma coincidência, pensou. Ou não.
— Talvez seja o momento de fazer um teste — sugeriu Lovegrove, os olhos na mulher no camarote.
— Talvez você tenha razão — replicou Hamdali. — Um momento, por favor.
Hamdali murmurou algumas palavras em árabe. Logo depois, a mulher no camarote falou em seu celular. Depois, em inglês, Hamdali falou: — O cliente concorda, Sr. Lovegrove. Por favor, faça seu primeiro lance.
A oferta estava em 34 milhões. Arqueando uma única sobrancelha, Lovegrove aumentou em 1 milhão.
— Nós temos 35 — disse Hunt, num tom que indicava que um novo predador de respeito tinha entrado na disputa.
Hector Candiotti reagiu de imediato, assim como Tony Berringer. Dois compradores por telefone empurraram o preço para o limite de 40 milhões. Então Jack Chambers, o rei do mercado imobiliário, casualmente fez um lance de 41. Lovegrove não estava muito preocupado com Jack. O caso com aquela sirigaita de Nova Jersey tinha saído caro no divórcio. Jack não tinha fundos para ir muito além.
— A oferta está em 41 contra você — sussurrou Lovegrove ao telefone.
— O cliente acredita que tudo não passa de pose.
— Trata-se de um leilão de arte na Christie’s. Pose é praxe.
— Paciência, Sr. Lovegrove.
Lovegrove mantinha os olhos na mulher no camarote quando os lances alcançaram a marca de 50 milhões. Jack Chambers fez um último lance de 60; Tony Berringer e seu gângster russo fizeram as honras com 70. Hector Candiotti desistiu da disputa.
— Parece que está entre nós e os russos — disse Lovegrove ao homem em Paris.
— Meu cliente não se importa com os russos.
— O que o seu cliente gostaria de fazer?
— Qual é o recorde de um Rothko num leilão?
— É de 72 e uns trocados.
— Por favor, faça um lance de 75.
— É demais. Você nunca...
— Faça o lance, Sr. Lovegrove.
Lovegrove arqueou uma sobrancelha e ergueu cinco dedos.
— O lance é de 75 milhões — disse Hunt. — Não está com o senhor. Nem com o senhor. Temos 75 milhões pelo Rothko. Último aviso. Última chance. Todos de acordo?
O martelo foi batido.
Um suspiro perpassou o recinto. Lovegrove olhou para o camarote, mas a mulher já havia ido embora.
9
Península do Lagarto, Cornualha
Com a aprovação da Scotland Yard, do Home Office e do primeiro-ministro britânico, Gabriel e Chiara voltaram à Cornualha três dias depois do atentado em Covent Garden. Madona e a Criança com Maria Madalena, óleo sobre tela, 110 por 92 centímetros, chegou às dez horas da manhã seguinte. Depois de retirar a pintura com todo o cuidado de seu estojo de proteção, Gabriel colocou-a no velho cavalete de carvalho da sala de estar e passou o resto da tarde examinando os raios X. As fantasmagóricas imagens apenas reforçaram sua opinião de que o quadro era de fato um Ticiano, aliás, um belo Ticiano.
Como fazia muitos meses que Gabriel não punha as mãos numa pintura, ele estava ansioso para começar a trabalhar logo. Levantou-se cedo na manhã seguinte, preparou uma tigela de café au lait e imediatamente se lançou à delicada tarefa de revestir a tela. O primeiro passo era colar toalhas de papel sobre a imagem para evitar mais danos à pintura durante o procedimento. Existiam inúmeras colas de fácil aquisição apropriadas à tarefa, mas Gabriel sempre preferiu fazer seu próprio aderente usando a receita que havia aprendido em Veneza do mestre restaurador Umberto Conti — pelotas da cola de rabo de coelho dissolvidas numa mistura de água, vinagre, bile de boi e melaço.
Cozinhou lentamente o malcheiroso preparado no fogão da cozinha até adquirir a consistência de um xarope e assistiu ao noticiário matinal na BBC enquanto esperava a mistura esfriar. Farid Khan era agora um nome conhecido no Reino Unido. Em vista da sincronia precisa de seu ataque, a Scotland Yard e a inteligência britânica operavam com base na tese de que estava ligado aos atentados em Paris e em Copenhague. Ainda não estava clara a que organização terrorista os homens-bomba pertenciam. O debate entre especialistas na televisão era intenso, com um dos lados proclamando que os ataques foram orquestrados pela antiga liderança da Al-Qaeda no Paquistão, enquanto outro declarava que era obviamente o trabalho de uma nova rede que ainda iria aparecer no radar da inteligência do Ocidente. Fosse qual fosse o caso, as autoridades europeias se preparavam para novos derramamentos de sangue. O Centro de Análise Conjunta do Terrorismo do MI5 tinha subido o nível de ameaça para “crítico”, o que significava que era esperado outro ataque iminente.
Gabriel teve sua atenção atraída para uma reportagem sobre a conduta da Scotland Yard logo antes do ataque. Numa declaração formulada com todo o cuidado, o comissário da Polícia Metropolitana admitiu ter recebido um alerta sobre um homem suspeito com um casaco grande demais dirigindo-se a Covent Garden. Lamentavelmente, disse o comissário, a informação não atingiu o nível de especificidade exigido para ação letal. Em seguida confirmou que dois agentes do SO19 haviam sido despachados para Covent Garden, mas que, dentro da política atual, eles não deveriam atirar. Quanto aos relatos de uma arma sendo sacada, a polícia tinha interrogado o homem envolvido e concluído que não era uma arma, e sim uma câmera. Por razões de privacidade, a identidade do homem não seria revelada. A imprensa pareceu aceitar a versão da polícia, assim como os representantes dos direitos civis, que aplaudiram a atitude comedida da polícia mesmo com a morte de dezoito inocentes.
Gabriel desligou a televisão quando Chiara entrou na cozinha. Ela abriu de imediato a janela para tirar o mau cheiro de bile de boi e vinagre e repreendeu Gabriel por ter sujado sua panela de aço inoxidável favorita. Gabriel sorriu e mergulhou a ponta do indicador na mistura. Agora já estava fria o bastante para ser usada. Com Chiara espiando por cima do ombro dele, Gabriel aplicou a cola sobre o verniz amarelado de maneira uniforme e grudou diversas toalhas de papel na superfície. O trabalho de Ticiano estava invisível agora, e assim ficaria por muitos dias até que o novo revestimento fosse finalizado.
Gabriel não podia fazer mais nada naquela manhã a não ser verificar a pintura de tempos em tempos para saber se a cola estava secando de forma adequada. Sentou-se no caramanchão de frente para o mar, um notebook no colo, e pesquisou na internet por mais informações sobre os três ataques. Sentiu-se tentado a contactar o King Saul Boulevard, mas achou melhor não. Já não tinha informado Tel Aviv sobre seu envolvimento em Covent Garden, e fazer isso agora só daria a seus ex-colegas uma desculpa para se intrometerem em sua vida. Gabriel aprendera com a experiência que era melhor tratar o Escritório como uma ex-namorada. O contato devia ser mínimo e o melhor é que ocorresse em lugares públicos, onde seria inapropriado criar confusão.
Pouco antes do meio-dia, as últimas lufadas dos ventos da noite passaram pela enseada de Gunwalloe, deixando o céu claro e de um azul cristalino. Depois de checar mais uma vez a pintura, Gabriel vestiu um agasalho e um par de botas de caminhada e saiu para seu passeio diário pelos penhascos. Na tarde anterior ele tinha caminhado para o norte ao longo do Caminho Costeiro até Praa Sands. Agora subiu a pequena inclinação atrás do chalé e partiu para o sul em direção à ponta da península.
Não demorou muito para a magia da costa da Cornualha espantar os pensamentos sobre os mortos e feridos em Covent Garden. Quando Gabriel chegou aos limites do Mullion Golf Club, a última imagem terrível já estava escondida em segurança debaixo de uma camada de tinta. Enquanto seguia para o sul, passando pelo afloramento rochoso dos penhascos de Polurrian, ele só pensava no trabalho a ser feito no Ticiano. No dia seguinte removeria com todo o cuidado a pintura do esticador e fixaria a tela mole numa faixa de linho italiano, pressionando-a com firmeza no lugar com um pesado ferro de passar. Depois viria a mais longa e árdua fase da restauração: a remoção do verniz quebradiço e amarelado e o retoque das porções de pintura danificadas pelo tempo e a pressão. Enquanto alguns restauradores costumavam ser agressivos nos retoques, Gabriel era conhecido no mundo da arte pela leveza do toque e a fantástica habilidade de imitar as pinceladas dos Grandes Mestres. Ele acreditava ser dever de um restaurador passar despercebido, não deixando evidência alguma a não ser a pintura devolvida à sua glória original.
Quando Gabriel chegou à ponta norte da enseada de Kynance, uma linha de nuvens negras obscurecia o sol e o vento do mar tinha ficado bem mais frio. Como arguto observador do caprichoso clima da Cornualha, ele percebeu que o “intervalo brilhante”, como os meteorologistas britânicos gostavam de chamar os períodos de sol, estava prestes a ter um fim abrupto. Parou por um momento, pensando onde poderia se abrigar. Para o leste, depois da paisagem que se assemelhava a uma colcha de retalhos, estava o vilarejo do Lagarto. Bem à frente estava a ponta. Gabriel escolheu a segunda opção. Ele não queria encurtar sua caminhada por causa de algo trivial como uma rajada de vento passageira. Além do mais, havia um bom café no alto do penhasco, onde ele poderia esperar a tempestade comendo um bolinho recém-assado e tomando um bule de chá.
Levantou a gola do agasalho e seguiu pela orla da enseada enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O café apareceu sob um véu de névoa. Na base dos penhascos, abrigando-se próximo a uma casa de barcos abandonada, viu um homem de uns 25 anos com cabelos curtos e óculos escuros sobre a cabeça. Um segundo homem encontrava-se no alto do ponto de observação, olhando por um telescópio que funcionava com a inserção de moedas. Gabriel sabia que o telescópio estava inativo havia meses.
Parou de andar e olhou em direção ao café assim que um terceiro homem saiu para a varanda. Tinha um chapéu impermeável enterrado até as sobrancelhas e óculos sem aro muito usados por intelectuais alemães e banqueiros suíços. Sua expressão era de impaciência — de um executivo atarefado forçado pela esposa a tirar férias. Olhou diretamente para Gabriel por um longo tempo antes de erguer um punho largo em direção ao rosto e consultar o relógio. Gabriel sentiu-se tentado a virar na direção oposta, mas preferiu baixar o olhar e continuar andando. Melhor fazer isso em público, pensou. Reduziria as chances de uma confusão.
10
Ponta do Lagarto, Cornualha
— Você tinha mesmo que pedir bolinhos? — perguntou Uzi Navot, ressentido.
— São os melhores da Cornualha. Assim como o creme talhado.
Navot não se mexeu. Gabriel deu um sorriso perspicaz.
— Bella quer que você perca quantos quilos?
— Três. Depois eu preciso manter o peso — respondeu Navot com pesar, como se fosse uma sentença de prisão. — O que eu não daria para ter seu metabolismo. Você é casado com uma das maiores cozinheiras do mundo, mas ainda tem o corpo de um jovem de 25 anos. Eu? Sou casado com uma das mais destacadas peritas em assuntos sobre a Síria do país e não posso nem me aproximar de um doce. Talvez seja hora de pedir a Bella para pegar mais leve com as restrições alimentares.
— Peça você — replicou Navot. — Todos esses anos estudando os baatistas de Damasco deixaram sequelas. Às vezes acho que vivo numa ditadura.
Os dois estavam sentados a uma mesa isolada perto das janelas golpeadas pela chuva, Gabriel de frente para o interior, Navot, para o mar. Uzi vestia calças de cotelê e um suéter bege que ainda cheiravam ao departamento masculino da loja da Harrods. Depositou o chapéu numa cadeira próxima e passou a mão no cabelo curto louro-avermelhado. Estava um pouco mais grisalho do que Gabriel se lembrava, mas era compreensível. Uzi Navot era agora o chefe do serviço de inteligência de Israel. Os cabelos grisalhos eram um dos muitos benefícios secundários do trabalho.
Se o breve mandato de Navot terminasse agora, era quase certo que seria considerado um dos mais bem-sucedidos na longa e renomada história do Escritório. As honras concedidas a ele eram resultado da operação Obra-Prima, o empreendimento conjunto anglo-americano-israelense que ocasionou a destruição de quatro instalações nucleares secretas iranianas. Muitos dos créditos eram de Gabriel, ainda que Navot preferisse não se estender muito nesse ponto. Ele só foi nomeado chefe porque Gabriel recusou o posto repetidas vezes. E as quatro usinas de enriquecimento ainda estariam funcionando se Gabriel não tivesse identificado e recrutado o empresário suíço que vendia peças para os iranianos em segredo.
No momento, porém, os pensamentos de Navot pareciam focados apenas no prato de bolinhos. Incapaz de continuar resistindo, ele escolheu um, partiu-o com grande cuidado e lambuzou-o com geleia de morango e um bocado de creme talhado. Gabriel colocou chá em sua xícara e perguntou calmamente sobre o propósito daquela visita não anunciada. Fez isso em alemão fluente, que ele falava com o sotaque berlinense de sua mãe. Era uma das cinco línguas que compartilhava com Navot.
— Eu tinha vários assuntos a discutir com minhas contrapartes britânicas. Na pauta estava um surpreendente relatório sobre um de nossos ex-agentes que agora vive aposentado aqui sob a proteção do MI5. Havia um grande alarde a respeito desse agente e o atentado de Covent Garden. Para ser honesto, fiquei um pouco em dúvida quando ouvi. Conhecendo bem esse agente, não conseguia imaginar que ele arriscasse sua posição na Inglaterra fazendo algo tão tolo como sacar uma arma em público.
— O que eu deveria ter feito, Uzi?
— Deveria ter chamado o seu contato no MI5 e lavado as mãos.
— E se você estivesse numa situação semelhante?
— Se estivesse em Jerusalém ou em Tel Aviv, eu não teria hesitado em abater o canalha. Mas aqui... Acho que teria considerado antes as possíveis consequências das minhas ações.
— Dezoito pessoas morreram, Uzi.
— Considere-se com sorte por não terem sido dezenove. — Navot tirou os óculos de armação alongada, algo que costumava fazer antes de se envolver numa conversa desagradável. — Sinto-me tentado a perguntar se você realmente pretendia fazer o disparo. Mas em vista de seu treinamento e seus feitos passados, acho que sei a resposta. Um agente do Escritório saca a arma em campo por uma razão e apenas por uma razão. Não a fica sacudindo como um gângster ou faz ameaças vazias. Simplesmente puxa o gatilho e atira para matar. — Navot fez uma pausa, depois acrescentou: — Faça com os outros antes que eles tenham oportunidade de fazer com você. Acredito que essas palavras podem ser encontradas na página 12 do pequeno livro vermelho de Shamron.
— Ele sabe sobre Covent Garden?
— Você já sabe a resposta. Shamron sabe de tudo. Aliás, eu não ficaria surpreso se ele não tivesse ouvido sobre sua pequena aventura antes de mim. Apesar de minhas tentativas de mantê-lo na aposentadoria, ele insiste em permanecer em contato com suas fontes dos velhos tempos.
Gabriel acrescentou umas gotas de leite a seu chá e mexeu devagar. Shamron... O nome era quase sinônimo da história de Israel e de seus serviços de inteligência. Depois de lutar na guerra que levou à reconstituição de Israel, Ari Shamron passou os sessenta anos seguintes protegendo o país de uma horda de inimigos dispostos a destruí-lo. Tinha penetrado nas cortes de reis, roubado segredos de tiranos e matado incontáveis adversários, às vezes com as próprias mãos, às vezes com as mãos de homens como Gabriel. Apenas um segredo fugia a Shamron — o segredo da satisfação. Já idoso e com a saúde em frangalhos, agarrava-se desesperadamente a seu papel de eminência parda do establishment de segurança de Israel e ainda se metia nos negócios internos do Escritório como se fosse seu feudo. Não era a arrogância que motivava Shamron, mas, sim, um constante temor de que todo o seu trabalho tivesse sido em vão. Embora próspero na economia e forte na área militar, Israel continuava cercado por um mundo que era, em sua maior parte, hostil a sua existência. O fato de Gabriel ter escolhido morar nesse mundo estava entre as maiores decepções de Shamron.
— Estou surpreso de ele mesmo não ter vindo — comentou Gabriel.
— Ele teve vontade.
— E por que não veio?
— Não é mais tão fácil para ele viajar.
— Qual o problema agora?
— Tudo — respondeu Navot, dando de ombros. — Atualmente ele mal sai de Tiberíades. Só fica na varanda olhando para o lago. Gilah está ficando louca. Tem me pedido para arrumar alguma coisa para ele fazer.
— Será que devo fazer uma visita?
— Ele não está no leito de morte, se é o que está insinuando. Mas você deveria fazer uma visita logo. Quem sabe? Talvez você resolva gostar do seu país outra vez.
— Eu adoro o meu país, Uzi.
— Mas não o suficiente para viver lá.
— Você sempre me lembrou um pouco Shamron — disse Gabriel, franzindo a testa ?, mas agora essa semelhança é impressionante.
— Gilah me disse a mesma coisa pouco tempo atrás.
— Eu não disse que isso é um elogio.
— Nem ela. — Navot acrescentou outra colher de sopa de creme talhado ao bolinho com um cuidado exagerado.
— Então, por que você está aqui, Uzi?
— Quero oferecer uma oportunidade única.
?Você está falando como um vendedor.
— Eu sou um espião. Não tem muita diferença.
— O que você quer oferecer?
— Uma oportunidade de reparar um erro.
— E qual foi esse erro?
— Você deveria ter acertado Farid Khan antes de ele apertar o botão do detonador. — Navot baixou a voz e acrescentou, confiante: — É o que eu teria feito, se estivesse no seu lugar.
— E como eu poderia reparar esse erro de julgamento?
— Aceitando um convite.
— De quem?
Navot olhou em silêncio para o oeste.
— Dos norte-americanos? — perguntou Gabriel.
Navot sorriu.
— Mais chá?
A chuva parou tão de repente quanto começou. Gabriel deixou dinheiro em cima da mesa e acompanhou Navot pelo caminho íngreme até a enseada de Polpeor. O guarda-costas ainda estava encostado na rampa em escombros da casa de barcos. Olhou com falsa indiferença quando Gabriel e Navot caminharam juntos pela praia rochosa até a beira da água. Navot deu um olhar distraído para seu relógio de aço inoxidável e levantou a gola do casaco para se proteger do tempestuoso vento do mar. Gabriel ficou mais uma vez surpreso com a incrível semelhança com Shamron, que não era apenas superficial. Era como se Ari, pela pura força de sua vontade indomável, tivesse de alguma forma possuído Navot de corpo e alma. Não era o Shamron enfraquecido pela idade e pela doença, pensou Gabriel, mas o homem em seu auge. Só o que faltava eram os malditos cigarros turcos que destruíram a saúde de Shamron. Bella nunca tinha deixado Navot fumar, nem mesmo como disfarce.
— Quem está por trás dos atentados, Uzi?
— Até agora, não conseguimos estabelecer isso com certeza. Os norte-americanos, porém, acham que se trata da futura face do terror jihadista global, o novo Bin Laden.
— E esse novo Bin Laden tem um nome?
— Os norte-americanos insistem em partilhar essa informação pessoalmente com você. Querem que você vá a Washington, com todas as despesas pagas, claro.
— Como foi feito esse convite?
— Adrian Carter me ligou.
Adrian Carter era o diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA.
— Qual é o código de vestuário?
— Preto. Sua visita aos Estados Unidos jamais terá acontecido.
Gabriel encarou Navot em silêncio por um momento.
— Obviamente você quer que eu vá, Uzi, ou não estaria aqui.
— Mal não pode fazer. Na pior das hipóteses, vai nos dar uma oportunidade de ouvir o que os norte-americanos têm a dizer sobre os atentados. Mas existem outros benefícios indiretos também.
— Tais como?
— Nosso relacionamento pode se dar bem com alguns retoques.
— Que tipo de retoques?
— Você não soube? Washington está de cara nova. A mudança está no ar — observou Navot com sarcasmo. — O novo presidente dos Estados Unidos é um idealista. Acredita que pode consertar as relações entre o Ocidente e o Islã e está convencido de que nós somos parte do problema.
— Então a solução sou eu, um ex-assassino com o sangue de vários palestinos e terroristas islâmicos nas mãos?
— Quando os serviços de inteligência se dão bem, isso tende a se alastrar para a política, por isso o primeiro-ministro também está ansioso para que você faça a viagem.
— O primeiro-ministro? Daqui a pouco você vai me dizer que Shamron também está envolvido.
— E está. — Navot pegou uma pedra e atirou-a ao mar. — Depois da operação no Irã, eu me permiti pensar que Shamron poderia afinal sumir. Eu estava enganado. Ele não tem intenção de me deixar dirigir o Escritório sem sua interferência constante. Mas isso não surpreende, não é, Gabriel? Nós dois sabemos que Shamron tinha outra pessoa em mente para o trabalho. Eu estou destinado a figurar na história de nosso ilustre serviço como o chefe acidental. E você sempre será o escolhido.
— Escolha outra pessoa, Uzi. Estou aposentado, lembra? Mande outra pessoa para Washington.
— Adrian não quer nem ouvir falar disso — disse Navot, esfregando o ombro. — Nem Shamron. Quanto a sua pretensa aposentadoria, terminou no momento em que você resolveu seguir Farid Khan em Covent Garden.
Gabriel olhou para o mar e visualizou o resultado do tiro não disparado: sangue e corpos despedaçados, Bagdá no Tâmisa. Navot pareceu adivinhar o que ele estava pensando e se aproveitou.
— Os norte-americanos querem você em Washington amanhã bem cedo. Haverá um Gulfstream à sua espera perto de Londres. Foi um dos aviões usados no programa de sequestros de prisioneiros. Eles me garantiram que removeram as algemas e agulhas hipodérmicas.
— E quanto a Chiara?
— O convite é individual.
— Ela não pode ficar aqui sozinha.
— Graham concordou em mandar uma equipe de segurança de Londres.
— Eu não confio neles, Uzi. Leve-a para Israel com você. Ela pode ajudar Gilah a cuidar do velho por alguns dias até eu voltar.
— Talvez ela fique lá por algum tempo.
Gabriel examinou Navot com atenção. Dava para notar que ele sabia mais do que estava dizendo. Ele sempre sabia.
— Eu acabei de concordar em restaurar um quadro para Julian Isherwood.
— Um Madona e a Criança com Maria Madalena, outrora atribuído ao estúdio de Palma Vecchio, agora talvez atribuído a Ticiano, dependendo da revisão de especialistas.
— Muito impressionante, Uzi.
— Bella tem tentado ampliar meus horizontes.
— O quadro não pode ficar num chalé vazio perto do mar.
— Julian concordou em pegar o quadro de volta. Como você deve imaginar, ele ficou bastante desapontado.
— Eu ia receber 200 mil libras por esse trabalho.
— Não olhe para mim, Gabriel. O caixa está vazio. Fui obrigado a fazer cortes em todos os níveis dos departamentos. Os contadores estão querendo inclusive que eu diminua minhas despesas pessoais. Minha diária é uma miséria.
— Ainda bem que você está de dieta.
Navot levou a mão à barriga de forma inconsciente, como se quisesse verificar se tinha aumentado desde que saiu de casa.
— É um longo caminho até Londres, Uzi. Talvez seja melhor você levar alguns bolinhos.
— Nem pense nisso.
— Tem medo de que Bella descubra?
— Eu sei que ela vai descobrir. — Navot olhou para o guarda-costas encostado na rampa da casa de barcos. — Esses canalhas contam tudo para ela. É como viver numa ditadura.
11
Georgetown, Washington
A casa ficava no quarteirão 3300 da N Street, uma das elegantes residências com terraço e preços apenas ao alcance dos mais ricos de Washington. Gabriel subiu a escada em curva da entrada à meia-luz da aurora e, como instruído, entrou sem tocar a campainha. Adrian Carter esperava no vestíbulo, usando calça de algodão vincada, um suéter de gola olímpica e um blazer de cotelê marrom-claro. Combinado com seu cabelo escasso e despenteado e um bigode fora de moda, o traje lhe dava o ar de um professor de uma pequena universidade, do tipo que defende nobres causas e é sempre uma dor de cabeça para o reitor. Como diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA, no momento Carter só defendia uma causa: manter o território norte-americano a salvo de ataques terroristas ? embora duas vezes por mês, se a agenda permitisse, ele pudesse ser encontrado no porão de sua igreja episcopal no subúrbio de Reston preparando refeições para os sem-teto. Para Carter, o trabalho voluntário era uma meditação, uma rara oportunidade de se envolver com algo que não fosse o destrutivo estado de guerra que sempre assolava as salas de reunião da vasta comunidade de inteligência dos Estados Unidos.
Cumprimentou Gabriel com a circunspecção natural dos homens que vivem no mundo da clandestinidade e o conduziu para dentro. Gabriel parou um momento no centro do corredor e olhou ao redor. Protocolos secretos haviam sido feitos e rompidos naquelas salas de mobília sem graça; homens foram seduzidos para trair seus países em troca de valises cheias de dólares e promessas de proteção norte-americana. Carter tinha usado tantas vezes aquela casa que ela era conhecida em Langley como seu pied-à-terre de Georgetown. Um espertinho da Agência a havia batizado como Dar-al-Harb, que em árabe quer dizer “Casa da Guerra”. Era uma guerra encoberta, claro, pois Carter não conhecia outra forma de lutar.
Adrian Carter não tinha procurado o poder intencionalmente. Bloco a bloco, foi jogado em seus ombros estreitos sem que ele quisesse. Recrutado pela Agência ainda antes de se formar, passou a maior parte da carreira travando uma guerra secreta contra os russos — primeiro na Polônia, onde canalizava dinheiro e mimeógrafos para o Solidariedade; depois em Moscou, onde trabalhou como chefe de base; e finalmente no Afeganistão, onde incentivou e armou os soldados de Alá, mesmo sabendo que um dia eles mandariam fogo e morte sobre ele. Se o Afeganistão acabaria se mostrando a causa de destruição do Império do Mal, também permitiria a Carter um avanço na carreira. Ele não monitorou o colapso da União Soviética em campo, mas de um confortável escritório em Langley, onde tinha sido promovido havia pouco a chefe da Divisão Europeia. Enquanto seus subordinados comemoravam abertamente a morte do inimigo, Carter observava os eventos se desdobrarem com um mau pressentimento. Sua amada Agência falhara em prever o colapso do comunismo, um erro grave que assombraria Langley durante anos. Pior ainda: num piscar de olhos, a CIA tinha perdido a própria razão de sua existência.
Isso mudou na manhã do dia 11 de setembro de 2011. A guerra que se seguiu seria uma guerra travada nas sombras, um lugar que Adrian Carter conhecia muito bem. Enquanto o Pentágono lutava para elaborar uma reação militar ao horror do 11 de Setembro, foi Carter e sua equipe do Centro de Contraterrorismo que produziram um ousado plano para destruir o santuário afegão da Al-Qaeda com uma guerrilha montada pela CIA e conduzida por uma pequena força de agentes especiais norte-americanos. E quando os comandantes e soldados de infantaria da Al-Qaeda começaram a cair nas mãos dos Estados Unidos, foi Carter, de sua escrivaninha em Langley, que com frequência atuou como júri e juiz. As prisões secretas, os sequestros extraordinários, os métodos brutos de interrogatório — tudo tinha o dedo de Carter. Ele não lamentava suas ações; não podia se dar a esse luxo. Para Adrian Carter, todas as manhãs eram 12 de setembro. Nunca mais, jurou, ele veria norte-americanos se atirando de arranha-céus em chamas atingidos por terroristas.
Durante dez anos, Carter tinha conseguido manter essa promessa. Ninguém tinha feito mais para proteger o território dos Estados Unidos de um segundo ataque previsto com muita antecedência, embora, por seus muitos pecados secretos, ele tenha sido crucificado pela imprensa e ameaçado por processos criminais. Aconselhado por advogados da Agência, ele contratou os serviços de um caro advogado de Washington, uma extravagância que drenava suas economias e obrigou sua esposa, Margaret, a voltar a dar aulas. Amigos tinham insistido com Carter para esquecer a Agência e aceitar um cargo lucrativo na crescente indústria de segurança privada de Washington, mas ele recusou. Seu fracasso em evitar os ataques de 11 de setembro ainda o perseguia. E os fantasmas dos três mil mortos o incitavam a continuar lutando até o inimigo ser derrotado.
A guerra tinha cobrado seu preço de Carter — não apenas a vida de sua família, que estava em ruínas, mas também sua saúde. Seu rosto estava magro e cansado, e Gabriel percebeu um leve tremor na mão direita dele quando encheu um prato, sem nenhum entusiasmo, com iguarias do governo dispostas sobre um bufê na sala de jantar.
— Pressão alta — explicou Carter, ao se servir de café de uma garrafa térmica. — Começou no dia da posse do presidente e sobe e desce de acordo com o nível de ameaça terrorista. É triste dizer, mas depois de dez anos lutando contra o terror islâmico, parece que me tornei um medidor ambulante de ameaça nacional.
— Em que nível estamos hoje?
— Você não ouviu falar? Nós abandonamos o antigo sistema de cores.
— O que sua pressão está dizendo?
— Vermelho — respondeu Carter secamente. — Vermelho vivo.
— Não é o que diz sua diretora de segurança interna. Ela diz que não há ameaças iminentes.
— Nem sempre ela escreve seus próprios discursos.
— Quem escreve?
— A Casa Branca. E o presidente não gosta de alarmar o povo norte-americano sem necessidade. Além do mais, aumentar o nível de ameaça entraria em conflito com a narrativa conveniente que ronda todas as conversas de Washington hoje em dia.
— Que narrativa é essa?
— A que diz que os Estados Unidos reagiram com sucesso ao 11 de Setembro. A que diz que a Al-Qaeda deixou de ser uma ameaça, principalmente para o país mais poderoso da face da terra. A que diz que chegou a hora de declarar vitória na guerra global ao terror e voltar a atenção para dentro. — Carter franziu a testa. — Meu Deus, eu odeio quando jornalistas usam a palavra "narrativa”. Houve uma época em que os romancistas escreviam narrativas e os jornalistas se contentavam em relatar os fatos. E os fatos são bastante simples. Existe no mundo atual uma força organizada que quer enfraquecer ou até destruir o Ocidente com atos de violência indiscriminada. Essa força e parte de um movimento radical mais abrangente para impor a lei da charia e restaurar o califado islâmico. E nenhum pensamento positivo vai eliminar esse fato.
Os dois se sentaram frente a frente numa mesa retangular. Carter pegou a ponta de um croissant murcho, os pensamentos claramente em outro lugar. Gabriel sabia que era melhor não apressar nada. Numa conversa, Carter acabava divagando um pouco. Chegaria ao essencial, mas haveria vários desvios e digressões ao longo do caminho, e todas se mostrariam úteis para Gabriel no futuro.
— Sob alguns aspectos, eu simpatizo com o desejo do presidente de virar a pagina da história — continuou Carter. — Ele acha que a guerra global ao terrorismo desvia a atenção de objetivos maiores. Pode ser difícil de acreditar, mas eu só o encontrei em duas ocasiões. Ele me chama de Andrew.
— Mas pelo menos ele nos deu esperança.
— Esperança não é uma estratégia aceitável quando vidas estão em risco. Foi a esperança que nos levou ao 11 de Setembro.
— Então quem está dando as cartas dentro do governo?
— James McKenna, consultor do presidente para segurança interna e contraterrorismo, também conhecido como o czar do terrorismo, o que é interessante, pois ele emitiu um decreto banindo a palavra “terrorismo” de todos os nossos pronunciamentos públicos. Chega a desencorajar até mesmo o uso no âmbito particular. E Deus nos livre se mencionarmos a palavra “islâmico” junto. Segundo James McKenna, não estamos engajados numa guerra contra terroristas islâmicos. Estamos engajados num esforço internacional contra um pequeno grupo de extremistas transnacionais. Esses extremistas, por um acaso também muçulmanos, são irritantes, mas não representam uma verdadeira ameaça contra nossa existência ou estilo de vida.
— Diga isso às famílias dos que morreram em Paris, Copenhague e Londres.
— Isso é uma resposta emocional — observou Carter com ironia. — E James McKenna não tolera emoções quando se fala de terrorismo.
— Você quer dizer extremismo — comentou Gabriel.
— Me perdoe — disse Carter. — McKenna é um animal político que se vê como um perito em inteligência. Trabalhou com o Comitê Seleto de Inteligência do Senado nos anos 1990 e veio para Langley logo depois da chegada dos gregos. Ficou só alguns meses, mas isso não o impede de se definir como um veterano da CIA. Ele diz ser um homem da Agência que, de coração, só quer o melhor para a instituição. A verdade é um tanto diferente. Ele odeia a Agência e todos os que trabalham ali. Acima de tudo, ele me detesta.
— Por quê?
— Parece que eu o deixei constrangido durante uma reunião de diretoria. Não me lembro do incidente, mas parece que McKenna nunca conseguiu superar. Além disso, me disseram que McKenna me considera um monstro que fez um mal irreparável para a imagem dos Estados Unidos no mundo. Nada o faria mais feliz do que me ver atrás das grades.
— É bom saber que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está funcionando bem outra vez.
— Na verdade, McKenna acha que está tudo bem agora que ele comanda o espetáculo. Conseguiu até se fazer nomear presidente do nosso Grupo de Interrogatório de Prisioneiros de Alto Valor. Se uma figura importante do terrorismo for capturada em qualquer parte do mundo, sob quaisquer circunstâncias, James McKenna será o encarregado de questioná-la. É muito poder para uma pessoa só, mesmo que essa pessoa seja competente. Mas, infelizmente, James McKenna não se enquadra nessa categoria. Ele é ambicioso, é bem-intencionado, mas não sabe o que está fazendo. E se não tomar cuidado, vai acabar nos matando.
— Parece encantador — observou Gabriel. — Quando vou conhecê-lo?
— Nunca.
— Então por que estou aqui, Adrian?
— Você está aqui por causa de Paris, Copenhague e Londres.
— Quem foi o responsável?
— Uma nova ramificação da Al-Qaeda. Mas receio que eles sejam apoiados por uma pessoa que ocupa um cargo sensível e poderoso na inteligência ocidental.
— Quem?
Carter não respondeu. Sua mão direita estava tremendo.
CONTINUA
Aposentado do serviço secreto israelense, o restaurador de arte Gabriel Allon decide passar um fim de semana em Londres com a esposa, Chiara, Mas seus sentidos estão sempre em alerta, sobretudo depois dos recentes atentados suicidas em Paris e Copenhague.
Em meio à multidão, Gabriel detecta um suspeito. Um homem-bomba. Quando está prestes a atirar para matar, ele é detido pela polícia britânica e acaba presenciando um terrível massacre.
Já de volta a sua casa na Cornualha e ainda assombrado por não ter sido capaz de impedir o ataque, o agente é convocado a comandar um esquema global contra a guerra santa muçulmana. Uma nova rede terrorista se espalha pela Europa e só há uma solução para derrotá-la: infiltrar um agente duplo.
A espiã ideal é uma bilionária saudita que vive de dissimulações transitando entre os mundos islâmico e ocidental. Treinada por Allon ela deve evitar que o terror se dissemine.
Numa trama que espelha as tensões e conflitos da atualidade, Gabriel precisa identificar o inimigo para, enfim, chegar a seu covil: o plácido porém implacável deserto da Arábia Saudita.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/11_RETRATO_DE_UMA_ESPI_.webp
Parte Um
Morte no jardim
1
Península do Lagarto, Cornualha
Foi o Rembrandt que resolveu o mistério de uma vez por todas. Mais tarde nas estranhas lojas onde faziam suas compras e nos pequenos e escuros pubs à beira-mar onde tomavam seus drinques, eles iriam recriminar uns aos outros por não terem percebido os sinais óbvios e dariam boas risadas de algumas de suas mais extravagantes teorias sobre a verdadeira natureza do trabalho dele. Pois nem em seus sonhos mais loucos alguém pensou na possibilidade de o homem taciturno que morava no extremo da enseada de Gunwalloe ser um restaurador de arte, quanto mais um restaurador mundialmente famoso.
Não era o primeiro forasteiro a surgir na Cornualha com um segredo, mas poucos o tinham guardado com tanto zelo e tanta classe. Havia chamado atenção a maneira peculiar com que ele conseguira uma casa para si mesmo e sua linda esposa, muito mais jovem. Depois de escolher o pitoresco chalé do penhasco — sem que ninguém soubesse ?, pagou os doze meses de aluguel adiantado, e um obscuro advogado em Hamburgo cuidou discretamente de toda papelada. Ocupou o chalé duas semanas depois, como se estivesse liderando um ataque a um posto avançado inimigo. Os que o encontraram em suas primeiras incursões no vilarejo ficaram surpresos com sua notável falta de franqueza. Ele parecia não ter nome — pelo menos não um que quisesse compartilhar — nem um país de origem que qualquer um conseguisse identificar. Duncan Reynolds, aposentado havia trinta anos do trabalho na ferrovia e considerado o mais mundano dos moradores de Gunwalloe, o descreveu como “um homem enigmático”, enquanto outras definições variavam entre “reservado” e “insuportavelmente mal-educado”. Mesmo assim, todos concordavam que, para o bem ou para o mal, o pequeno vilarejo no oeste da Cornualha tinha se tornado um lugar muito mais interessante.
Com o passar do tempo, descobriram que o nome dele era Giovanni Rossi e que, como sua esposa, era descendente de italianos. E tudo se tornou ainda estranho quando eles começaram a notar carros do governo cheios de homens rondando as ruas do vilarejo tarde da noite. Depois foram os dois sujeitos que as vezes pescavam na enseada. A opinião de todos é que eram os piores pescadores que já tinham visto. Aliás, a maioria supôs que nem mesmo fossem pescadores. Como costuma acontecer em pequenos vilarejos como Gunwalloe, teve início um intenso debate sobre a verdadeira identidade do recém-chegado e a natureza de seu trabalho — um debate que afinal cessou com a descoberta do Retrato de uma jovem, óleo sobre tela, de 104 por 86 centímetros, de Rembrandt van Rijn.
Nunca se soube exatamente quando o quadro chegou. Achavam que havia sido em meados de janeiro, pois foi quando perceberam uma mudança drástica em sua rotina. Um dia ele estava andando pelos penhascos escarpados da península do Lagarto como se estivesse lutando contra uma consciência culpada; no dia seguinte estava diante de um cavalete na sala de estar, um pincel numa das mãos e uma paleta na outra, ópera tocando tão alto que seu lamento podia ser ouvido do outro lado de Mounts Bay em Marazion. Como seu chalé era muito próximo do Caminho Costeiro, era possível — se alguém parasse no lugar exato e esticasse o pescoço no ângulo certo — vê-lo em seu estúdio. No início, imaginaram que estivesse trabalhando numa pintura de sua autoria. Mas com o lento passar das semanas, ficou claro que ele estava envolvido no ofício conhecido como conservação ou, mais comumente, restauração.
— Que diabo significa isso? — perguntou Malcolm Braithwaite, um pescador de lagosta aposentado que cheirava sempre a mar, certa noite no Lamb and Flag Pub.
— Significa que ele está consertando aquela coisa — respondeu Duncan Reynolds. — Uma pintura é como um ser vivo, respirando. Quando fica velha, esfarela e se enruga. Como você, Malcolm.
— Ouvi dizer que é uma jovem.
— Bonitinha — disse Duncan, assentindo. — Bochechas da cor de maçãs. Com certeza é comível.
— Nós conhecemos o pintor?
— Ainda estamos averiguando.
E averiguaram mesmo. Consultaram muitos livros, buscaram em muitos sites, foram atrás de pessoas que sabiam mais sobre arte do que eles — uma categoria que incluía a maior parte da população do oeste da Cornualha. Finalmente, no início de abril, Dottie Cox, da loja do vilarejo, tomou coragem para simplesmente perguntar à linda jovem italiana sobre a pintura quando ela veio fazer compras na cidade. A mulher se esquivou da pergunta com um sorriso ambíguo e, com a sacola de palha ao ombro, voltou para a enseada, o cabelo exuberante agitado pelo vento da primavera. Minutos depois de sua chegada, o lamento da ópera cessou e as persianas das janelas do chalé se fecharam.
Continuaram fechadas ao longo da semana seguinte, quando o restaurador e a esposa desapareceram de repente. Durante vários dias, os moradores de Gunwalloe temeram que eles não voltassem mais, e alguns se repreenderam por terem bisbilhotado e se intrometido nos negócios particulares do casal. Certa manhã, ao folhear o Times em sua loja, Dottie Cox reparou numa reportagem de Washington sobre a descoberta de um retrato de Rembrandt há muito perdido — um retrato exatamente igual ao que estava no chalé. E assim o mistério foi resolvido.
Por coincidência, na mesma edição do Times, na primeira página, havia um artigo sobre uma série de misteriosas explosões em quatro instalações nucleares iranianas. Ninguém em Gunwalloe imaginou que poderia haver uma conexão. Pelo menos não por enquanto.
Dava para notar que o restaurador era um homem mudado quando voltou da América. Embora continuasse reservado — ainda não era um tipo que você gostaria de encontrar de surpresa no escuro ?, estava claro que um fardo tinha sido retirado de seus ombros. De vez em quando avistavam um sorriso em seu rosto anguloso, e o brilho em seus olhos verdes parecia de uma tonalidade menos defensiva. Até mesmo suas longas caminhadas diárias estavam diferentes. Antes ele pisoteava o caminho como um homem possuído; agora ele parecia pairar acima dos penhascos cobertos pela névoa como um espírito que voltara para casa depois de muito tempo numa terra distante.
— Parece que ele foi liberado de um voto secreto — observou Vera Hobbs, dona da padaria. Mas quando alguém pediu para arriscar um palpite sobre o voto, ou com quem havia se comprometido, ela não respondeu. Como todos os outros no vilarejo, tinha se mostrado uma tola ao tentar adivinhar a ocupação do homem. — Além do mais, é melhor deixá-lo em paz. Senão, da próxima vez que ele e a linda esposa saírem da península, vai ser para sempre.
De fato, enquanto aquele glorioso verão passava, os futuros planos do restaurador se tornaram a principal preocupação de todo o vilarejo. Como o contrato de aluguel do chalé expirava em setembro e não havia nenhuma evidência de que seria renovado, eles se engajaram em convencê-lo a ficar. Decidiram que o restaurador precisava de algo para prendê-lo na costa da Cornualha — um trabalho que exigisse suas habilidades únicas, algo a fazer além de caminhar pelos penhascos. Eles não tinham ideia do que seria exatamente esse trabalho e de quem poderia oferecê-lo, mas confiaram a si mesmos a delicada tarefa de descobrir isso.
Depois de muitas deliberações, foi Dottie Cox quem finalmente surgiu com a ideia do Primeiro Festival Anual de Belas-Artes de Gunwalloe, e o famoso restaurador Giovanni Rossi seria o presidente honorário. Fez a proposta para a esposa do restaurador na manhã seguinte, quando ela apareceu na loja na hora de sempre. A mulher riu por alguns minutos. A oferta era lisonjeira, comentou depois de recuperar a compostura, mas ela achava que não era o tipo de coisa com que o signor Rossi concordaria. A recusa oficial aconteceu pouco depois e a ideia do festival foi por água abaixo. Mas não houve problema: poucos dias depois, eles souberam que o restaurador tinha renovado o contrato por um ano. Mais uma vez, o aluguel foi pago adiantado e o mesmo advogado obscuro de Hamburgo cuidou de toda a papelada.
Assim, a vida voltou ao que poderia ser chamado de normal. Continuaram a ver o restaurador no meio da manhã quando fazia compras com a esposa e também no meio da tarde quando andava pelos penhascos de casaco e boina puxada para a frente. E se ele se esquecia de cumprimentar alguém da forma apropriada, ninguém se ofendia. Se ele se sentia desconfortável com algo, deixavam-no à vontade para fazer do seu jeito. E se um estranho chegasse ao povoado, observavam cada movimento até que ele fosse embora. O restaurador e a esposa poderiam ter vindo da Itália, mas agora pertenciam à Cornualha, e que os céus ajudassem o tolo que tentasse tirá-los de lá outra vez.
No entanto, algumas pessoas da península acreditavam que havia mais naquela história — e um homem em particular achava que sabia o que era. Seu nome era Teddy Sinclair, dono de uma pizzaria muito boa em Helston, com um pendor para teorias da conspiração, grandes e pequenas. Teddy acreditava que os pousos na Lua eram uma farsa, que o 11 de Setembro fora armado pelo governo e que o homem da enseada de Gunwalloe estava escondendo mais que uma habilidade secreta para restaurar pinturas.
Para provar de uma vez por todas que tinha razão, convocou os moradores ao Lamb and Flag na segunda quinta-feira de novembro e revelou um esquema que parecia um pouco a tabela periódica. O propósito era estabelecer, sem a menor sombra de dúvida, que as explosões nas instalações nucleares iranianas eram trabalho de um lendário oficial de inteligência israelense chamado Gabriel Allon — e que o mesmo Gabriel Allon estava agora vivendo em paz em Gunwalloe com o nome de Giovanni Rossi. Quando as gargalhadas finalmente diminuíram, Duncan Reynolds disse que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido desde que um francês decidiu que a Europa devia ter uma moeda em comum. Mas dessa vez Teddy permaneceu firme, o que era o certo a fazer. Teddy poderia estar enganado sobre o pouso na Lua e o 11 de Setembro, mas no que dizia respeito ao homem de enseada de Gunwalloe, sua teoria era perfeitamente verdadeira.
Na manhã seguinte, Dia do Armistício, o vilarejo acordou com a notícia de que o restaurador e a esposa tinham desaparecido. Em pânico. Vera Hobbs correu até a enseada e espiou pelas janelas do chalé. As ferramentas do restaurador estavam espalhadas por uma mesa baixa, e apoiada no cavalete havia a pintura de uma mulher nua deitada num sofá. Vera demorou a perceber que o sofá era idêntico ao da sala de estar e que a mulher era a mesma que ela via todas as manhãs na padaria. Apesar do constrangimento, Vera não conseguiu desviar o olhar, pois era uma das pinturas mais extraordinárias e belas que já vira. Era também um bom sinal, ela pensou enquanto caminhava de volta para o povoado. Uma pintura como aquela não era algo que um homem deixaria para trás ao sair de um lugar. Os dois iriam acabar voltando. E que os céus ajudassem aquele maldito Teddy Sinclair se não voltassem.
2
Paris
A primeira bomba explodiu às 11h46 na avenida Champs-Élysées, em Paris. O diretor do serviço de segurança francês falaria mais tarde que não tinha recebido alerta do ataque iminente, uma afirmação que seus detratores poderiam ter considerado risível se o número de mortos não fosse tão alto. Os sinais de alerta eram claros, disseram. Só um cego ou ignorante não notaria.
Do ponto de vista da Europa, o momento do ataque não poderia ter sido pior. Após décadas de gastos excessivos na área social, a maior parte do continente estava oscilando à beira de um desastre fiscal e monetário. As dívidas subiam, os caixas estavam vazios e seus mimados cidadãos ficavam cada vez mais velhos e desiludidos. Austeridade era a ordem do dia. No clima vigente, nada era considerado sagrado; sistema de saúde, bolsas de estudo, patrocínio artístico e até benefícios de aposentados estavam sofrendo cortes drásticos. Na chamada periferia da Europa, as economias menores estavam tombando num efeito dominó. A Grécia naufragava lentamente no Egeu, a Espanha estava na UTI e o Milagre Irlandês tinha se transformado em nada mais que uma miragem. Nos elegantes salões de Bruxelas, muitos eurocratas ousavam dizer em voz alta o que já fora impensável: que o sonho de uma integração europeia estava morrendo. E em seus momentos mais sombrios, alguns deles imaginavam se a Europa como eles conheciam não estaria morrendo também.
Mais uma crença estava se deteriorando naquele novembro — a convicção de que a Europa poderia absorver um interminável fluxo de imigrantes muçulmanos das antigas colônias enquanto preservava sua cultura e seu modo de vida. O quis tinha começado como um programa temporário para atenuar a falta de emprego após a guerra agora alterava permanentemente todo o continente. Agitados subúrbios muçulmanos rodeavam quase todas as cidades e diversos países pareciam destinados a ter uma população de maioria muçulmana antes do fim do século. Nenhuma autoridade havia se dado ao trabalho de consultar a população nativa da Europa antes de escancarar os portões, e agora, depois de anos de relativa passividade, os europeus começavam a reagir. A Dinamarca havia imposto restrições rigorosas contra casamentos de imigrantes. A França vetara o uso de véu cobrindo todo o rosto em público. E os suíços, que mal toleravam uns aos outros, tinham decidido manter suas pequenas e bem cuidadas cidades livres de desagradáveis minaretes. Os líderes da Inglaterra e da Alemanha haviam declarado que o multiculturalismo, a religião virtual da Europa pós-cristianismo, estava morto. A maioria não se curvaria mais ao desejo da minoria, afirmaram. Nem faria vista grossa ao extremismo que florescia em seu seio. Parecia que o antigo embate da Europa com o Islã tinha entrado numa fase nova e potencialmente perigosa. Eram muitos os que temiam que fosse uma luta desigual. Um dos lados estava velho, cansado, satisfeito consigo mesmo. O outro podia ser levado a um furor assassino por causa de alguns rabiscos num jornal dinamarquês.
Nenhum outro lugar da Europa expunha esses problemas de forma tão clara quanto Clichy-sous-Bois, o inflamável banlieue árabe próximo de Paris. Epicentro dos tumultos mortais que varreram a França em 2005, o subúrbio tinha uma das taxas de desemprego mais elevadas do país, assim como os mais altos índices de crimes violentos. Tão perigoso era Clichy-sous-Bois que até mesmo a polícia francesa hesitava em entrar em seus fervilhantes cortiços — inclusive no cortiço onde morava Nazim Kadir, um argelino de 26 anos, funcionário do renomado restaurante Fouquet, com doze integrantes de sua grande família.
Naquela manhã de novembro, ele saiu de seu apartamento ainda em meio à escuridão para se purificar numa mesquita construída com dinheiro saudita e administrada por um imame treinado na Arábia Saudita que não falava francês. Depois de cumprir o mais importante pilar do Islã, ele tomou o ônibus 601AB até Le Raincy e em seguida embarcou num trem RER até a Gare Saint-Lazare. Lá, fez baldeação para o metrô de Paris e a etapa final de sua viagem. Em nenhum momento ele despertou suspeitas das autoridades ou dos passageiros. Seu casaco pesado escondia um colete com explosivos.
Saiu da estação George V em sua hora habitual, 11h40, e tomou a avenida Champs-Élysées. Os que tiveram a sorte de escapar do inferno que se seguiu diriam mais tarde que não havia nada incomum em sua aparência, embora o dono de uma popular floricultura afirmasse ter notado uma curiosa determinação em seu andar quando ele se aproximou da entrada do restaurante. Entre os que estavam do lado de fora havia um representante do ministro da Justiça, um apresentador de jornal da televisão francesa, uma modelo que estampava a capa da edição atual da Vogue, um mendigo cigano segurando a mão de uma criança e um ruidoso grupo de turistas japoneses. O homem-bomba consultou o relógio pela última vez. Depois abriu o zíper do casaco.
Não se sabe ao certo se houve o tradicional brado de “Allahu Akbar”. Diversos sobreviventes afirmaram ter ouvido; muitos outros juraram que o homem-bomba detonou o dispositivo em silêncio. Quanto ao som da explosão, os que estavam mais próximos não tinham memória alguma, pois os tímpanos foram muito afetados. Todos só conseguiram se lembrar de uma luz branca cegante. Era a luz da morte, disseram. A luz que se vê no momento em que se confronta Deus pela primeira vez.
A bomba em si era uma maravilha de design e construção. Não era o tipo de dispositivo construído com base em manuais da internet ou nos panfletos instrutivos que percorriam as mesquitas salafistas da Europa. Havia sido aperfeiçoada em meio aos conflitos na Palestina e na Mesopotâmia. Recheada de pregos embebidos em veneno para rato — uma prática emprestada dos homens-bomba do Hamas ?, rasgou a multidão como uma serra circular. A explosão foi tão poderosa que a Pirâmide do Louvre, a quase 2,5 quilômetros ao leste, estremeceu com a lufada de ar. Os que estavam mais próximos da bomba foram despedaçados, cortados pela metade ou decapitados, o castigo preferido para os hereges. A mais de 30 metros ainda havia membros perdidos. Nas bordas mais distantes da zona de impacto, a morte aparecia de forma cristalina. Poupados de traumas externos, alguns tinham sido mortos pela onda de choque, que destruiu seus órgãos internos como um tsunami. Deus havia sido misericordioso por deixá-los sangrar em particular.
Os primeiros gendarmes a chegar sentiram-se instantaneamente enojados pelo que viram. Havia membros espalhados pelas ruas ao lado de sapatos, relógios de pulso esmagados e congelados às 11h46 e celulares que tocavam sem parar. Num insulto final, os restos do assassino estavam misturados aos de suas vítimas — menos a cabeça, que parou sobre um caminhão de entregas a cerca de 30 metros de distância, com a expressão do homem-bomba estranhamente serena.
O ministro do Interior francês chegou dez minutos depois da explosão. Ao ver a carnificina, ele declarou: “Bagdá chegou a Paris.” Dezessete minutos depois, chegou aos Jardins de Tivoli, em Copenhague, onde, às 12h03, um segundo homem-bomba se detonou no meio de um grande grupo de crianças que esperavam impacientes para embarcar na montanha-russa do parque. O serviço de segurança dinamarquês logo descobriu que o shahid nascera em Copenhague, frequentara escolas dinamarquesas e era casado com uma dinamarquesa. Pareceu não dar importância ao fato de que os filhos dele frequentassem a mesma escola que suas vítimas.
Para os profissionais de segurança em toda a Europa, um pesadelo se tornava realidade: ataques coordenados e altamente sofisticados que pareciam ter sido planejados e executados por uma mente brilhante. Temiam que os terroristas logo voltassem a atacar, embora faltassem duas informações cruciais. Eles não sabiam onde. E não sabiam quando.
3
St. James, Londres
Mais tarde, o comando de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres gastaria muito tempo e esforço valiosos tentando reconstituir os passos de um certo Gabriel Allon naquela manhã, o lendário porém imprevisível filho da inteligência israelense agora formalmente aposentado e vivendo tranquilamente no Reino Unido. Soube-se, por relatos de seus vizinhos intrometidos, que ele havia partido de seu chalé na Cornualha poucos minutos depois do amanhecer em seu Range Rover, acompanhado por Chiara, sua bela esposa italiana. Sabia-se também, graças ao onipresente sistema de câmeras CCTV da Grã-Bretanha, que o casal tinha chegado ao centro de Londres em tempo quase recorde e que, por um ato de intervenção divina, tinha conseguido encontrar um local para estacionar legalmente em Piccadilly. De lá seguiram a pé até a Masons Yard, um tranquilo pátio retangular de pedras e comércio em St. James e apresentaram-se à porta da Isherwood Fine Arts. De acordo com a câmera no pátio, foram admitidos no recinto às 11h40, horário de Londres, embora Maggie, a medíocre secretária de Isherwood, tenha registrado errado o horário em sua agenda como 11h45.
Desde 1968 detentora de pinturas de Grandes Mestres italianos e holandeses que bem podiam estar em museus, a galeria já havia ocupado um salão na aristocrática New Bond Street, em Mayfair. Empurrado para o exílio em St. James por tipos como Hermès, Burberry e Cartier, Isherwood refugiara-se num decadente armazém de três andares que já fora da loja de departamentos Fortnum & Mason. Entre os fofoqueiros moradores de St. James, a galeria sempre foi considerada um bom teatro — comédias e tragédias, com surpreendentes altos e baixos e um ar de conspiração que sempre a envolvia. Isso se devia principalmente à personalidade de seu dono. Julian Isherwood era amaldiçoado com um defeito quase fatal para um negociante de arte — gostava mais de possuir do que de vender as obras. Ele estava sobrecarregado por um grande inventário do que é carinhosamente chamado, no mercado de arte, de estoque morto — pinturas pelas quais nenhum comprador ofereceria um bom preço. Corriam boatos de que a coleção particular de Isherwood comparava-se à da família real britânica. Até Gabriel, que já restaurava pinturas para a galeria havia mais de trinta anos, tinha apenas uma vaga ideia de todas as posses de Isherwood.
Eles o encontraram em seu escritório — uma figura alta e levemente frágil inclinada sobre uma escrivaninha atulhada de antigos catálogos e monografias. Usava um terno risca de giz e uma gravata lavanda que havia ganhado de presente num encontro na noite anterior. Como de hábito, ele parecia levemente de ressaca, uma aparência que cultivava. Seu olhar estava pesaroso, fixo na televisão.
— Suponho que tenha ouvido as notícias?
Gabriel assentiu lentamente. Ele e Chiara haviam escutado os primeiros boletins no rádio enquanto passavam pelos subúrbios no oeste de Londres. As imagens que apareciam na tela agora eram muito parecidas com as que haviam se formado na mente de Gabriel — os mortos cobertos com plástico, os sobreviventes ensanguentados, os transeuntes com as mãos no rosto, horrorizados. Nada mudava. Ele imaginou que nunca mudaria.
— Eu almocei no Fouquet na semana passada com um cliente — disse Isherwood, passando a mão por suas longas mechas grisalhas. — Nos separamos no mesmo local onde esse maníaco detonou a bomba. E se o cliente tivesse marcado o almoço para hoje? Eu poderia estar...
Isherwood parou de falar. Era uma reação típica depois de um ataque, pensou Gabriel. Os vivos sempre tentam encontrar uma conexão, por mais tênue que seja, com os mortos.
— O homem-bomba de Copenhague matou crianças — continuou Isherwood. — Você poderia me explicar, por favor, por que assassinam crianças inocentes?
— Medo — respondeu Gabriel. — Eles querem que sintamos medo.
— Quando isso vai terminar? — perguntou Isherwood, meneando a cabeça com desgosto. — Em nome de Deus, quando essa loucura vai acabar?
— Você devia saber que não adianta fazer perguntas desse tipo, Julian. — Gabriel baixou a voz e acrescentou: — Afinal, você está assistindo a essa guerra de camarote há muito tempo.
Isherwood deu um sorriso melancólico. Seu nome e perfil genuinamente ingleses ocultavam o fato de que ele não era inglês de verdade. Britânico de nacionalidade e passaporte, sim, porém alemão de nascimento, francês de formação e judeu por religião. Apenas poucos amigos de sua confiança sabiam que Isherwood tinha chegado a Londres como uma criança refugiada em 1942 depois de ser carregado pelos Pireneus cobertos de neve por dois pastores bascos. Ou que seu pai, o renomado comerciante de arte parisiense Samuel Isakowitz, tinha sido assassinado no campo de concentração de Sobibór junto com sua mãe. Apesar de Isherwood ter guardado com cuidado os segredos do passado, a história de sua dramática fuga da Europa ocupada pelos nazistas chegou aos ouvidos do serviço secreto de inteligência de Israel. E em meados dos anos 1970, durante uma onda de ataques terroristas palestinos contra alvos israelenses na Europa, ele foi recrutado como um sayan, um ajudante voluntário. Isherwood tinha apenas uma missão — ajudar a construir e manter a imagem de restaurador de arte de Gabriel Allon.
— Só não se esqueça de uma coisa — observou Isherwood. — Agora você trabalha para mim, não para eles. Isso não é problema seu, queridinho. Não mais. — Apontou o controle remoto para a televisão e as destruições em Paris e Copenhague desapareceram. — Vamos ver algo mais bonito?
O limitado espaço da galeria obrigara Isherwood a organizar seu império verticalmente — depósitos no térreo, escritórios no segundo andar e, no terceiro, uma gloriosa sala de exposição formal no modelo da famosa galeria de Paul Rosenberg em Paris, onde o jovem Julian havia passado muitas horas felizes na infância. Ao entrarem no salão, o sol do meio-dia penetrava pela claraboia, iluminando uma grande pintura a óleo sobre um pedestal coberto por um tecido grosso. Um retrato da Madona e a Criança com Maria Madalena contra um fundo noturno, obviamente da Escola de Veneza. Chiara tirou seu longo casaco de couro e sentou-se num sofá no centro da sala. Gabriel ficou bem em frente à tela, uma das mãos apoiando o queixo, a cabeça inclinada para um lado.
— Onde você o encontrou?
— Numa grande pilha de calcário na costa de Norfolk.
— E a pilha tem um dono?
— Insistem no anonimato. Basta dizer que é descendente de uma família nobre, suas propriedades são enormes e que suas reservas em dinheiro estão diminuindo num ritmo alarmante.
— Por isso pediu que tirasse algumas pinturas de suas mãos para ele se manter sem dívidas por mais um ano.
— Do jeito que ele gasta dinheiro, eu daria mais dois meses no máximo.
— Quanto você pagou por isso?
— Vinte mil.
— Quanta bondade, Julian. — Gabriel olhou para Isherwood e acrescentou: — Imagino que tenha coberto os rastros levando outras pinturas também.
— Seis peças absolutamente sem valor — confessou Isherwood. — Mas se meu palpite sobre essa estiver certo, elas valeram o investimento.
— Procedência? — perguntou Gabriel.
— Foi adquirida no Vêneto por um ancestral do proprietário enquanto fazia uma viagem pela Europa no início do século XIX. Está na família desde essa época.
— Atribuição atual?
— Oficina de Palma Vecchio.
?É mesmo? — perguntou Gabriel, cético. — De acordo com quem?
— De acordo com o perito italiano que intermediou a venda.
— Ele era cego?
— Só de um olho.
Gabriel sorriu. Muitos italianos que assessoravam a aristocracia inglesa durante suas viagens eram charlatães que faziam transações rápidas de cópias sem valor falsamente atribuídas aos mestres de Florença e Veneza. Em algumas ocasiões, se enganavam e vendiam obras legítimas. Isherwood desconfiou que a pintura no pedestal pertencesse à segunda categoria. Assim como Gabriel. Ele passou a ponta do indicador pelo rosto de Madalena, tirando o equivalente a um século de fuligem.
— Onde estava pendurado? Numa mina de carvão?
Tateou o verniz bem descolorido. Provavelmente era composto por uma resina de lentisco ou de pinho dissolvida em terebintina. A remoção seria um doloroso processo envolvendo o uso de uma mistura cuidadosamente regulada de acetona, éter glicólico e solução mineral. Gabriel podia imaginar os horrores que o esperavam quando o velho verniz fosse retirado: arquipélagos de pentimento, um deserto de rachaduras e vincos na superfície, uma quantidade enorme de pinturas escondidas por restaurações anteriores. E havia ainda as condições da tela, que se enrugara dramaticamente com o tempo. A solução era um novo revestimento, um perigoso procedimento envolvendo a aplicação de calor, umidade e pressão. Qualquer restaurador que já tivesse feito um revestimento possuía cicatrizes do trabalho. Gabriel havia destruído grande parte de uma pintura de Domenico Zampieri usando um ferro com um medidor de temperatura defeituoso. A pintura afinal restaurada, embora cristalina para olhos não treinados, demonstrava ser uma colaboração entre Zampieri e o estúdio de Gabriel Allon.
— Então? — perguntou Isherwood outra vez. — Quem pintou essa maldita coisa?
Gabriel exagerou na deliberação.
— Vou precisar de raios X para estabelecer uma atribuição definitiva.
— Vão vir aqui ainda esta tarde para levar os quadros. E nós dois sabemos que você não precisa disso para fazer uma atribuição preliminar. Você é como eu, queridinho. Está envolvido com pinturas há cem mil anos. Sabe tudo quando vê um quadro.
Gabriel pescou uma pequena lupa do bolso do casaco e usou-a para examinar as pinceladas. Inclinando-se um pouco para a frente, pôde sentir o formato familiar de uma pistola Beretta 9 mm pressionando o quadril esquerdo. Depois de trabalhar com a inteligência britânica para sabotar o programa nuclear iraniano, agora tinha permissão para portar uma arma o tempo todo para proteção. Havia recebido também um passaporte inglês, que podia ser usado livremente em viagens ao exterior, desde que não estivesse a trabalho para seu antigo serviço. Mas não havia chance de isso acontecer. A ilustre carreira de Gabriel Allon estava finalmente encerrada. Ele não era mais o anjo vingador de Israel. Era um restaurador de arte empregado pela Isherwood Fine Arts, e a Inglaterra era o seu lar.
— Você tem um palpite — disse Isherwood. — Posso ver nos seus olhos verdes.
— Tenho, sim — respondeu Gabriel, ainda absorvido pelas pinceladas ?, mas antes gostaria de uma segunda opinião.
Olhou para Chiara por cima dos ombros. Ela estava brincando com uma media de seu cabelo revolto, uma expressão levemente pensativa. Na posição em que estava, mostrava uma notáve1 semelhança com a mulher na pintura. O que não era surpresa, pensou Gabriel. Descendente de judeus expulsos da Espanha em 1492, Chiara havia sido criada no antigo gueto de Veneza. Era bem possível que algumas de suas ancestrais tivessem posado para mestres como Bellini, Veronese e Tintoretto.
— O que você acha? — perguntou Gabriel.
Chiara postou-se diante da tela ao lado de Gabriel e estalou a língua, reprovando sua condição lastimável. Embora tivesse estudado o Império Romano na faculdade, havia ajudado Gabriel em inúmeras restaurações e, durante o processo, se tornara uma formidável historiadora de arte.
— É um excelente exemplo de uma Conversação Sagrada, ou Sacra Conversazione, uma cena idílica em que os integrantes estão agrupados em uma paisagem esteticamente agradável. E como qualquer imbecil sabe, Palma Vecchio e considerado o criador dessa forma.
— O que você acha da técnica? — perguntou Isherwood, um advogado conduzindo uma testemunha favorável.
— É boa demais para Palma — respondeu Chiara. — Sua paleta de cores era incomparável, mas ele nunca foi considerado habilidoso, mesmo por seus contemporâneos.
— E a mulher posando como a Madona?
— Se eu não estiver enganada, o que é pouco provável, o nome dela é Violante. Ela aparece em várias pinturas de Palma. Mas na época havia outro famoso pintor em Veneza que dizem que gostava muito dela. O nome era...
— Tiziano Vecellio — completou Isherwood. — Mais conhecido como Ticiano.
— Parabéns, Julian — disse Gabriel, sorrindo. — Você pinçou um Ticiano pela quantia irrisória de 20 mil libras. Agora só precisa encontrar um restaurador capaz de deixá-lo perfeito.
— Quanto? — perguntou Isherwood.
Gabriel franziu a testa.
— Vai dar muito trabalho.
— Quanto? — repetiu Isherwood.
— Duzentos mil.
— Eu poderia arranjar alguém por metade desse preço.
— É verdade. Mas nós dois nos lembramos da última vez que você tentou isso.
— Quando você pode começar?
— Preciso consultar minha agenda antes de me comprometer.
— Eu faço um adiantamento de 100 mil.
— Nesse caso, eu posso começar agora mesmo.
— Vou mandar a tela para a Cornualha depois de amanhã. A questão é: quando você vai me entregar?
Gabriel não respondeu. Olhou para o relógio por um momento, como se não estivesse marcando a hora certa, e depois para a claraboia, pensativo.
Isherwood pousou a mão em seu ombro com delicadeza.
— Não é problema seu, queridinho. Não mais.
4
Covent Garden, Londres
A blitz da polícia perto da Leicester Square parou o tráfego na Charing Cross. Gabriel e Chiara atravessaram uma nuvem de fumaça dos escapamentos dos carros e seguiram pela Cranbourn Street, ladeada por pubs e cafés que atendiam as hordas de turistas que pareciam vagar sem rumo pelo Soho a qualquer hora, independentemente da estação. Gabriel olhava para a tela de seu celular. O número de vítimas em Paris e Copenhague estava subindo.
— Muito ruim? — perguntou Chiara.
— Já são 28 na Champs-Élysées e 37 nos Jardins de Tivoli.
— Eles têm alguma ideia do responsável?
— Ainda é cedo demais, mas os franceses acham que pode ser a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.
— Será que eles conseguiriam fazer dois ataques coordenados como esses?
— Eles têm células por toda a Europa e América do Norte, mas os analistas do King Saul Boulevard sempre foram céticos quanto à capacidade de eles manterem o estilo espetacular de Bin Laden.
O King Saul Boulevard era o endereço do serviço de inteligência israelense no exterior. O nome longo e propositalmente enganoso tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os que trabalhavam lá se referiam ao lugar como o Escritório e nada mais. Até mesmo agentes aposentados como Gabriel e Chiara nunca pronunciavam o verdadeiro nome da organização.
— Não me parece coisa do Bin Laden — comentou Chiara. — Parece mais...
— Bagdá — completou Gabriel. — Essa quantidade de vítimas é alta para ataques ao ar livre. A impressão é que os construtores das bombas sabiam o que estavam fazendo. Se nós tivermos sorte, ele deixou sua assinatura no local.
— Nós? — perguntou Chiara.
Gabriel guardou o telefone no bolso sem falar nada. Os dois tinham chegado ao caótico trânsito no fim da Cranbourn Street. Havia dois restaurantes italianos: o Spaghetti House e o Bella Italia. Ele olhou para Chiara e pediu que escolhesse.
— Eu não vou começar meu longo fim de semana em Londres no Bella Italia — disse Chiara franzindo a testa. — Você me prometeu um almoço decente.
— Na minha opinião, existem lugares bem piores que o Bella Italia em Londres.
— Não se você nasceu em Veneza.
Gabriel sorriu.
— Nós temos uma reserva num lugar adorável chamado Orso, na Wellington Street. É bem italiano. Achei que poderíamos passar por Covent Garden no caminho.
— Você ainda quer fazer isso?
— Nós precisamos comer, e a caminhada vai nos fazer bem.
Passaram depressa pela rotatória e entraram na Garrick Street, onde dois policiais de casacos verde-limão interrogavam o motorista de aparência árabe de uma van branca. A ansiedade dos pedestres era quase palpável. Em alguns rostos Gabriel via um medo genuíno; em outros, uma determinação inflexível de seguir em frente como sempre. Chiara segurava a mão dele com força enquanto os dois passavam pelas vitrines das lojas. Ela esperava por aquele fim de semana havia muito tempo e estava determinada a não deixar que as notícias de Paris e de Copenhague o estragassem.
— Você foi um pouco duro com Julian — falou ela. — Duzentos mil é o dobro do que você cobra normalmente.
— É um Ticiano, Chiara. Julian vai se dar muito bem.
— O mínimo que você podia fazer era aceitar o convite dele para um almoço comemorativo.
— Eu não queria almoçar com Julian. Queria almoçar com você.
— Ele queria discutir uma ideia conosco.
— Que tipo de ideia?
— Uma sociedade. Ele quer que sejamos sócios na galeria.
Gabriel diminuiu o passo e parou.
— Quero deixar uma coisa o mais claro possível: não tenho absolutamente nenhum interesse em me tornar sócio de uma empresa que só de vez em quando está no azul, como acontece com a Isherwood Fine Arts.
— Por que não?
— Por uma razão — respondeu ele, voltando a andar. — Nós não temos ideia de como tocar um negócio.
— Você já tocou vários negócios de sucesso no passado.
— Isso é fácil quando se tem o apoio de um serviço de inteligência.
— Você não está se dando o devido crédito, Gabriel. O que pode ser tão difícil em dirigir uma galeria de arte?
— Pode ser incrivelmente difícil. E como Julian já provou muitas vezes, é fácil se envolver em problemas. Até as galerias mais bem-sucedidas podem afundar-se fizerem uma aposta errada. — Gabriel olhou de soslaio e perguntou: — Quando você e Julian tramaram esse pequeno arranjo?
— Você fala como se estivéssemos conspirando pelas suas costas.
— É porque estavam mesmo.
Com um sorriso, Chiara acabou concordando.
— Foi quando estávamos em Washington na apresentação do Rembrandt. Julian me puxou de lado e disse que estava começando a pensar em se aposentar. Ele quer que a galeria fique nas mãos de alguém em quem confie.
— Julian nunca vai se aposentar.
— Eu não teria tanta certeza.
— Onde eu estava enquanto esse negócio era tramado?
— Acho que você tinha saído para uma conversa particular com uma repórter investigativa inglesa.
— Por que você não me falou nada disso até agora?
— Porque Julian pediu.
Gabriel ficou em silêncio, deixando claro que Chiara tinha violado um dos princípios fundamentais do casamento deles. Segredos, mesmo os mais triviais, eram proibidos.
— Desculpe, Gabriel. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas Julian foi inflexível. Sabia que o seu primeiro instinto seria dizer não.
— Ele poderia vender a galeria para Oliver Dimbleby num piscar de olhos e se aposentar numa ilha no Caribe.
— Você já pensou no que isso significaria para nós? Você quer mesmo restaurar pinturas para Oliver Dimbleby? Ou para Giles Pittaway? Ou acha que poderia arranjar algum trabalho freelance com a Tate ou a National Gallery?
— Parece que você e Julian já pensaram em tudo.
— Pensamos mesmo.
— Então talvez você deva ser sócia de Julian.
— Só se você restaurar pinturas para mim.
Gabriel percebeu que Chiara estava falando sério.
— Dirigir uma galeria não é só frequentar leilões glamorosos ou ir a longos almoços em restaurantes de luxo na Jermyn Street. E também não é algo que se possa considerar um passatempo.
— Obrigada por me considerar uma amadora.
— Não foi o que eu quis dizer, você sabe disso.
— Você não é o único que se aposentou do Escritório, Gabriel. Eu também me aposentei. Mas, ao contrário de você, eu não tenho Grandes Mestres danificados para ocupar o meu tempo.
— Então você quer virar uma negociante de arte? Vai passar os dias fuçando um monte de pinturas medíocres em busca de outro Ticiano perdido. E a probabilidade é de nunca encontrar um.
— Não me parece tão mau. — Chiara olhou ao redor. — E isso significa que poderíamos morar aqui.
— Achei que você gostava da Cornualha.
— Adoro. Mas não no inverno.
Gabriel ficou em silêncio. Ele vinha se preparando para uma conversa como aquela já havia algum tempo.
— Achei que nós iríamos ter um filho — falou por fim.
— Eu também — concordou Chiara. — Mas estou começando a achar que não vai ser possível. Nada que eu tento parece funcionar.
Havia um tom de resignação na voz dela que Gabriel nunca tinha ouvido.
— Então vamos continuar tentando — disse.
— Não quero que você se sinta desapontado. Foi aquela gravidez interrompida. Para mim, vai ser muito mais difícil ficar grávida outra vez. Quem sabe? Talvez uma mudança de cenário possa ajudar. Pense nisso — falou, apertando a mão dele. — É só o que estou pedindo, querido. Pode ser que gostemos de morar aqui.
Na ampla piazza do mercado de Covent Garden, um comediante de rua orientava um casal de turistas alemães a ficar numa pose que sugeria intimidade sexual, sem que eles percebessem. Chiara encostou-se numa pilastra para assistir à apresentação enquanto Gabriel fechou a cara, os olhos examinando a multidão reunida na praça e junto à mureta do restaurante Punch and Judy acima. Não estava zangado com Chiara, mas consigo mesmo. Durante anos, a relação entre os dois havia girado em torno de Gabriel e seu trabalho. Nunca lhe havia ocorrido que Chiara também pudesse ter suas próprias aspirações profissionais. Se eles fossem um casal normal, ele poderia ter considerado a proposta. Mas eles não eram um casal normal. Eram ex-agentes de um dos serviços de inteligência mais renomados do mundo. E tinham um passado sangrento demais para levar uma vida pública.
Quando se dirigiam à arrojada arcada de vidro do mercado, toda a tensão da discussão logo se dissipou. Até mesmo Gabriel, que detestava fazer compras, sentia prazer em perambular pelas tendas e lojas coloridas com Chiara a seu lado. Inebriado pelo aroma dos cabelos dela, ele imaginou a tarde que tinham pela frente — um almoço tranquilo seguido por uma agradável caminhada de volta ao hotel. Lá, na sombra fresca do quarto, Gabriel despiria Chiara devagar e faria amor na enorme cama. Por um momento, quase foi possível para Gabriel imaginar seu passado sendo apagado e suas façanhas se tornando meras lendas que juntavam poeira nos arquivos do King Saul Boulevard. Apenas o estado de alerta permanecia — a vigilância instintiva e inquietante não o deixava se sentir completamente em paz em público. Forçava-o a fazer um esboço mental de todos os rostos que passavam no mercado lotado. E na Wellington Street, quando os dois se aproximavam do restaurante, ele parou de repente. Chiara puxou-o pelo braço, de um jeito brincalhão. Depois olhou diretamente nos olhos dele e percebeu que havia algo errado.
— Parece que você viu um fantasma.
— Não um fantasma. Um homem morto.
— Onde?
Gabriel apontou com a cabeça uma figura que vestia um sobretudo de lã cinzento.
— Logo ali.
5
Covent Garden, Londres
Existem indicadores comuns reveladores de homens-bomba. Os lábios podem se movimentar involuntariamente em suas últimas preces. O olhar pode ser vidrado e distante. E o rosto às vezes pode estar pálido demais, prova de que uma barba desgrenhada foi raspada às pressas durante os preparativos para uma missão. O homem não exibia nenhuma dessas características. Os lábios estavam franzidos. O olhar estava claro e focado. E o rosto tinha uma coloração uniforme. Ele vinha se barbeando com regularidade havia algum tempo.
O que o diferenciava era a quantidade de suor escorrendo da costeleta esquerda. Por que ele suava tanto no frescor de uma tarde de outono? Se estava com calor, por que as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo? E por que o sobretudo — maior do que deveria ser, na opinião de Gabriel — estava todo abotoado? E também havia o andar. Mesmo um homem em forma, de uns 30 anos, terá dificuldade de andar normalmente quando está carregado com mais de 20 quilos de explosivos, pregos e bolas de aço. Quando passou caminhando por Gabriel na Wellington Street, ele parecia ereto demais, como se tentasse compensar o peso em torno de seu corpo. O tecido das calças de gabardine vibrava com cada passo, como se as juntas dos quadris e dos joelhos estremecessem sob o peso da bomba. Era possível que o jovem suando com um casaco exagerado fosse um inocente que simplesmente precisava fazer suas compras do dia, mas Gabriel desconfiava que não. Ele acreditava que o homem andando alguns passos à frente representava o grand finale de um dia de terror continental. Primeiro Paris, depois Copenhague, e agora Londres.
Gabriel mandou Chiara se abrigar no restaurante e atravessou rapidamente a rua. Seguiu o homem por quase 100 metros, observando quando ele virou a esquina na entrada do mercado de Covent Garden. Havia dois cafés no lado leste da piazza, ambos cheios de clientes almoçando. Em pé entre os cafés, numa réstia de sol, havia três policiais uniformizados. Nenhum deles prestou atenção ao homem que entrou.
Agora Gabriel tinha uma decisão a tomar. A atitude mais óbvia seria contar aos policiais sobre sua suspeita — óbvia, pensou, mas não necessariamente a melhor. Provavelmente a polícia reagiria à abordagem de Gabriel puxando-o de lado para um interrogatório, perdendo muitos segundos preciosos. Pior ainda, eles poderiam confrontar o homem, uma manobra que com quase toda certeza o faria provocar a explosão. Ainda que praticamente todos os policiais londrinos tivessem treinamento básico em táticas antiterroristas, poucos tinham a experiência ou o poder de fogo necessários para abater um jihadista disposto a se martirizar. Gabriel dispunha das duas coisas e já havia agido contra, homens-bomba. Passou pelos três policiais e entrou no mercado.
O homem estava agora a quase 20 metros, caminhando por uma passarela mais alta no recinto principal. Gabriel calculou que ele portava explosivos e estilhaços suficientes para matar todo mundo num raio de quase 25 metros. O procedimento recomendado era que Gabriel permanecesse fora da zona letal da explosão até chegar a hora de agir. O ambiente, porém, o compelia a diminuir a distância e se colocar num perigo maior. Um tiro na cabeça a 23 metros era difícil em quaisquer circunstâncias, mesmo para um atirador com a perícia de Gabriel Allon. Num mercado cheio de gente, seria quase impossível.
Gabriel sentiu seu celular vibrando suavemente no bolso do casaco. Ignorando-o, observou quando o homem se deteve no parapeito da passarela para consultar o relógio. Gabriel tomou nota do fato de estar no pulso esquerdo; logo, o botão do detonador devia estar na mão direita. Mas por que um homem-bomba interromperia seu caminho para ver as horas? A explicação mais plausível era que recebera ordens de terminar com sua vida e as das muitas pessoas inocentes num momento preciso. Gabriel desconfiou que havia algum tipo de simbolismo envolvido. Em geral havia. Os terroristas da Al-Qaeda e de suas ramificações adoravam simbolismos, em especial quando envolviam números.
Agora Gabriel estava próximo o bastante para ver os olhos do homem. Estavam claros e focados, um sinal animador. Significava que ele ainda estava pensando na missão e não nas delícias carnais que o esperavam no Paraíso. Quando começasse a sonhar com as houris perfumadas de olhos escuros, isso transpareceria em sua expressão. E nesse momento Gabriel teria que fazer uma escolha. Por enquanto, ele precisava que o homem continuasse neste mundo um pouco mais.
O terrorista consultou o relógio mais uma vez. Gabriel deu uma olhada rápida para o próprio relógio: 14h34. Passou os números pelo banco de dados de sua memória em busca de alguma conexão. Somou-os, subtraiu-os, multiplicou-os, inverteu-os e mudou sua ordem. Depois pensou sobre os dois ataques anteriores. O primeiro acontecera às 11h46, o segundo, às 12h03. Era possível que os números representassem anos do calendário gregoriano, mas Gabriel não viu nenhuma relação.
Apagou mentalmente as horas dos ataques e se concentrou apenas nos minutos. Quarenta e seis minutos, três minutos. Foi quando entendeu. Os horários eram tão conhecidos para ele quanto as pinceladas de Ticiano. Quarenta e seis minutos, três minutos. Eram dois dos mais famosos momentos da história do terrorismo — os minutos exatos em que os dois aviões sequestrados atingiram o World Trade Center no dia 11 de setembro. O voo 11 da American Airlines chocou-se contra a Torre Norte às 8h46. O voo 175 da United Airlines bateu na Torre Sul às 9h03. O terceiro avião a atingir seu alvo naquela manhã foi o do voo 77 da American Airlines, que foi atirado contra a face oeste do Pentágono. Às 9h37 na hora local, e 14h37 em Londres.
Gabriel consultou seu relógio digital. Haviam passado alguns segundos das 14h35. Erguendo os olhos, viu que o homem estava outra vez se movendo a passos rápidos, as mãos nos bolsos, parecendo ignorar as pessoas ao redor. Quando Gabriel começou a segui-lo, seu celular vibrou outra vez. Dessa vez ele atendeu e ouviu a voz de Chiara. Informou-a que um homem-bomba estava prestes a se explodir em Covent Garden e a instruiu a entrar em contato com o MI5. Depois guardou o telefone no bolso e começou a se aproximar do alvo. Temia que muitas pessoas inocentes estivessem prestes a morrer. E imaginava se poderia fazer algo para impedir.
6
Covent Garden, Londres
Havia outra possibilidade, é claro. Talvez o homem alguns passos à frente não tivesse nada sob o casaco a não ser alguns quilos a mais. Era inevitável se lembrar do caso de Jean Charles de Menezes, o eletricista brasileiro morto a tiros pela policia britânica na estação de Stockwell de Londres depois de ser confundido com um procurado militante islâmico. Os promotores ingleses se recusaram a fazer acusações contra os policiais envolvidos, uma decisão que provocou indignação entre os ativistas de direitos humanos e libertários civis no mundo todo. Gabriel sabia que, sob circunstâncias semelhantes, ele não poderia esperar o mesmo tratamento. Isso significava que ele teria que estar certo antes de agir. Estava confiante em relação a um ponto. Acreditava que o homem-bomba, como um pintor, assinaria o seu nome antes de apertar o botão do detonador. Iria querer que as vítimas soubessem que suas mortes iminentes não eram sem propósito, que estavam sendo sacrificadas em nome do jihad e em nome de Alá.
No momento, porém, Gabriel não tinha escolha a não ser segui-lo e esperar. Devagar, com muito cuidado, ele diminuiu a distância, fazendo pequenos ajustes em seu trajeto para manter uma linha de tiro desimpedida. Os olhos estavam focados na parte inferior do crânio do homem. Poucos centímetros abaixo estava o tálamo, região do cérebro essencial para o controle motor e sensorial do resto do corpo. Se destruísse o tálamo com uma rajada de balas, o homem-bomba não teria como apertar o botão do detonador. Se errasse o tálamo, era possível que o mártir levasse a cabo sua missão ao agonizar. Gabriel era um dos poucos homens no mundo que tinha matado um terrorista antes que ele consumasse seu ataque. Sabia que a diferença entre o sucesso e o fracasso era de uma fração de segundo. Sucesso significava que só um morreria. Fracasso resultaria na morte de muitas pessoas inocentes, talvez até mesmo dele próprio.
O homem passou pela porta que dava na piazza. Estava bem mais movimentada agora. Um violoncelista tocava uma suíte de Bach. Um imitador de Jimi Hendrix segurava uma guitarra ligada a um amplificador. Um homem bem-vestido em cima de um caixote de madeira gritava algo sobre Deus e a guerra do Iraque. O homem-bomba andou direto para o centro da praça, onde a apresentação do comediante se tornara ainda mais pervertida, para o deleite da multidão de espectadores. Usando técnicas aprendidas na juventude, Gabriel mentalmente silenciou os ruídos ao redor um por um, começando pela suave melodia da suíte de Bach e terminando com as ruidosas gargalhadas da multidão. Em seguida, olhou pela última vez para o relógio e esperou que o homem assinasse seu nome.
Eram 14h36. O terrorista tinha chegado aos limites da multidão. Parou por alguns segundos, como se buscasse um ponto fraco para adentrar, depois abriu caminho à força entre duas mulheres espantadas. Gabriel tomou outro rumo alguns metros à direita do homem, passando quase despercebido em meio a uma família de turistas norte-americanos. A multidão estava muito concentrada, e não dispersa, o que representou outro dilema para Gabriel. A munição ideal para uma situação como aquela seria uma bala de ponta oca, que infligiria maiores danos aos tecidos do alvo e reduziria substancialmente as baixas colaterais provenientes de uma penetração mais profunda. Mas a pistola Beretta de Gabriel estava carregada com balas normais Parabellum de 9 mm. Por essa razão, ele teria que se posicionar para disparar numa trajetória extrema de cima para baixo. De outra forma, havia uma grande probabilidade de matar um inocente na tentativa de salvá-lo.
O homem-bomba atravessou a barreira de pessoas e agora se dirigia diretamente para o comediante. Os olhos tinham assumido a expressão vidrada e distante. Os lábios se moviam. As preces finais... O comediante supôs que o homem queria participar da performance. Sorrindo, deu dois passos em sua direção, mas estacou quando viu as mãos dele emergirem dos bolsos do casaco. A mão esquerda estava ligeiramente aberta. A direita estava fechada, com o polegar levantado em ângulo reto. Ainda assim, Gabriel hesitou. E se não fosse um detonador? E se fosse apenas uma caneta? Ele precisava ter certeza. Declare suas intenções, pensou. Assine o seu nome.
O terrorista virou-se de frente para o mercado. Os clientes que olhavam da varanda do Punch and Judy riram nervosos, assim como alguns poucos espectadores na piazza. Em sua mente, Gabriel silenciou as risadas e congelou a imagem. A cena parecia uma pintura de Canaletto. As figuras estavam imóveis; somente Gabriel, o restaurador, era livre para se movimentar entre elas. Passou pela primeira fileira de espectadores e fixou o olhar no ponto na base do crânio. Não seria possível disparar num ângulo descendente. Mas havia outra solução para evitar baixas colaterais: uma linha de fogo de baixo para cima faria com que a bala passasse por cima da cabeça dos espectadores até atingir a fachada de um edifício próximo. Imaginou a manobra em sequência — sacar a arma com as mãos entrelaçadas, agachar, disparar, avançar — e esperou o homem-bomba assinar seu nome.
O silêncio na cabeça de Gabriel foi rompido por um grito bêbado na sacada do Punch and Judy — alguém mandando o mártir sair da frente e deixar a apresentação continuar. O terrorista reagiu erguendo os braços acima da cabeça como um maratonista rompendo a fita da linha de chegada. No lado interno do pulso direito havia um fino fio ligando o botão do detonador aos explosivos. Era toda a prova de que Gabriel precisava. Pegou sua Beretta de dentro do paletó. Em seguida, enquanto o terrorista gritava “Allahu Akbar”. Gabriel caiu sobre um joelho e ergueu a arma em direção ao alvo. Surpreendentemente, a linha de tiro estava livre, sem chance de danos secundários. Quando Gabriel ia apertar o gatilho, duas mãos empurraram com força a arma para baixo e o peso de dois homens o lançou contra o chão.
No instante em que bateu nas pedras da rua, ouviu um som retumbante e sentiu uma lufada de ar incandescente acima dele. Por alguns segundos, Gabriel não ouviu mais nada. Depois os gritos começaram, seguidos por uma ária de lamentos. Gabriel ergueu a cabeça e viu um pesadelo. Eram pedaços de corpos e sangue. Era Bagdá no Tâmisa.
7
New Scotland Yard, Londres
Existem poucos pecados mais graves para um profissional de inteligência, mesmo aposentado, do que cair sob custódia de autoridades locais. Como havia transitado por um longo tempo numa região entre o mundo público e o secreto, Gabriel tinha passado por isso com mais frequência do que a maioria de seus companheiros de viagem. A experiência lhe ensinou que havia um ritual estabelecido para tais ocasiões, que deveria ser concluído antes que a alta cúpula pudesse intervir. Ele conhecia bem o procedimento. Felizmente, seus anfitriões também.
Gabriel tinha sido detido minutos depois do ataque e conduzido em alta velocidade para a New Scotland Yard, o quartel-general da Polícia Metropolitana de Londres. Na chegada, foi levado a uma sala de interrogatório sem janelas, onde trataram de seus inúmeros cortes e escoriações e lhe serviram uma xícara de chá, que deixou intocada. Um superintendente do Comando de Contraterrorismo chegou logo depois. Examinou seus documentos de identidade com o ceticismo que mereciam e em seguida tentou determinar a sequência de eventos que levaram o “Sr. Rossi” a sacar uma arma de fogo em Covent Garden pouco antes de um terrorista se explodir. Gabriel sentia-se tentado a fazer algumas perguntas. Por exemplo, gostaria de saber por que dois especialistas em armas de fogo da divisão SO19 da polícia preferiram neutralizá-lo, e não um terrorista óbvio prestes a cometer um assassinato em massa. Em vez disso, respondeu a todas as perguntas do detetive recitando um número telefônico:
— Ligue para lá ? dizia, indicando o bloco de notas onde o detetive havia escrito o número. ? É um edifício grande não muito longe daqui. Você vai reconhecer o nome do homem que atender. Ou pelo menos deveria reconhecer.
Gabriel não soube a identidade do policial que afinal discou o número nem soube exatamente quando a ligação foi feita. Soube apenas que sua estada na New Scotland Yard durou bem mais do que o necessário. Já era quase meia-noite quando o detetive o escoltou até uma série de corredores bem iluminados em direção à entrada do prédio. Na mão esquerda ele levava um envelope de papel pardo com os pertences de Gabriel. A julgar pelo tamanho e a forma, não continha uma pistola Beretta 9 mm.
Do lado de fora, o clima agradável da tarde dera lugar a uma chuva forte. Aguardando embaixo do pórtico de vidro, com o motor ligado, encontrava-se uma limusine Jaguar escura. Gabriel pegou o envelope com o detetive e abriu a porta traseira do carro. Dentro, com as pernas cruzadas elegantemente, estava um homem que parecia ter sido projetado para a tarefa. Usava um impecável terno grafite e uma gravata prateada combinando com os cabelos. Normalmente, seus olhos claros eram inescrutáveis, mas agora revelavam o estresse de uma noite longa e difícil. Como vice-diretor do MI5, Graham Seymour carregava a pesada responsabilidade de proteger o território britânico das forças do extremismo do Islã. E mais uma vez, apesar de todos os esforços do departamento, o Islã tinha vencido.
Embora os dois homens tivessem um longo histórico profissional, Gabriel pouco sabia da vida pessoal de Graham Seymour. Sabia que Seymour era casado com uma mulher chamada Helen, que ele adorava, e que tinha um filho que era gerente da filial de Nova York de uma importante instituição financeira inglesa. O restante das informações sobre os negócios particulares de Seymour fora tirado dos volumosos arquivos do Escritório. Ele era uma relíquia do glorioso passado britânico, um produto da classe média alta que havia sido criado, educado e programado para ser líder. Acreditava em Deus, mas não com muito fervor. Acreditava em seu país, mas não era cego às suas falhas. Jogava bem golfe e outros esportes, mas dispunha-se a perder para um oponente inferior a serviço de uma causa valiosa. Era um homem admirado e, o mais importante, um homem confiável — um raro atributo entre espiões e agentes secretos.
No entanto, Graham Seymour não era um homem de paciência ilimitada, como revelava sua expressão soturna quando o Jaguar se pôs em movimento. Retirou um exemplar do Telegraph da manhã seguinte do bolso do banco da frente e o jogou no colo de Gabriel. A manchete dizia reinado de terror. Abaixo viam-se três fotografias mostrando o resultado dos três ataques. Gabriel examinou a foto de Covent Garden em busca de algum sinal de sua presença, mas havia apenas vítimas. Era a imagem de um fracasso, pensou — dezoito pessoas mortas, dezenas gravemente feridas, inclusive um dos policiais que o imobilizara. E tudo por causa do tiro que não permitiram que Gabriel disparasse.
— Um dia terrível — disse Seymour demonstrando cansaço. — Imagino que a única maneira de piorar é se a imprensa descobrir sobre você. Quando as teorias da conspiração forem concluídas, o mundo islâmico vai acreditar que os ataques foram planejados e executados pelo Escritório.
— Pode ter certeza de que isso já está acontecendo. — Gabriel devolveu o jornal e perguntou: — Onde está minha esposa?
— Está no seu hotel. Há uma equipe minha no saguão. — Seymour fez uma pausa. — Desnecessário dizer que ela não está muito satisfeita com você.
— Como você sabe? — Os ouvidos de Gabriel ainda zuniam por causa da concussão provocada pela explosão. Fechou os olhos e se perguntou como as equipes da SO19 conseguiram localizá-lo tão rapidamente.
— Como você deve imaginar, nós temos um amplo suporte técnico à nossa disposição.
— Como meu celular e sua rede de câmeras CCTV?
— Exato — concordou Seymour. — Conseguimos localizar você poucos segundos depois de receber a ligação de Chiara. Encaminhamos a informação para o Comando Dourado, o centro operacional de crises da Polícia Metropolitana, que imediatamente despachou duas equipes de especialistas em armas de fogo.
— Eles deviam estar nas imediações.
— Estavam — confirmou Seymour. — Estamos em alerta vermelho depois dos ataques em Paris e Copenhague. Várias equipes já estavam mobilizadas no distrito financeiro e em locais onde costuma haver aglomerações de turistas.
Então por que eles me atacaram e não o homem-bomba?
— Porque nem a Scotland Yard nem o Serviço de Segurança queriam uma reprise do fiasco Menezes. Em consequência da morte dele, inúmeros procedimentos e diretrizes foram implementados para evitar que algo do gênero se repita. Basta dizer que um único alerta não atende às disposições de uma ação letal, nem mesmo se por acaso a fonte é Gabriel Allon.
— E por causa disso dezoito pessoas foram mortas?
— E se ele não fosse um terrorista? E se fosse apenas um ator de rua ou alguém com problemas mentais? Nós teríamos sido crucificados.
— Mas não era um ator de rua nem um maluco, Graham. Era um homem-bomba. E eu disse isso a você.
— Como você sabia?
— Só faltava ele estar com um cartaz avisando.
— Era assim tão óbvio?
Gabriel listou os atributos que levantaram suas suspeitas e depois explicou os cálculos que o levaram a concluir que a explosão seria às 14h37. Seymour meneou a cabeça devagar.
— Já perdi a conta de quantas horas gastamos treinando nossos policiais para localizar possíveis terroristas, sem mencionar os milhões de libras que aplicamos no software de identificação de comportamento da CCTV. Ainda assim um homem-bomba do jihad andou por Covent Garden sem ninguém perceber. Ninguém além de você, é claro.
Seymour caiu num silêncio profundo. O automóvel seguia para o norte ao longo da Regent Street, intensamente iluminada. Cansado, Gabriel apoiou a cabeça no vidro da janela e perguntou se o terrorista havia sido identificado.
— O nome dele é Farid Khan. Os pais imigraram para o Reino Unido vindos de Lahore no fim dos anos 1970, mas Farid nasceu em Londres. Em Stepney Green, para ser exato. Como muitos muçulmanos ingleses de sua geração, ele rejeitou as convicções religiosas moderadas e apolíticas dos pais e se tornou islamita. No fim dos anos 1990, ele passava muito tempo na mesquita de East London em Whitchapel Road. Em pouco tempo se tornou integrante de destaque dos grupos radicais de Hizb ut-Tahrir e Al-Muhajiroun.
— Está parecendo que vocês tinham a ficha dele.
— Nós tínhamos ? concordou Seymour mas não pelas razões que você poderia imaginar. Veja bem, Farid Khan era um raio de sol, nossa esperança para o futuro. Ou ao menos foi o que pensamos.
— Você achou que ele poderia trabalhar para o outro lado?
— Seymour assentiu.
— Pouco depois do 11 de Setembro, Farid entrou para um grupo chamado New Beginnings. Seu objetivo era desprogramar militantes e reintegrá-los à opinião pública vigente do Islã e da Inglaterra. Farid era considerado um de seus grandes sucessos. Raspou a barba. Cortou relacionamentos com os velhos amigos. Formou-se entre os primeiros da turma na King’s College e arranjou um emprego bem pago numa pequena agência de publicidade em Londres. Algumas semanas atrás, ficou noivo de uma mulher de sua antiga vizinhança.
— Aí você o removeu de sua lista.
— De certa forma. Agora parece que foi tudo uma inteligente dissimulação. Farid era uma bomba-relógio prestes a explodir.
— Alguma ideia de quem o ativou?
— Estamos examinando os registros dos telefones e computadores neste exato momento, bem como o vídeo suicida que ele deixou. Está claro que o ataque está ligado aos atentados em Paris e Copenhague. Se foram coordenados pelos remanescentes da central da Al-Qaeda ou por uma nova rede é agora uma questão de intensos debates. Seja qual for o caso, não é da sua conta. Seu papel neste caso está oficialmente encerrado.
O Jaguar atravessou a Cavendish Place e parou na entrada do Hotel Langham.
— Eu gostaria de ter minha arma de volta.
— Vou ver o que posso fazer ? disse Seymour.
— Quanto tempo vou ter que ficar aqui?
— A Scotland Yard gostaria que você ficasse em Londres pelo resto do fim de semana. Na segunda de manhã você pode voltar para o seu chalé à beira-mar e só ficar pensando no seu Ticiano.
— Como você sabe do Ticiano?
— Eu sei de tudo. Tudo menos como evitar que um muçulmano nascido na Inglaterra cometa um assassinato em massa em Covent Garden.
— Eu poderia ter impedido isso, Graham.
— Poderia ? concordou Seymour com frieza. ? E teríamos retribuído o favor fazendo você em pedaços.
Gabriel desceu do carro sem falar mais nada.
— “Seu papel neste caso está oficialmente encerrado” — murmurou ao entrar no saguão. Repetiu isso inúmeras vezes, como um mantra.
8
Nova York
Naquela mesma noite, o outro universo habitado por Gabriel Allon também estava agitado, mas por razões muito diferentes. Era a temporada de leilões do outono em Nova York, uma época de ansiedade em que o mundo da arte, em todas as suas loucuras e excessos, reúne-se durante duas semanas num frenesi de compras e vendas. Como Nicholas Lovegrove gostava de dizer, era uma das poucas ocasiões em que ser muito rico não era algo considerado fora de moda. No entanto, era também um negócio mortalmente sério. Grandes coleções seriam montadas, grandes fortunas seriam construídas e perdidas. Uma só transação poderia deslanchar uma carreira brilhante. Mas também poderia destruí-la.
A reputação profissional de Lovegrove, como a de Gabriel Allon, estava firmemente estabelecida naquela noite. Nascido e educado na Inglaterra, era o consultor de arte mais procurado no mundo — um homem tão poderoso que podia influenciar o mercado apenas fazendo uma observação casual ou torcendo o elegante nariz. Seu conhecimento de arte era lendário, e também o tamanho de sua conta bancária. Lovegrove não precisava mais garimpar clientes; eles o procuravam, em geral de joelhos ou com promessas de altas comissões. O segredo do sucesso de Lovegrove estava no olhar infalível e na discrição. Lovegrove nunca traiu a confiança de ninguém; nunca fez fofocas ou se envolveu em negócios escusos. Era a ave mais rara no negócio de artes — um homem de palavra.
Apesar da reputação, Lovegrove estava acometido por seu habitual nervosismo pré-leilão enquanto se apressava pela Sexta Avenida. Depois de anos de preços em queda e vendas anêmicas, o mercado de arte começava, afinal, a dar sinais de renovação. Os primeiros leilões da temporada haviam sido respeitáveis, mas ficaram abaixo das expectativas. A venda daquela noite, de arte pós— guerra e contemporânea na Christie’s, tinha o potencial de incendiar o mundo das artes. Como de hábito, Lovegrove tinha clientes em ambos os lados do leilão. Dois eram vendedores, enquanto um terceiro queria adquirir o Lote 12, Ocher and Red on Red, óleo sobre tela, de Mark Rothko. O cliente em questão era tão único que Lovegrove nem sabia seu nome. Suas transações eram com um certo Sr. Hamdali em Paris, que por sua vez tratava com o cliente. O arranjo não era feito da forma tradicional, mas, da perspectiva de Lovegrove, era bastante lucrativo. Só durante os últimos doze meses, o colecionador havia adquirido mais de 200 milhões de dólares em pinturas. As comissões de Lovegrove nessas vendas passavam de 20 milhões. Se esta noite as coisas corressem de acordo com o planejado, seu lucro líquido aumentaria substancialmente.
Ele entrou na Rua 49 e andou meio quarteirão até a entrada da Christie’s. O imponente saguão envidraçado era um mar de diamantes, seda, egos e colágeno. Lovegrove parou um instante para beijar a bochecha perfumada de uma atraente herdeira alemã antes de continuar em direção à chapelaria, onde logo foi abordado por dois negociantes do Upper East Side. Rechaçou ambos com um gesto, pegou sua placa do leilão e subiu para o salão de vendas.
Levando-se em conta toda a intriga e o glamour envolvidos, o salão era surpreendentemente comum, uma mistura de saguão da Assembleia Geral das Nações Unidas com uma igreja evangélica de cultos televisivos. As paredes eram de um tom sem graça de bege e cinza, assim como as cadeiras dobráveis aglomeradas para aproveitar ao máximo o espaço limitado. Atrás de uma espécie de púlpito via-se uma vitrine giratória e, perto dela, uma mesa telefônica operada por meia dúzia de funcionários da Christie’s. Lovegrove ergueu os olhos para os camarotes, esperando divisar um ou dois rostos atrás do vidro fumê, depois andou com cautela em direção aos repórteres que se amontoavam como gado no canto do fundo. Escondendo o número de sua placa, passou rápido por eles e se dirigiu a seu lugar habitual na frente da sala. Era a Terra Prometida, o local onde todos os marchands, consultores e colecionadores esperavam um dia sentar. Não era um lugar para quem tivesse o coração fraco ou pouco dinheiro. Lovegrove se referia a ele como “zona da matança”.
O leilão estava programado para começar às seis. Francis Hunt, o leiloeiro-chefe da Christie’s, garantiu cinco minutos adicionais à irrequieta plateia para se acomodar antes de ocupar o seu assento. Ele tinha modos polidos e uma divertida cortesia inglesa que por alguma inexplicável razão ainda fazia os norte-americanos se sentirem inferiores. Na mão direita ele segurava o famoso “livro negro” que continha os segredos do universo, ao menos no que dizia respeito àquela noite. Cada lote à venda tinha sua própria página com informações como a reserva do vendedor, um mapa mostrando a localização dos prováveis compradores e a estratégia de Hunt para obter o maior lance possível. O nome de Lovegrove aparecia na página dedicada ao Lote 12, o Rothko. Durante uma inspeção privada pré-venda, Lovegrove insinuou que talvez estivesse interessado, mas só se o preço fosse apropriado e as estrelas estivessem no alinhamento certo. Hunt sabia que Lovegrove estava mentindo, é claro. Hunt sabia de tudo.
Desejou a todos uma boa-noite e, em seguida, com toda a pompa de um mestre de cerimônias de uma grande festa, disse: — Lote 1, o Twombly.
Os lances começaram de imediato, subindo rápido de 100 mil em 100 mil dólares. O leiloeiro administrava com habilidade o processo junto a dois auxiliares de penteados irretocáveis que se pavoneavam e posavam atrás do púlpito como modelos masculinos numa sessão de fotos. Lovegrove talvez se impressionasse com a performance se não soubesse que tudo era cuidadosamente coreografado e ensaiado. Os lances pararam em 1,5 milhão, mas foram reavivados por um lance por telefone de 1,6 milhão. Seguiram-se mais cinco lances em rápida sucessão, e nesse ponto os lances cessaram pela segunda vez.
— O lance é de 2,1 milhões, com Cordelia ao telefone — entoou Hunt, os olhos movendo-se sedutores pela plateia. — Não está com a madame, nem com o senhor. Dois ponto um, ao telefone, pelo Twombly. Último aviso. Última chance. — O martelo desceu com um baque. — Obrigado — murmurou Hunt enquanto registrava a transação em seu livro negro.
Depois do Twombly veio o Lichtenstein, seguido pelo Basquiat, o Diebenkorn, o De Kooning, o Johns, o Pollock e uma série de Warhols. Todos os trabalhos alcançaram mais do que a estimativa pré-venda e mais do que o lote anterior. Não foi por acaso; Hunt tinha organizado os leilões com inteligência de forma a criar uma escala ascendente de excitação. No momento em que o Lote 12 chegou à vitrine, ele tinha a plateia e os compradores na palma da mão.
— À minha direita temos o Rothko — anunciou. — Vamos começar os lances em 12 milhões?
Eram 2 milhões acima da estimativa pré-venda, um sinal de que Hunt esperava que a obra vendesse muito bem. Lovegrove tirou um celular do bolso do paletó Brioni e digitou um número de Paris. Hamdali atendeu. A voz dele soava como um chá morno adoçado com mel.
— Meu cliente gostaria de sentir um pouco o ambiente antes de fazer o primeiro lance.
— Bem pensado.
Lovegrove colocou o telefone no colo e cruzou os dedos. Logo ficou claro que seria uma árdua batalha. Lances se precipitaram em direção a Hunt de todos os cantos do recinto e dos funcionários da Christie’s que operavam os telefones. Hector Candiotti, consultor de arte de um magnata da indústria belga, brandia a placa no ar com agressividade, uma técnica conhecida como rolo compressor. Tony Berringer, que trabalhava para um oligarca russo do alumínio, fazia lances como se sua vida dependesse daquilo, o que bem podia ser possível. Lovegrove esperou até o preço chegar a 30 milhões antes de pegar o telefone.
— Então? — perguntou com a voz calma.
— Ainda não, Sr. Lovegrove.
Dessa vez Lovegrove manteve o telefone no ouvido. Em Paris, Hamdali falava com alguém em árabe. Infelizmente, não era uma das várias línguas que Lovegrove falava com fluência. Para passar o tempo, perscrutou os camarotes, em busca de compradores secretos. Num deles percebeu uma linda jovem, segurando um celular. Alguns segundos depois, Lovegrove notou algo mais. Quando Hamdali falava, a mulher ficava em silêncio. E quando a mulher falava, Hamdali não dizia nada. Provavelmente era uma coincidência, pensou. Ou não.
— Talvez seja o momento de fazer um teste — sugeriu Lovegrove, os olhos na mulher no camarote.
— Talvez você tenha razão — replicou Hamdali. — Um momento, por favor.
Hamdali murmurou algumas palavras em árabe. Logo depois, a mulher no camarote falou em seu celular. Depois, em inglês, Hamdali falou: — O cliente concorda, Sr. Lovegrove. Por favor, faça seu primeiro lance.
A oferta estava em 34 milhões. Arqueando uma única sobrancelha, Lovegrove aumentou em 1 milhão.
— Nós temos 35 — disse Hunt, num tom que indicava que um novo predador de respeito tinha entrado na disputa.
Hector Candiotti reagiu de imediato, assim como Tony Berringer. Dois compradores por telefone empurraram o preço para o limite de 40 milhões. Então Jack Chambers, o rei do mercado imobiliário, casualmente fez um lance de 41. Lovegrove não estava muito preocupado com Jack. O caso com aquela sirigaita de Nova Jersey tinha saído caro no divórcio. Jack não tinha fundos para ir muito além.
— A oferta está em 41 contra você — sussurrou Lovegrove ao telefone.
— O cliente acredita que tudo não passa de pose.
— Trata-se de um leilão de arte na Christie’s. Pose é praxe.
— Paciência, Sr. Lovegrove.
Lovegrove mantinha os olhos na mulher no camarote quando os lances alcançaram a marca de 50 milhões. Jack Chambers fez um último lance de 60; Tony Berringer e seu gângster russo fizeram as honras com 70. Hector Candiotti desistiu da disputa.
— Parece que está entre nós e os russos — disse Lovegrove ao homem em Paris.
— Meu cliente não se importa com os russos.
— O que o seu cliente gostaria de fazer?
— Qual é o recorde de um Rothko num leilão?
— É de 72 e uns trocados.
— Por favor, faça um lance de 75.
— É demais. Você nunca...
— Faça o lance, Sr. Lovegrove.
Lovegrove arqueou uma sobrancelha e ergueu cinco dedos.
— O lance é de 75 milhões — disse Hunt. — Não está com o senhor. Nem com o senhor. Temos 75 milhões pelo Rothko. Último aviso. Última chance. Todos de acordo?
O martelo foi batido.
Um suspiro perpassou o recinto. Lovegrove olhou para o camarote, mas a mulher já havia ido embora.
9
Península do Lagarto, Cornualha
Com a aprovação da Scotland Yard, do Home Office e do primeiro-ministro britânico, Gabriel e Chiara voltaram à Cornualha três dias depois do atentado em Covent Garden. Madona e a Criança com Maria Madalena, óleo sobre tela, 110 por 92 centímetros, chegou às dez horas da manhã seguinte. Depois de retirar a pintura com todo o cuidado de seu estojo de proteção, Gabriel colocou-a no velho cavalete de carvalho da sala de estar e passou o resto da tarde examinando os raios X. As fantasmagóricas imagens apenas reforçaram sua opinião de que o quadro era de fato um Ticiano, aliás, um belo Ticiano.
Como fazia muitos meses que Gabriel não punha as mãos numa pintura, ele estava ansioso para começar a trabalhar logo. Levantou-se cedo na manhã seguinte, preparou uma tigela de café au lait e imediatamente se lançou à delicada tarefa de revestir a tela. O primeiro passo era colar toalhas de papel sobre a imagem para evitar mais danos à pintura durante o procedimento. Existiam inúmeras colas de fácil aquisição apropriadas à tarefa, mas Gabriel sempre preferiu fazer seu próprio aderente usando a receita que havia aprendido em Veneza do mestre restaurador Umberto Conti — pelotas da cola de rabo de coelho dissolvidas numa mistura de água, vinagre, bile de boi e melaço.
Cozinhou lentamente o malcheiroso preparado no fogão da cozinha até adquirir a consistência de um xarope e assistiu ao noticiário matinal na BBC enquanto esperava a mistura esfriar. Farid Khan era agora um nome conhecido no Reino Unido. Em vista da sincronia precisa de seu ataque, a Scotland Yard e a inteligência britânica operavam com base na tese de que estava ligado aos atentados em Paris e em Copenhague. Ainda não estava clara a que organização terrorista os homens-bomba pertenciam. O debate entre especialistas na televisão era intenso, com um dos lados proclamando que os ataques foram orquestrados pela antiga liderança da Al-Qaeda no Paquistão, enquanto outro declarava que era obviamente o trabalho de uma nova rede que ainda iria aparecer no radar da inteligência do Ocidente. Fosse qual fosse o caso, as autoridades europeias se preparavam para novos derramamentos de sangue. O Centro de Análise Conjunta do Terrorismo do MI5 tinha subido o nível de ameaça para “crítico”, o que significava que era esperado outro ataque iminente.
Gabriel teve sua atenção atraída para uma reportagem sobre a conduta da Scotland Yard logo antes do ataque. Numa declaração formulada com todo o cuidado, o comissário da Polícia Metropolitana admitiu ter recebido um alerta sobre um homem suspeito com um casaco grande demais dirigindo-se a Covent Garden. Lamentavelmente, disse o comissário, a informação não atingiu o nível de especificidade exigido para ação letal. Em seguida confirmou que dois agentes do SO19 haviam sido despachados para Covent Garden, mas que, dentro da política atual, eles não deveriam atirar. Quanto aos relatos de uma arma sendo sacada, a polícia tinha interrogado o homem envolvido e concluído que não era uma arma, e sim uma câmera. Por razões de privacidade, a identidade do homem não seria revelada. A imprensa pareceu aceitar a versão da polícia, assim como os representantes dos direitos civis, que aplaudiram a atitude comedida da polícia mesmo com a morte de dezoito inocentes.
Gabriel desligou a televisão quando Chiara entrou na cozinha. Ela abriu de imediato a janela para tirar o mau cheiro de bile de boi e vinagre e repreendeu Gabriel por ter sujado sua panela de aço inoxidável favorita. Gabriel sorriu e mergulhou a ponta do indicador na mistura. Agora já estava fria o bastante para ser usada. Com Chiara espiando por cima do ombro dele, Gabriel aplicou a cola sobre o verniz amarelado de maneira uniforme e grudou diversas toalhas de papel na superfície. O trabalho de Ticiano estava invisível agora, e assim ficaria por muitos dias até que o novo revestimento fosse finalizado.
Gabriel não podia fazer mais nada naquela manhã a não ser verificar a pintura de tempos em tempos para saber se a cola estava secando de forma adequada. Sentou-se no caramanchão de frente para o mar, um notebook no colo, e pesquisou na internet por mais informações sobre os três ataques. Sentiu-se tentado a contactar o King Saul Boulevard, mas achou melhor não. Já não tinha informado Tel Aviv sobre seu envolvimento em Covent Garden, e fazer isso agora só daria a seus ex-colegas uma desculpa para se intrometerem em sua vida. Gabriel aprendera com a experiência que era melhor tratar o Escritório como uma ex-namorada. O contato devia ser mínimo e o melhor é que ocorresse em lugares públicos, onde seria inapropriado criar confusão.
Pouco antes do meio-dia, as últimas lufadas dos ventos da noite passaram pela enseada de Gunwalloe, deixando o céu claro e de um azul cristalino. Depois de checar mais uma vez a pintura, Gabriel vestiu um agasalho e um par de botas de caminhada e saiu para seu passeio diário pelos penhascos. Na tarde anterior ele tinha caminhado para o norte ao longo do Caminho Costeiro até Praa Sands. Agora subiu a pequena inclinação atrás do chalé e partiu para o sul em direção à ponta da península.
Não demorou muito para a magia da costa da Cornualha espantar os pensamentos sobre os mortos e feridos em Covent Garden. Quando Gabriel chegou aos limites do Mullion Golf Club, a última imagem terrível já estava escondida em segurança debaixo de uma camada de tinta. Enquanto seguia para o sul, passando pelo afloramento rochoso dos penhascos de Polurrian, ele só pensava no trabalho a ser feito no Ticiano. No dia seguinte removeria com todo o cuidado a pintura do esticador e fixaria a tela mole numa faixa de linho italiano, pressionando-a com firmeza no lugar com um pesado ferro de passar. Depois viria a mais longa e árdua fase da restauração: a remoção do verniz quebradiço e amarelado e o retoque das porções de pintura danificadas pelo tempo e a pressão. Enquanto alguns restauradores costumavam ser agressivos nos retoques, Gabriel era conhecido no mundo da arte pela leveza do toque e a fantástica habilidade de imitar as pinceladas dos Grandes Mestres. Ele acreditava ser dever de um restaurador passar despercebido, não deixando evidência alguma a não ser a pintura devolvida à sua glória original.
Quando Gabriel chegou à ponta norte da enseada de Kynance, uma linha de nuvens negras obscurecia o sol e o vento do mar tinha ficado bem mais frio. Como arguto observador do caprichoso clima da Cornualha, ele percebeu que o “intervalo brilhante”, como os meteorologistas britânicos gostavam de chamar os períodos de sol, estava prestes a ter um fim abrupto. Parou por um momento, pensando onde poderia se abrigar. Para o leste, depois da paisagem que se assemelhava a uma colcha de retalhos, estava o vilarejo do Lagarto. Bem à frente estava a ponta. Gabriel escolheu a segunda opção. Ele não queria encurtar sua caminhada por causa de algo trivial como uma rajada de vento passageira. Além do mais, havia um bom café no alto do penhasco, onde ele poderia esperar a tempestade comendo um bolinho recém-assado e tomando um bule de chá.
Levantou a gola do agasalho e seguiu pela orla da enseada enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O café apareceu sob um véu de névoa. Na base dos penhascos, abrigando-se próximo a uma casa de barcos abandonada, viu um homem de uns 25 anos com cabelos curtos e óculos escuros sobre a cabeça. Um segundo homem encontrava-se no alto do ponto de observação, olhando por um telescópio que funcionava com a inserção de moedas. Gabriel sabia que o telescópio estava inativo havia meses.
Parou de andar e olhou em direção ao café assim que um terceiro homem saiu para a varanda. Tinha um chapéu impermeável enterrado até as sobrancelhas e óculos sem aro muito usados por intelectuais alemães e banqueiros suíços. Sua expressão era de impaciência — de um executivo atarefado forçado pela esposa a tirar férias. Olhou diretamente para Gabriel por um longo tempo antes de erguer um punho largo em direção ao rosto e consultar o relógio. Gabriel sentiu-se tentado a virar na direção oposta, mas preferiu baixar o olhar e continuar andando. Melhor fazer isso em público, pensou. Reduziria as chances de uma confusão.
10
Ponta do Lagarto, Cornualha
— Você tinha mesmo que pedir bolinhos? — perguntou Uzi Navot, ressentido.
— São os melhores da Cornualha. Assim como o creme talhado.
Navot não se mexeu. Gabriel deu um sorriso perspicaz.
— Bella quer que você perca quantos quilos?
— Três. Depois eu preciso manter o peso — respondeu Navot com pesar, como se fosse uma sentença de prisão. — O que eu não daria para ter seu metabolismo. Você é casado com uma das maiores cozinheiras do mundo, mas ainda tem o corpo de um jovem de 25 anos. Eu? Sou casado com uma das mais destacadas peritas em assuntos sobre a Síria do país e não posso nem me aproximar de um doce. Talvez seja hora de pedir a Bella para pegar mais leve com as restrições alimentares.
— Peça você — replicou Navot. — Todos esses anos estudando os baatistas de Damasco deixaram sequelas. Às vezes acho que vivo numa ditadura.
Os dois estavam sentados a uma mesa isolada perto das janelas golpeadas pela chuva, Gabriel de frente para o interior, Navot, para o mar. Uzi vestia calças de cotelê e um suéter bege que ainda cheiravam ao departamento masculino da loja da Harrods. Depositou o chapéu numa cadeira próxima e passou a mão no cabelo curto louro-avermelhado. Estava um pouco mais grisalho do que Gabriel se lembrava, mas era compreensível. Uzi Navot era agora o chefe do serviço de inteligência de Israel. Os cabelos grisalhos eram um dos muitos benefícios secundários do trabalho.
Se o breve mandato de Navot terminasse agora, era quase certo que seria considerado um dos mais bem-sucedidos na longa e renomada história do Escritório. As honras concedidas a ele eram resultado da operação Obra-Prima, o empreendimento conjunto anglo-americano-israelense que ocasionou a destruição de quatro instalações nucleares secretas iranianas. Muitos dos créditos eram de Gabriel, ainda que Navot preferisse não se estender muito nesse ponto. Ele só foi nomeado chefe porque Gabriel recusou o posto repetidas vezes. E as quatro usinas de enriquecimento ainda estariam funcionando se Gabriel não tivesse identificado e recrutado o empresário suíço que vendia peças para os iranianos em segredo.
No momento, porém, os pensamentos de Navot pareciam focados apenas no prato de bolinhos. Incapaz de continuar resistindo, ele escolheu um, partiu-o com grande cuidado e lambuzou-o com geleia de morango e um bocado de creme talhado. Gabriel colocou chá em sua xícara e perguntou calmamente sobre o propósito daquela visita não anunciada. Fez isso em alemão fluente, que ele falava com o sotaque berlinense de sua mãe. Era uma das cinco línguas que compartilhava com Navot.
— Eu tinha vários assuntos a discutir com minhas contrapartes britânicas. Na pauta estava um surpreendente relatório sobre um de nossos ex-agentes que agora vive aposentado aqui sob a proteção do MI5. Havia um grande alarde a respeito desse agente e o atentado de Covent Garden. Para ser honesto, fiquei um pouco em dúvida quando ouvi. Conhecendo bem esse agente, não conseguia imaginar que ele arriscasse sua posição na Inglaterra fazendo algo tão tolo como sacar uma arma em público.
— O que eu deveria ter feito, Uzi?
— Deveria ter chamado o seu contato no MI5 e lavado as mãos.
— E se você estivesse numa situação semelhante?
— Se estivesse em Jerusalém ou em Tel Aviv, eu não teria hesitado em abater o canalha. Mas aqui... Acho que teria considerado antes as possíveis consequências das minhas ações.
— Dezoito pessoas morreram, Uzi.
— Considere-se com sorte por não terem sido dezenove. — Navot tirou os óculos de armação alongada, algo que costumava fazer antes de se envolver numa conversa desagradável. — Sinto-me tentado a perguntar se você realmente pretendia fazer o disparo. Mas em vista de seu treinamento e seus feitos passados, acho que sei a resposta. Um agente do Escritório saca a arma em campo por uma razão e apenas por uma razão. Não a fica sacudindo como um gângster ou faz ameaças vazias. Simplesmente puxa o gatilho e atira para matar. — Navot fez uma pausa, depois acrescentou: — Faça com os outros antes que eles tenham oportunidade de fazer com você. Acredito que essas palavras podem ser encontradas na página 12 do pequeno livro vermelho de Shamron.
— Ele sabe sobre Covent Garden?
— Você já sabe a resposta. Shamron sabe de tudo. Aliás, eu não ficaria surpreso se ele não tivesse ouvido sobre sua pequena aventura antes de mim. Apesar de minhas tentativas de mantê-lo na aposentadoria, ele insiste em permanecer em contato com suas fontes dos velhos tempos.
Gabriel acrescentou umas gotas de leite a seu chá e mexeu devagar. Shamron... O nome era quase sinônimo da história de Israel e de seus serviços de inteligência. Depois de lutar na guerra que levou à reconstituição de Israel, Ari Shamron passou os sessenta anos seguintes protegendo o país de uma horda de inimigos dispostos a destruí-lo. Tinha penetrado nas cortes de reis, roubado segredos de tiranos e matado incontáveis adversários, às vezes com as próprias mãos, às vezes com as mãos de homens como Gabriel. Apenas um segredo fugia a Shamron — o segredo da satisfação. Já idoso e com a saúde em frangalhos, agarrava-se desesperadamente a seu papel de eminência parda do establishment de segurança de Israel e ainda se metia nos negócios internos do Escritório como se fosse seu feudo. Não era a arrogância que motivava Shamron, mas, sim, um constante temor de que todo o seu trabalho tivesse sido em vão. Embora próspero na economia e forte na área militar, Israel continuava cercado por um mundo que era, em sua maior parte, hostil a sua existência. O fato de Gabriel ter escolhido morar nesse mundo estava entre as maiores decepções de Shamron.
— Estou surpreso de ele mesmo não ter vindo — comentou Gabriel.
— Ele teve vontade.
— E por que não veio?
— Não é mais tão fácil para ele viajar.
— Qual o problema agora?
— Tudo — respondeu Navot, dando de ombros. — Atualmente ele mal sai de Tiberíades. Só fica na varanda olhando para o lago. Gilah está ficando louca. Tem me pedido para arrumar alguma coisa para ele fazer.
— Será que devo fazer uma visita?
— Ele não está no leito de morte, se é o que está insinuando. Mas você deveria fazer uma visita logo. Quem sabe? Talvez você resolva gostar do seu país outra vez.
— Eu adoro o meu país, Uzi.
— Mas não o suficiente para viver lá.
— Você sempre me lembrou um pouco Shamron — disse Gabriel, franzindo a testa ?, mas agora essa semelhança é impressionante.
— Gilah me disse a mesma coisa pouco tempo atrás.
— Eu não disse que isso é um elogio.
— Nem ela. — Navot acrescentou outra colher de sopa de creme talhado ao bolinho com um cuidado exagerado.
— Então, por que você está aqui, Uzi?
— Quero oferecer uma oportunidade única.
?Você está falando como um vendedor.
— Eu sou um espião. Não tem muita diferença.
— O que você quer oferecer?
— Uma oportunidade de reparar um erro.
— E qual foi esse erro?
— Você deveria ter acertado Farid Khan antes de ele apertar o botão do detonador. — Navot baixou a voz e acrescentou, confiante: — É o que eu teria feito, se estivesse no seu lugar.
— E como eu poderia reparar esse erro de julgamento?
— Aceitando um convite.
— De quem?
Navot olhou em silêncio para o oeste.
— Dos norte-americanos? — perguntou Gabriel.
Navot sorriu.
— Mais chá?
A chuva parou tão de repente quanto começou. Gabriel deixou dinheiro em cima da mesa e acompanhou Navot pelo caminho íngreme até a enseada de Polpeor. O guarda-costas ainda estava encostado na rampa em escombros da casa de barcos. Olhou com falsa indiferença quando Gabriel e Navot caminharam juntos pela praia rochosa até a beira da água. Navot deu um olhar distraído para seu relógio de aço inoxidável e levantou a gola do casaco para se proteger do tempestuoso vento do mar. Gabriel ficou mais uma vez surpreso com a incrível semelhança com Shamron, que não era apenas superficial. Era como se Ari, pela pura força de sua vontade indomável, tivesse de alguma forma possuído Navot de corpo e alma. Não era o Shamron enfraquecido pela idade e pela doença, pensou Gabriel, mas o homem em seu auge. Só o que faltava eram os malditos cigarros turcos que destruíram a saúde de Shamron. Bella nunca tinha deixado Navot fumar, nem mesmo como disfarce.
— Quem está por trás dos atentados, Uzi?
— Até agora, não conseguimos estabelecer isso com certeza. Os norte-americanos, porém, acham que se trata da futura face do terror jihadista global, o novo Bin Laden.
— E esse novo Bin Laden tem um nome?
— Os norte-americanos insistem em partilhar essa informação pessoalmente com você. Querem que você vá a Washington, com todas as despesas pagas, claro.
— Como foi feito esse convite?
— Adrian Carter me ligou.
Adrian Carter era o diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA.
— Qual é o código de vestuário?
— Preto. Sua visita aos Estados Unidos jamais terá acontecido.
Gabriel encarou Navot em silêncio por um momento.
— Obviamente você quer que eu vá, Uzi, ou não estaria aqui.
— Mal não pode fazer. Na pior das hipóteses, vai nos dar uma oportunidade de ouvir o que os norte-americanos têm a dizer sobre os atentados. Mas existem outros benefícios indiretos também.
— Tais como?
— Nosso relacionamento pode se dar bem com alguns retoques.
— Que tipo de retoques?
— Você não soube? Washington está de cara nova. A mudança está no ar — observou Navot com sarcasmo. — O novo presidente dos Estados Unidos é um idealista. Acredita que pode consertar as relações entre o Ocidente e o Islã e está convencido de que nós somos parte do problema.
— Então a solução sou eu, um ex-assassino com o sangue de vários palestinos e terroristas islâmicos nas mãos?
— Quando os serviços de inteligência se dão bem, isso tende a se alastrar para a política, por isso o primeiro-ministro também está ansioso para que você faça a viagem.
— O primeiro-ministro? Daqui a pouco você vai me dizer que Shamron também está envolvido.
— E está. — Navot pegou uma pedra e atirou-a ao mar. — Depois da operação no Irã, eu me permiti pensar que Shamron poderia afinal sumir. Eu estava enganado. Ele não tem intenção de me deixar dirigir o Escritório sem sua interferência constante. Mas isso não surpreende, não é, Gabriel? Nós dois sabemos que Shamron tinha outra pessoa em mente para o trabalho. Eu estou destinado a figurar na história de nosso ilustre serviço como o chefe acidental. E você sempre será o escolhido.
— Escolha outra pessoa, Uzi. Estou aposentado, lembra? Mande outra pessoa para Washington.
— Adrian não quer nem ouvir falar disso — disse Navot, esfregando o ombro. — Nem Shamron. Quanto a sua pretensa aposentadoria, terminou no momento em que você resolveu seguir Farid Khan em Covent Garden.
Gabriel olhou para o mar e visualizou o resultado do tiro não disparado: sangue e corpos despedaçados, Bagdá no Tâmisa. Navot pareceu adivinhar o que ele estava pensando e se aproveitou.
— Os norte-americanos querem você em Washington amanhã bem cedo. Haverá um Gulfstream à sua espera perto de Londres. Foi um dos aviões usados no programa de sequestros de prisioneiros. Eles me garantiram que removeram as algemas e agulhas hipodérmicas.
— E quanto a Chiara?
— O convite é individual.
— Ela não pode ficar aqui sozinha.
— Graham concordou em mandar uma equipe de segurança de Londres.
— Eu não confio neles, Uzi. Leve-a para Israel com você. Ela pode ajudar Gilah a cuidar do velho por alguns dias até eu voltar.
— Talvez ela fique lá por algum tempo.
Gabriel examinou Navot com atenção. Dava para notar que ele sabia mais do que estava dizendo. Ele sempre sabia.
— Eu acabei de concordar em restaurar um quadro para Julian Isherwood.
— Um Madona e a Criança com Maria Madalena, outrora atribuído ao estúdio de Palma Vecchio, agora talvez atribuído a Ticiano, dependendo da revisão de especialistas.
— Muito impressionante, Uzi.
— Bella tem tentado ampliar meus horizontes.
— O quadro não pode ficar num chalé vazio perto do mar.
— Julian concordou em pegar o quadro de volta. Como você deve imaginar, ele ficou bastante desapontado.
— Eu ia receber 200 mil libras por esse trabalho.
— Não olhe para mim, Gabriel. O caixa está vazio. Fui obrigado a fazer cortes em todos os níveis dos departamentos. Os contadores estão querendo inclusive que eu diminua minhas despesas pessoais. Minha diária é uma miséria.
— Ainda bem que você está de dieta.
Navot levou a mão à barriga de forma inconsciente, como se quisesse verificar se tinha aumentado desde que saiu de casa.
— É um longo caminho até Londres, Uzi. Talvez seja melhor você levar alguns bolinhos.
— Nem pense nisso.
— Tem medo de que Bella descubra?
— Eu sei que ela vai descobrir. — Navot olhou para o guarda-costas encostado na rampa da casa de barcos. — Esses canalhas contam tudo para ela. É como viver numa ditadura.
11
Georgetown, Washington
A casa ficava no quarteirão 3300 da N Street, uma das elegantes residências com terraço e preços apenas ao alcance dos mais ricos de Washington. Gabriel subiu a escada em curva da entrada à meia-luz da aurora e, como instruído, entrou sem tocar a campainha. Adrian Carter esperava no vestíbulo, usando calça de algodão vincada, um suéter de gola olímpica e um blazer de cotelê marrom-claro. Combinado com seu cabelo escasso e despenteado e um bigode fora de moda, o traje lhe dava o ar de um professor de uma pequena universidade, do tipo que defende nobres causas e é sempre uma dor de cabeça para o reitor. Como diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA, no momento Carter só defendia uma causa: manter o território norte-americano a salvo de ataques terroristas ? embora duas vezes por mês, se a agenda permitisse, ele pudesse ser encontrado no porão de sua igreja episcopal no subúrbio de Reston preparando refeições para os sem-teto. Para Carter, o trabalho voluntário era uma meditação, uma rara oportunidade de se envolver com algo que não fosse o destrutivo estado de guerra que sempre assolava as salas de reunião da vasta comunidade de inteligência dos Estados Unidos.
Cumprimentou Gabriel com a circunspecção natural dos homens que vivem no mundo da clandestinidade e o conduziu para dentro. Gabriel parou um momento no centro do corredor e olhou ao redor. Protocolos secretos haviam sido feitos e rompidos naquelas salas de mobília sem graça; homens foram seduzidos para trair seus países em troca de valises cheias de dólares e promessas de proteção norte-americana. Carter tinha usado tantas vezes aquela casa que ela era conhecida em Langley como seu pied-à-terre de Georgetown. Um espertinho da Agência a havia batizado como Dar-al-Harb, que em árabe quer dizer “Casa da Guerra”. Era uma guerra encoberta, claro, pois Carter não conhecia outra forma de lutar.
Adrian Carter não tinha procurado o poder intencionalmente. Bloco a bloco, foi jogado em seus ombros estreitos sem que ele quisesse. Recrutado pela Agência ainda antes de se formar, passou a maior parte da carreira travando uma guerra secreta contra os russos — primeiro na Polônia, onde canalizava dinheiro e mimeógrafos para o Solidariedade; depois em Moscou, onde trabalhou como chefe de base; e finalmente no Afeganistão, onde incentivou e armou os soldados de Alá, mesmo sabendo que um dia eles mandariam fogo e morte sobre ele. Se o Afeganistão acabaria se mostrando a causa de destruição do Império do Mal, também permitiria a Carter um avanço na carreira. Ele não monitorou o colapso da União Soviética em campo, mas de um confortável escritório em Langley, onde tinha sido promovido havia pouco a chefe da Divisão Europeia. Enquanto seus subordinados comemoravam abertamente a morte do inimigo, Carter observava os eventos se desdobrarem com um mau pressentimento. Sua amada Agência falhara em prever o colapso do comunismo, um erro grave que assombraria Langley durante anos. Pior ainda: num piscar de olhos, a CIA tinha perdido a própria razão de sua existência.
Isso mudou na manhã do dia 11 de setembro de 2011. A guerra que se seguiu seria uma guerra travada nas sombras, um lugar que Adrian Carter conhecia muito bem. Enquanto o Pentágono lutava para elaborar uma reação militar ao horror do 11 de Setembro, foi Carter e sua equipe do Centro de Contraterrorismo que produziram um ousado plano para destruir o santuário afegão da Al-Qaeda com uma guerrilha montada pela CIA e conduzida por uma pequena força de agentes especiais norte-americanos. E quando os comandantes e soldados de infantaria da Al-Qaeda começaram a cair nas mãos dos Estados Unidos, foi Carter, de sua escrivaninha em Langley, que com frequência atuou como júri e juiz. As prisões secretas, os sequestros extraordinários, os métodos brutos de interrogatório — tudo tinha o dedo de Carter. Ele não lamentava suas ações; não podia se dar a esse luxo. Para Adrian Carter, todas as manhãs eram 12 de setembro. Nunca mais, jurou, ele veria norte-americanos se atirando de arranha-céus em chamas atingidos por terroristas.
Durante dez anos, Carter tinha conseguido manter essa promessa. Ninguém tinha feito mais para proteger o território dos Estados Unidos de um segundo ataque previsto com muita antecedência, embora, por seus muitos pecados secretos, ele tenha sido crucificado pela imprensa e ameaçado por processos criminais. Aconselhado por advogados da Agência, ele contratou os serviços de um caro advogado de Washington, uma extravagância que drenava suas economias e obrigou sua esposa, Margaret, a voltar a dar aulas. Amigos tinham insistido com Carter para esquecer a Agência e aceitar um cargo lucrativo na crescente indústria de segurança privada de Washington, mas ele recusou. Seu fracasso em evitar os ataques de 11 de setembro ainda o perseguia. E os fantasmas dos três mil mortos o incitavam a continuar lutando até o inimigo ser derrotado.
A guerra tinha cobrado seu preço de Carter — não apenas a vida de sua família, que estava em ruínas, mas também sua saúde. Seu rosto estava magro e cansado, e Gabriel percebeu um leve tremor na mão direita dele quando encheu um prato, sem nenhum entusiasmo, com iguarias do governo dispostas sobre um bufê na sala de jantar.
— Pressão alta — explicou Carter, ao se servir de café de uma garrafa térmica. — Começou no dia da posse do presidente e sobe e desce de acordo com o nível de ameaça terrorista. É triste dizer, mas depois de dez anos lutando contra o terror islâmico, parece que me tornei um medidor ambulante de ameaça nacional.
— Em que nível estamos hoje?
— Você não ouviu falar? Nós abandonamos o antigo sistema de cores.
— O que sua pressão está dizendo?
— Vermelho — respondeu Carter secamente. — Vermelho vivo.
— Não é o que diz sua diretora de segurança interna. Ela diz que não há ameaças iminentes.
— Nem sempre ela escreve seus próprios discursos.
— Quem escreve?
— A Casa Branca. E o presidente não gosta de alarmar o povo norte-americano sem necessidade. Além do mais, aumentar o nível de ameaça entraria em conflito com a narrativa conveniente que ronda todas as conversas de Washington hoje em dia.
— Que narrativa é essa?
— A que diz que os Estados Unidos reagiram com sucesso ao 11 de Setembro. A que diz que a Al-Qaeda deixou de ser uma ameaça, principalmente para o país mais poderoso da face da terra. A que diz que chegou a hora de declarar vitória na guerra global ao terror e voltar a atenção para dentro. — Carter franziu a testa. — Meu Deus, eu odeio quando jornalistas usam a palavra "narrativa”. Houve uma época em que os romancistas escreviam narrativas e os jornalistas se contentavam em relatar os fatos. E os fatos são bastante simples. Existe no mundo atual uma força organizada que quer enfraquecer ou até destruir o Ocidente com atos de violência indiscriminada. Essa força e parte de um movimento radical mais abrangente para impor a lei da charia e restaurar o califado islâmico. E nenhum pensamento positivo vai eliminar esse fato.
Os dois se sentaram frente a frente numa mesa retangular. Carter pegou a ponta de um croissant murcho, os pensamentos claramente em outro lugar. Gabriel sabia que era melhor não apressar nada. Numa conversa, Carter acabava divagando um pouco. Chegaria ao essencial, mas haveria vários desvios e digressões ao longo do caminho, e todas se mostrariam úteis para Gabriel no futuro.
— Sob alguns aspectos, eu simpatizo com o desejo do presidente de virar a pagina da história — continuou Carter. — Ele acha que a guerra global ao terrorismo desvia a atenção de objetivos maiores. Pode ser difícil de acreditar, mas eu só o encontrei em duas ocasiões. Ele me chama de Andrew.
— Mas pelo menos ele nos deu esperança.
— Esperança não é uma estratégia aceitável quando vidas estão em risco. Foi a esperança que nos levou ao 11 de Setembro.
— Então quem está dando as cartas dentro do governo?
— James McKenna, consultor do presidente para segurança interna e contraterrorismo, também conhecido como o czar do terrorismo, o que é interessante, pois ele emitiu um decreto banindo a palavra “terrorismo” de todos os nossos pronunciamentos públicos. Chega a desencorajar até mesmo o uso no âmbito particular. E Deus nos livre se mencionarmos a palavra “islâmico” junto. Segundo James McKenna, não estamos engajados numa guerra contra terroristas islâmicos. Estamos engajados num esforço internacional contra um pequeno grupo de extremistas transnacionais. Esses extremistas, por um acaso também muçulmanos, são irritantes, mas não representam uma verdadeira ameaça contra nossa existência ou estilo de vida.
— Diga isso às famílias dos que morreram em Paris, Copenhague e Londres.
— Isso é uma resposta emocional — observou Carter com ironia. — E James McKenna não tolera emoções quando se fala de terrorismo.
— Você quer dizer extremismo — comentou Gabriel.
— Me perdoe — disse Carter. — McKenna é um animal político que se vê como um perito em inteligência. Trabalhou com o Comitê Seleto de Inteligência do Senado nos anos 1990 e veio para Langley logo depois da chegada dos gregos. Ficou só alguns meses, mas isso não o impede de se definir como um veterano da CIA. Ele diz ser um homem da Agência que, de coração, só quer o melhor para a instituição. A verdade é um tanto diferente. Ele odeia a Agência e todos os que trabalham ali. Acima de tudo, ele me detesta.
— Por quê?
— Parece que eu o deixei constrangido durante uma reunião de diretoria. Não me lembro do incidente, mas parece que McKenna nunca conseguiu superar. Além disso, me disseram que McKenna me considera um monstro que fez um mal irreparável para a imagem dos Estados Unidos no mundo. Nada o faria mais feliz do que me ver atrás das grades.
— É bom saber que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está funcionando bem outra vez.
— Na verdade, McKenna acha que está tudo bem agora que ele comanda o espetáculo. Conseguiu até se fazer nomear presidente do nosso Grupo de Interrogatório de Prisioneiros de Alto Valor. Se uma figura importante do terrorismo for capturada em qualquer parte do mundo, sob quaisquer circunstâncias, James McKenna será o encarregado de questioná-la. É muito poder para uma pessoa só, mesmo que essa pessoa seja competente. Mas, infelizmente, James McKenna não se enquadra nessa categoria. Ele é ambicioso, é bem-intencionado, mas não sabe o que está fazendo. E se não tomar cuidado, vai acabar nos matando.
— Parece encantador — observou Gabriel. — Quando vou conhecê-lo?
— Nunca.
— Então por que estou aqui, Adrian?
— Você está aqui por causa de Paris, Copenhague e Londres.
— Quem foi o responsável?
— Uma nova ramificação da Al-Qaeda. Mas receio que eles sejam apoiados por uma pessoa que ocupa um cargo sensível e poderoso na inteligência ocidental.
— Quem?
Carter não respondeu. Sua mão direita estava tremendo.
CONTINUA
Aposentado do serviço secreto israelense, o restaurador de arte Gabriel Allon decide passar um fim de semana em Londres com a esposa, Chiara, Mas seus sentidos estão sempre em alerta, sobretudo depois dos recentes atentados suicidas em Paris e Copenhague.
Em meio à multidão, Gabriel detecta um suspeito. Um homem-bomba. Quando está prestes a atirar para matar, ele é detido pela polícia britânica e acaba presenciando um terrível massacre.
Já de volta a sua casa na Cornualha e ainda assombrado por não ter sido capaz de impedir o ataque, o agente é convocado a comandar um esquema global contra a guerra santa muçulmana. Uma nova rede terrorista se espalha pela Europa e só há uma solução para derrotá-la: infiltrar um agente duplo.
A espiã ideal é uma bilionária saudita que vive de dissimulações transitando entre os mundos islâmico e ocidental. Treinada por Allon ela deve evitar que o terror se dissemine.
Numa trama que espelha as tensões e conflitos da atualidade, Gabriel precisa identificar o inimigo para, enfim, chegar a seu covil: o plácido porém implacável deserto da Arábia Saudita.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/11_RETRATO_DE_UMA_ESPI_.webp
Parte Um
Morte no jardim
1
Península do Lagarto, Cornualha
Foi o Rembrandt que resolveu o mistério de uma vez por todas. Mais tarde nas estranhas lojas onde faziam suas compras e nos pequenos e escuros pubs à beira-mar onde tomavam seus drinques, eles iriam recriminar uns aos outros por não terem percebido os sinais óbvios e dariam boas risadas de algumas de suas mais extravagantes teorias sobre a verdadeira natureza do trabalho dele. Pois nem em seus sonhos mais loucos alguém pensou na possibilidade de o homem taciturno que morava no extremo da enseada de Gunwalloe ser um restaurador de arte, quanto mais um restaurador mundialmente famoso.
Não era o primeiro forasteiro a surgir na Cornualha com um segredo, mas poucos o tinham guardado com tanto zelo e tanta classe. Havia chamado atenção a maneira peculiar com que ele conseguira uma casa para si mesmo e sua linda esposa, muito mais jovem. Depois de escolher o pitoresco chalé do penhasco — sem que ninguém soubesse ?, pagou os doze meses de aluguel adiantado, e um obscuro advogado em Hamburgo cuidou discretamente de toda papelada. Ocupou o chalé duas semanas depois, como se estivesse liderando um ataque a um posto avançado inimigo. Os que o encontraram em suas primeiras incursões no vilarejo ficaram surpresos com sua notável falta de franqueza. Ele parecia não ter nome — pelo menos não um que quisesse compartilhar — nem um país de origem que qualquer um conseguisse identificar. Duncan Reynolds, aposentado havia trinta anos do trabalho na ferrovia e considerado o mais mundano dos moradores de Gunwalloe, o descreveu como “um homem enigmático”, enquanto outras definições variavam entre “reservado” e “insuportavelmente mal-educado”. Mesmo assim, todos concordavam que, para o bem ou para o mal, o pequeno vilarejo no oeste da Cornualha tinha se tornado um lugar muito mais interessante.
Com o passar do tempo, descobriram que o nome dele era Giovanni Rossi e que, como sua esposa, era descendente de italianos. E tudo se tornou ainda estranho quando eles começaram a notar carros do governo cheios de homens rondando as ruas do vilarejo tarde da noite. Depois foram os dois sujeitos que as vezes pescavam na enseada. A opinião de todos é que eram os piores pescadores que já tinham visto. Aliás, a maioria supôs que nem mesmo fossem pescadores. Como costuma acontecer em pequenos vilarejos como Gunwalloe, teve início um intenso debate sobre a verdadeira identidade do recém-chegado e a natureza de seu trabalho — um debate que afinal cessou com a descoberta do Retrato de uma jovem, óleo sobre tela, de 104 por 86 centímetros, de Rembrandt van Rijn.
Nunca se soube exatamente quando o quadro chegou. Achavam que havia sido em meados de janeiro, pois foi quando perceberam uma mudança drástica em sua rotina. Um dia ele estava andando pelos penhascos escarpados da península do Lagarto como se estivesse lutando contra uma consciência culpada; no dia seguinte estava diante de um cavalete na sala de estar, um pincel numa das mãos e uma paleta na outra, ópera tocando tão alto que seu lamento podia ser ouvido do outro lado de Mounts Bay em Marazion. Como seu chalé era muito próximo do Caminho Costeiro, era possível — se alguém parasse no lugar exato e esticasse o pescoço no ângulo certo — vê-lo em seu estúdio. No início, imaginaram que estivesse trabalhando numa pintura de sua autoria. Mas com o lento passar das semanas, ficou claro que ele estava envolvido no ofício conhecido como conservação ou, mais comumente, restauração.
— Que diabo significa isso? — perguntou Malcolm Braithwaite, um pescador de lagosta aposentado que cheirava sempre a mar, certa noite no Lamb and Flag Pub.
— Significa que ele está consertando aquela coisa — respondeu Duncan Reynolds. — Uma pintura é como um ser vivo, respirando. Quando fica velha, esfarela e se enruga. Como você, Malcolm.
— Ouvi dizer que é uma jovem.
— Bonitinha — disse Duncan, assentindo. — Bochechas da cor de maçãs. Com certeza é comível.
— Nós conhecemos o pintor?
— Ainda estamos averiguando.
E averiguaram mesmo. Consultaram muitos livros, buscaram em muitos sites, foram atrás de pessoas que sabiam mais sobre arte do que eles — uma categoria que incluía a maior parte da população do oeste da Cornualha. Finalmente, no início de abril, Dottie Cox, da loja do vilarejo, tomou coragem para simplesmente perguntar à linda jovem italiana sobre a pintura quando ela veio fazer compras na cidade. A mulher se esquivou da pergunta com um sorriso ambíguo e, com a sacola de palha ao ombro, voltou para a enseada, o cabelo exuberante agitado pelo vento da primavera. Minutos depois de sua chegada, o lamento da ópera cessou e as persianas das janelas do chalé se fecharam.
Continuaram fechadas ao longo da semana seguinte, quando o restaurador e a esposa desapareceram de repente. Durante vários dias, os moradores de Gunwalloe temeram que eles não voltassem mais, e alguns se repreenderam por terem bisbilhotado e se intrometido nos negócios particulares do casal. Certa manhã, ao folhear o Times em sua loja, Dottie Cox reparou numa reportagem de Washington sobre a descoberta de um retrato de Rembrandt há muito perdido — um retrato exatamente igual ao que estava no chalé. E assim o mistério foi resolvido.
Por coincidência, na mesma edição do Times, na primeira página, havia um artigo sobre uma série de misteriosas explosões em quatro instalações nucleares iranianas. Ninguém em Gunwalloe imaginou que poderia haver uma conexão. Pelo menos não por enquanto.
Dava para notar que o restaurador era um homem mudado quando voltou da América. Embora continuasse reservado — ainda não era um tipo que você gostaria de encontrar de surpresa no escuro ?, estava claro que um fardo tinha sido retirado de seus ombros. De vez em quando avistavam um sorriso em seu rosto anguloso, e o brilho em seus olhos verdes parecia de uma tonalidade menos defensiva. Até mesmo suas longas caminhadas diárias estavam diferentes. Antes ele pisoteava o caminho como um homem possuído; agora ele parecia pairar acima dos penhascos cobertos pela névoa como um espírito que voltara para casa depois de muito tempo numa terra distante.
— Parece que ele foi liberado de um voto secreto — observou Vera Hobbs, dona da padaria. Mas quando alguém pediu para arriscar um palpite sobre o voto, ou com quem havia se comprometido, ela não respondeu. Como todos os outros no vilarejo, tinha se mostrado uma tola ao tentar adivinhar a ocupação do homem. — Além do mais, é melhor deixá-lo em paz. Senão, da próxima vez que ele e a linda esposa saírem da península, vai ser para sempre.
De fato, enquanto aquele glorioso verão passava, os futuros planos do restaurador se tornaram a principal preocupação de todo o vilarejo. Como o contrato de aluguel do chalé expirava em setembro e não havia nenhuma evidência de que seria renovado, eles se engajaram em convencê-lo a ficar. Decidiram que o restaurador precisava de algo para prendê-lo na costa da Cornualha — um trabalho que exigisse suas habilidades únicas, algo a fazer além de caminhar pelos penhascos. Eles não tinham ideia do que seria exatamente esse trabalho e de quem poderia oferecê-lo, mas confiaram a si mesmos a delicada tarefa de descobrir isso.
Depois de muitas deliberações, foi Dottie Cox quem finalmente surgiu com a ideia do Primeiro Festival Anual de Belas-Artes de Gunwalloe, e o famoso restaurador Giovanni Rossi seria o presidente honorário. Fez a proposta para a esposa do restaurador na manhã seguinte, quando ela apareceu na loja na hora de sempre. A mulher riu por alguns minutos. A oferta era lisonjeira, comentou depois de recuperar a compostura, mas ela achava que não era o tipo de coisa com que o signor Rossi concordaria. A recusa oficial aconteceu pouco depois e a ideia do festival foi por água abaixo. Mas não houve problema: poucos dias depois, eles souberam que o restaurador tinha renovado o contrato por um ano. Mais uma vez, o aluguel foi pago adiantado e o mesmo advogado obscuro de Hamburgo cuidou de toda a papelada.
Assim, a vida voltou ao que poderia ser chamado de normal. Continuaram a ver o restaurador no meio da manhã quando fazia compras com a esposa e também no meio da tarde quando andava pelos penhascos de casaco e boina puxada para a frente. E se ele se esquecia de cumprimentar alguém da forma apropriada, ninguém se ofendia. Se ele se sentia desconfortável com algo, deixavam-no à vontade para fazer do seu jeito. E se um estranho chegasse ao povoado, observavam cada movimento até que ele fosse embora. O restaurador e a esposa poderiam ter vindo da Itália, mas agora pertenciam à Cornualha, e que os céus ajudassem o tolo que tentasse tirá-los de lá outra vez.
No entanto, algumas pessoas da península acreditavam que havia mais naquela história — e um homem em particular achava que sabia o que era. Seu nome era Teddy Sinclair, dono de uma pizzaria muito boa em Helston, com um pendor para teorias da conspiração, grandes e pequenas. Teddy acreditava que os pousos na Lua eram uma farsa, que o 11 de Setembro fora armado pelo governo e que o homem da enseada de Gunwalloe estava escondendo mais que uma habilidade secreta para restaurar pinturas.
Para provar de uma vez por todas que tinha razão, convocou os moradores ao Lamb and Flag na segunda quinta-feira de novembro e revelou um esquema que parecia um pouco a tabela periódica. O propósito era estabelecer, sem a menor sombra de dúvida, que as explosões nas instalações nucleares iranianas eram trabalho de um lendário oficial de inteligência israelense chamado Gabriel Allon — e que o mesmo Gabriel Allon estava agora vivendo em paz em Gunwalloe com o nome de Giovanni Rossi. Quando as gargalhadas finalmente diminuíram, Duncan Reynolds disse que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido desde que um francês decidiu que a Europa devia ter uma moeda em comum. Mas dessa vez Teddy permaneceu firme, o que era o certo a fazer. Teddy poderia estar enganado sobre o pouso na Lua e o 11 de Setembro, mas no que dizia respeito ao homem de enseada de Gunwalloe, sua teoria era perfeitamente verdadeira.
Na manhã seguinte, Dia do Armistício, o vilarejo acordou com a notícia de que o restaurador e a esposa tinham desaparecido. Em pânico. Vera Hobbs correu até a enseada e espiou pelas janelas do chalé. As ferramentas do restaurador estavam espalhadas por uma mesa baixa, e apoiada no cavalete havia a pintura de uma mulher nua deitada num sofá. Vera demorou a perceber que o sofá era idêntico ao da sala de estar e que a mulher era a mesma que ela via todas as manhãs na padaria. Apesar do constrangimento, Vera não conseguiu desviar o olhar, pois era uma das pinturas mais extraordinárias e belas que já vira. Era também um bom sinal, ela pensou enquanto caminhava de volta para o povoado. Uma pintura como aquela não era algo que um homem deixaria para trás ao sair de um lugar. Os dois iriam acabar voltando. E que os céus ajudassem aquele maldito Teddy Sinclair se não voltassem.
2
Paris
A primeira bomba explodiu às 11h46 na avenida Champs-Élysées, em Paris. O diretor do serviço de segurança francês falaria mais tarde que não tinha recebido alerta do ataque iminente, uma afirmação que seus detratores poderiam ter considerado risível se o número de mortos não fosse tão alto. Os sinais de alerta eram claros, disseram. Só um cego ou ignorante não notaria.
Do ponto de vista da Europa, o momento do ataque não poderia ter sido pior. Após décadas de gastos excessivos na área social, a maior parte do continente estava oscilando à beira de um desastre fiscal e monetário. As dívidas subiam, os caixas estavam vazios e seus mimados cidadãos ficavam cada vez mais velhos e desiludidos. Austeridade era a ordem do dia. No clima vigente, nada era considerado sagrado; sistema de saúde, bolsas de estudo, patrocínio artístico e até benefícios de aposentados estavam sofrendo cortes drásticos. Na chamada periferia da Europa, as economias menores estavam tombando num efeito dominó. A Grécia naufragava lentamente no Egeu, a Espanha estava na UTI e o Milagre Irlandês tinha se transformado em nada mais que uma miragem. Nos elegantes salões de Bruxelas, muitos eurocratas ousavam dizer em voz alta o que já fora impensável: que o sonho de uma integração europeia estava morrendo. E em seus momentos mais sombrios, alguns deles imaginavam se a Europa como eles conheciam não estaria morrendo também.
Mais uma crença estava se deteriorando naquele novembro — a convicção de que a Europa poderia absorver um interminável fluxo de imigrantes muçulmanos das antigas colônias enquanto preservava sua cultura e seu modo de vida. O quis tinha começado como um programa temporário para atenuar a falta de emprego após a guerra agora alterava permanentemente todo o continente. Agitados subúrbios muçulmanos rodeavam quase todas as cidades e diversos países pareciam destinados a ter uma população de maioria muçulmana antes do fim do século. Nenhuma autoridade havia se dado ao trabalho de consultar a população nativa da Europa antes de escancarar os portões, e agora, depois de anos de relativa passividade, os europeus começavam a reagir. A Dinamarca havia imposto restrições rigorosas contra casamentos de imigrantes. A França vetara o uso de véu cobrindo todo o rosto em público. E os suíços, que mal toleravam uns aos outros, tinham decidido manter suas pequenas e bem cuidadas cidades livres de desagradáveis minaretes. Os líderes da Inglaterra e da Alemanha haviam declarado que o multiculturalismo, a religião virtual da Europa pós-cristianismo, estava morto. A maioria não se curvaria mais ao desejo da minoria, afirmaram. Nem faria vista grossa ao extremismo que florescia em seu seio. Parecia que o antigo embate da Europa com o Islã tinha entrado numa fase nova e potencialmente perigosa. Eram muitos os que temiam que fosse uma luta desigual. Um dos lados estava velho, cansado, satisfeito consigo mesmo. O outro podia ser levado a um furor assassino por causa de alguns rabiscos num jornal dinamarquês.
Nenhum outro lugar da Europa expunha esses problemas de forma tão clara quanto Clichy-sous-Bois, o inflamável banlieue árabe próximo de Paris. Epicentro dos tumultos mortais que varreram a França em 2005, o subúrbio tinha uma das taxas de desemprego mais elevadas do país, assim como os mais altos índices de crimes violentos. Tão perigoso era Clichy-sous-Bois que até mesmo a polícia francesa hesitava em entrar em seus fervilhantes cortiços — inclusive no cortiço onde morava Nazim Kadir, um argelino de 26 anos, funcionário do renomado restaurante Fouquet, com doze integrantes de sua grande família.
Naquela manhã de novembro, ele saiu de seu apartamento ainda em meio à escuridão para se purificar numa mesquita construída com dinheiro saudita e administrada por um imame treinado na Arábia Saudita que não falava francês. Depois de cumprir o mais importante pilar do Islã, ele tomou o ônibus 601AB até Le Raincy e em seguida embarcou num trem RER até a Gare Saint-Lazare. Lá, fez baldeação para o metrô de Paris e a etapa final de sua viagem. Em nenhum momento ele despertou suspeitas das autoridades ou dos passageiros. Seu casaco pesado escondia um colete com explosivos.
Saiu da estação George V em sua hora habitual, 11h40, e tomou a avenida Champs-Élysées. Os que tiveram a sorte de escapar do inferno que se seguiu diriam mais tarde que não havia nada incomum em sua aparência, embora o dono de uma popular floricultura afirmasse ter notado uma curiosa determinação em seu andar quando ele se aproximou da entrada do restaurante. Entre os que estavam do lado de fora havia um representante do ministro da Justiça, um apresentador de jornal da televisão francesa, uma modelo que estampava a capa da edição atual da Vogue, um mendigo cigano segurando a mão de uma criança e um ruidoso grupo de turistas japoneses. O homem-bomba consultou o relógio pela última vez. Depois abriu o zíper do casaco.
Não se sabe ao certo se houve o tradicional brado de “Allahu Akbar”. Diversos sobreviventes afirmaram ter ouvido; muitos outros juraram que o homem-bomba detonou o dispositivo em silêncio. Quanto ao som da explosão, os que estavam mais próximos não tinham memória alguma, pois os tímpanos foram muito afetados. Todos só conseguiram se lembrar de uma luz branca cegante. Era a luz da morte, disseram. A luz que se vê no momento em que se confronta Deus pela primeira vez.
A bomba em si era uma maravilha de design e construção. Não era o tipo de dispositivo construído com base em manuais da internet ou nos panfletos instrutivos que percorriam as mesquitas salafistas da Europa. Havia sido aperfeiçoada em meio aos conflitos na Palestina e na Mesopotâmia. Recheada de pregos embebidos em veneno para rato — uma prática emprestada dos homens-bomba do Hamas ?, rasgou a multidão como uma serra circular. A explosão foi tão poderosa que a Pirâmide do Louvre, a quase 2,5 quilômetros ao leste, estremeceu com a lufada de ar. Os que estavam mais próximos da bomba foram despedaçados, cortados pela metade ou decapitados, o castigo preferido para os hereges. A mais de 30 metros ainda havia membros perdidos. Nas bordas mais distantes da zona de impacto, a morte aparecia de forma cristalina. Poupados de traumas externos, alguns tinham sido mortos pela onda de choque, que destruiu seus órgãos internos como um tsunami. Deus havia sido misericordioso por deixá-los sangrar em particular.
Os primeiros gendarmes a chegar sentiram-se instantaneamente enojados pelo que viram. Havia membros espalhados pelas ruas ao lado de sapatos, relógios de pulso esmagados e congelados às 11h46 e celulares que tocavam sem parar. Num insulto final, os restos do assassino estavam misturados aos de suas vítimas — menos a cabeça, que parou sobre um caminhão de entregas a cerca de 30 metros de distância, com a expressão do homem-bomba estranhamente serena.
O ministro do Interior francês chegou dez minutos depois da explosão. Ao ver a carnificina, ele declarou: “Bagdá chegou a Paris.” Dezessete minutos depois, chegou aos Jardins de Tivoli, em Copenhague, onde, às 12h03, um segundo homem-bomba se detonou no meio de um grande grupo de crianças que esperavam impacientes para embarcar na montanha-russa do parque. O serviço de segurança dinamarquês logo descobriu que o shahid nascera em Copenhague, frequentara escolas dinamarquesas e era casado com uma dinamarquesa. Pareceu não dar importância ao fato de que os filhos dele frequentassem a mesma escola que suas vítimas.
Para os profissionais de segurança em toda a Europa, um pesadelo se tornava realidade: ataques coordenados e altamente sofisticados que pareciam ter sido planejados e executados por uma mente brilhante. Temiam que os terroristas logo voltassem a atacar, embora faltassem duas informações cruciais. Eles não sabiam onde. E não sabiam quando.
3
St. James, Londres
Mais tarde, o comando de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres gastaria muito tempo e esforço valiosos tentando reconstituir os passos de um certo Gabriel Allon naquela manhã, o lendário porém imprevisível filho da inteligência israelense agora formalmente aposentado e vivendo tranquilamente no Reino Unido. Soube-se, por relatos de seus vizinhos intrometidos, que ele havia partido de seu chalé na Cornualha poucos minutos depois do amanhecer em seu Range Rover, acompanhado por Chiara, sua bela esposa italiana. Sabia-se também, graças ao onipresente sistema de câmeras CCTV da Grã-Bretanha, que o casal tinha chegado ao centro de Londres em tempo quase recorde e que, por um ato de intervenção divina, tinha conseguido encontrar um local para estacionar legalmente em Piccadilly. De lá seguiram a pé até a Masons Yard, um tranquilo pátio retangular de pedras e comércio em St. James e apresentaram-se à porta da Isherwood Fine Arts. De acordo com a câmera no pátio, foram admitidos no recinto às 11h40, horário de Londres, embora Maggie, a medíocre secretária de Isherwood, tenha registrado errado o horário em sua agenda como 11h45.
Desde 1968 detentora de pinturas de Grandes Mestres italianos e holandeses que bem podiam estar em museus, a galeria já havia ocupado um salão na aristocrática New Bond Street, em Mayfair. Empurrado para o exílio em St. James por tipos como Hermès, Burberry e Cartier, Isherwood refugiara-se num decadente armazém de três andares que já fora da loja de departamentos Fortnum & Mason. Entre os fofoqueiros moradores de St. James, a galeria sempre foi considerada um bom teatro — comédias e tragédias, com surpreendentes altos e baixos e um ar de conspiração que sempre a envolvia. Isso se devia principalmente à personalidade de seu dono. Julian Isherwood era amaldiçoado com um defeito quase fatal para um negociante de arte — gostava mais de possuir do que de vender as obras. Ele estava sobrecarregado por um grande inventário do que é carinhosamente chamado, no mercado de arte, de estoque morto — pinturas pelas quais nenhum comprador ofereceria um bom preço. Corriam boatos de que a coleção particular de Isherwood comparava-se à da família real britânica. Até Gabriel, que já restaurava pinturas para a galeria havia mais de trinta anos, tinha apenas uma vaga ideia de todas as posses de Isherwood.
Eles o encontraram em seu escritório — uma figura alta e levemente frágil inclinada sobre uma escrivaninha atulhada de antigos catálogos e monografias. Usava um terno risca de giz e uma gravata lavanda que havia ganhado de presente num encontro na noite anterior. Como de hábito, ele parecia levemente de ressaca, uma aparência que cultivava. Seu olhar estava pesaroso, fixo na televisão.
— Suponho que tenha ouvido as notícias?
Gabriel assentiu lentamente. Ele e Chiara haviam escutado os primeiros boletins no rádio enquanto passavam pelos subúrbios no oeste de Londres. As imagens que apareciam na tela agora eram muito parecidas com as que haviam se formado na mente de Gabriel — os mortos cobertos com plástico, os sobreviventes ensanguentados, os transeuntes com as mãos no rosto, horrorizados. Nada mudava. Ele imaginou que nunca mudaria.
— Eu almocei no Fouquet na semana passada com um cliente — disse Isherwood, passando a mão por suas longas mechas grisalhas. — Nos separamos no mesmo local onde esse maníaco detonou a bomba. E se o cliente tivesse marcado o almoço para hoje? Eu poderia estar...
Isherwood parou de falar. Era uma reação típica depois de um ataque, pensou Gabriel. Os vivos sempre tentam encontrar uma conexão, por mais tênue que seja, com os mortos.
— O homem-bomba de Copenhague matou crianças — continuou Isherwood. — Você poderia me explicar, por favor, por que assassinam crianças inocentes?
— Medo — respondeu Gabriel. — Eles querem que sintamos medo.
— Quando isso vai terminar? — perguntou Isherwood, meneando a cabeça com desgosto. — Em nome de Deus, quando essa loucura vai acabar?
— Você devia saber que não adianta fazer perguntas desse tipo, Julian. — Gabriel baixou a voz e acrescentou: — Afinal, você está assistindo a essa guerra de camarote há muito tempo.
Isherwood deu um sorriso melancólico. Seu nome e perfil genuinamente ingleses ocultavam o fato de que ele não era inglês de verdade. Britânico de nacionalidade e passaporte, sim, porém alemão de nascimento, francês de formação e judeu por religião. Apenas poucos amigos de sua confiança sabiam que Isherwood tinha chegado a Londres como uma criança refugiada em 1942 depois de ser carregado pelos Pireneus cobertos de neve por dois pastores bascos. Ou que seu pai, o renomado comerciante de arte parisiense Samuel Isakowitz, tinha sido assassinado no campo de concentração de Sobibór junto com sua mãe. Apesar de Isherwood ter guardado com cuidado os segredos do passado, a história de sua dramática fuga da Europa ocupada pelos nazistas chegou aos ouvidos do serviço secreto de inteligência de Israel. E em meados dos anos 1970, durante uma onda de ataques terroristas palestinos contra alvos israelenses na Europa, ele foi recrutado como um sayan, um ajudante voluntário. Isherwood tinha apenas uma missão — ajudar a construir e manter a imagem de restaurador de arte de Gabriel Allon.
— Só não se esqueça de uma coisa — observou Isherwood. — Agora você trabalha para mim, não para eles. Isso não é problema seu, queridinho. Não mais. — Apontou o controle remoto para a televisão e as destruições em Paris e Copenhague desapareceram. — Vamos ver algo mais bonito?
O limitado espaço da galeria obrigara Isherwood a organizar seu império verticalmente — depósitos no térreo, escritórios no segundo andar e, no terceiro, uma gloriosa sala de exposição formal no modelo da famosa galeria de Paul Rosenberg em Paris, onde o jovem Julian havia passado muitas horas felizes na infância. Ao entrarem no salão, o sol do meio-dia penetrava pela claraboia, iluminando uma grande pintura a óleo sobre um pedestal coberto por um tecido grosso. Um retrato da Madona e a Criança com Maria Madalena contra um fundo noturno, obviamente da Escola de Veneza. Chiara tirou seu longo casaco de couro e sentou-se num sofá no centro da sala. Gabriel ficou bem em frente à tela, uma das mãos apoiando o queixo, a cabeça inclinada para um lado.
— Onde você o encontrou?
— Numa grande pilha de calcário na costa de Norfolk.
— E a pilha tem um dono?
— Insistem no anonimato. Basta dizer que é descendente de uma família nobre, suas propriedades são enormes e que suas reservas em dinheiro estão diminuindo num ritmo alarmante.
— Por isso pediu que tirasse algumas pinturas de suas mãos para ele se manter sem dívidas por mais um ano.
— Do jeito que ele gasta dinheiro, eu daria mais dois meses no máximo.
— Quanto você pagou por isso?
— Vinte mil.
— Quanta bondade, Julian. — Gabriel olhou para Isherwood e acrescentou: — Imagino que tenha coberto os rastros levando outras pinturas também.
— Seis peças absolutamente sem valor — confessou Isherwood. — Mas se meu palpite sobre essa estiver certo, elas valeram o investimento.
— Procedência? — perguntou Gabriel.
— Foi adquirida no Vêneto por um ancestral do proprietário enquanto fazia uma viagem pela Europa no início do século XIX. Está na família desde essa época.
— Atribuição atual?
— Oficina de Palma Vecchio.
?É mesmo? — perguntou Gabriel, cético. — De acordo com quem?
— De acordo com o perito italiano que intermediou a venda.
— Ele era cego?
— Só de um olho.
Gabriel sorriu. Muitos italianos que assessoravam a aristocracia inglesa durante suas viagens eram charlatães que faziam transações rápidas de cópias sem valor falsamente atribuídas aos mestres de Florença e Veneza. Em algumas ocasiões, se enganavam e vendiam obras legítimas. Isherwood desconfiou que a pintura no pedestal pertencesse à segunda categoria. Assim como Gabriel. Ele passou a ponta do indicador pelo rosto de Madalena, tirando o equivalente a um século de fuligem.
— Onde estava pendurado? Numa mina de carvão?
Tateou o verniz bem descolorido. Provavelmente era composto por uma resina de lentisco ou de pinho dissolvida em terebintina. A remoção seria um doloroso processo envolvendo o uso de uma mistura cuidadosamente regulada de acetona, éter glicólico e solução mineral. Gabriel podia imaginar os horrores que o esperavam quando o velho verniz fosse retirado: arquipélagos de pentimento, um deserto de rachaduras e vincos na superfície, uma quantidade enorme de pinturas escondidas por restaurações anteriores. E havia ainda as condições da tela, que se enrugara dramaticamente com o tempo. A solução era um novo revestimento, um perigoso procedimento envolvendo a aplicação de calor, umidade e pressão. Qualquer restaurador que já tivesse feito um revestimento possuía cicatrizes do trabalho. Gabriel havia destruído grande parte de uma pintura de Domenico Zampieri usando um ferro com um medidor de temperatura defeituoso. A pintura afinal restaurada, embora cristalina para olhos não treinados, demonstrava ser uma colaboração entre Zampieri e o estúdio de Gabriel Allon.
— Então? — perguntou Isherwood outra vez. — Quem pintou essa maldita coisa?
Gabriel exagerou na deliberação.
— Vou precisar de raios X para estabelecer uma atribuição definitiva.
— Vão vir aqui ainda esta tarde para levar os quadros. E nós dois sabemos que você não precisa disso para fazer uma atribuição preliminar. Você é como eu, queridinho. Está envolvido com pinturas há cem mil anos. Sabe tudo quando vê um quadro.
Gabriel pescou uma pequena lupa do bolso do casaco e usou-a para examinar as pinceladas. Inclinando-se um pouco para a frente, pôde sentir o formato familiar de uma pistola Beretta 9 mm pressionando o quadril esquerdo. Depois de trabalhar com a inteligência britânica para sabotar o programa nuclear iraniano, agora tinha permissão para portar uma arma o tempo todo para proteção. Havia recebido também um passaporte inglês, que podia ser usado livremente em viagens ao exterior, desde que não estivesse a trabalho para seu antigo serviço. Mas não havia chance de isso acontecer. A ilustre carreira de Gabriel Allon estava finalmente encerrada. Ele não era mais o anjo vingador de Israel. Era um restaurador de arte empregado pela Isherwood Fine Arts, e a Inglaterra era o seu lar.
— Você tem um palpite — disse Isherwood. — Posso ver nos seus olhos verdes.
— Tenho, sim — respondeu Gabriel, ainda absorvido pelas pinceladas ?, mas antes gostaria de uma segunda opinião.
Olhou para Chiara por cima dos ombros. Ela estava brincando com uma media de seu cabelo revolto, uma expressão levemente pensativa. Na posição em que estava, mostrava uma notáve1 semelhança com a mulher na pintura. O que não era surpresa, pensou Gabriel. Descendente de judeus expulsos da Espanha em 1492, Chiara havia sido criada no antigo gueto de Veneza. Era bem possível que algumas de suas ancestrais tivessem posado para mestres como Bellini, Veronese e Tintoretto.
— O que você acha? — perguntou Gabriel.
Chiara postou-se diante da tela ao lado de Gabriel e estalou a língua, reprovando sua condição lastimável. Embora tivesse estudado o Império Romano na faculdade, havia ajudado Gabriel em inúmeras restaurações e, durante o processo, se tornara uma formidável historiadora de arte.
— É um excelente exemplo de uma Conversação Sagrada, ou Sacra Conversazione, uma cena idílica em que os integrantes estão agrupados em uma paisagem esteticamente agradável. E como qualquer imbecil sabe, Palma Vecchio e considerado o criador dessa forma.
— O que você acha da técnica? — perguntou Isherwood, um advogado conduzindo uma testemunha favorável.
— É boa demais para Palma — respondeu Chiara. — Sua paleta de cores era incomparável, mas ele nunca foi considerado habilidoso, mesmo por seus contemporâneos.
— E a mulher posando como a Madona?
— Se eu não estiver enganada, o que é pouco provável, o nome dela é Violante. Ela aparece em várias pinturas de Palma. Mas na época havia outro famoso pintor em Veneza que dizem que gostava muito dela. O nome era...
— Tiziano Vecellio — completou Isherwood. — Mais conhecido como Ticiano.
— Parabéns, Julian — disse Gabriel, sorrindo. — Você pinçou um Ticiano pela quantia irrisória de 20 mil libras. Agora só precisa encontrar um restaurador capaz de deixá-lo perfeito.
— Quanto? — perguntou Isherwood.
Gabriel franziu a testa.
— Vai dar muito trabalho.
— Quanto? — repetiu Isherwood.
— Duzentos mil.
— Eu poderia arranjar alguém por metade desse preço.
— É verdade. Mas nós dois nos lembramos da última vez que você tentou isso.
— Quando você pode começar?
— Preciso consultar minha agenda antes de me comprometer.
— Eu faço um adiantamento de 100 mil.
— Nesse caso, eu posso começar agora mesmo.
— Vou mandar a tela para a Cornualha depois de amanhã. A questão é: quando você vai me entregar?
Gabriel não respondeu. Olhou para o relógio por um momento, como se não estivesse marcando a hora certa, e depois para a claraboia, pensativo.
Isherwood pousou a mão em seu ombro com delicadeza.
— Não é problema seu, queridinho. Não mais.
4
Covent Garden, Londres
A blitz da polícia perto da Leicester Square parou o tráfego na Charing Cross. Gabriel e Chiara atravessaram uma nuvem de fumaça dos escapamentos dos carros e seguiram pela Cranbourn Street, ladeada por pubs e cafés que atendiam as hordas de turistas que pareciam vagar sem rumo pelo Soho a qualquer hora, independentemente da estação. Gabriel olhava para a tela de seu celular. O número de vítimas em Paris e Copenhague estava subindo.
— Muito ruim? — perguntou Chiara.
— Já são 28 na Champs-Élysées e 37 nos Jardins de Tivoli.
— Eles têm alguma ideia do responsável?
— Ainda é cedo demais, mas os franceses acham que pode ser a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.
— Será que eles conseguiriam fazer dois ataques coordenados como esses?
— Eles têm células por toda a Europa e América do Norte, mas os analistas do King Saul Boulevard sempre foram céticos quanto à capacidade de eles manterem o estilo espetacular de Bin Laden.
O King Saul Boulevard era o endereço do serviço de inteligência israelense no exterior. O nome longo e propositalmente enganoso tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os que trabalhavam lá se referiam ao lugar como o Escritório e nada mais. Até mesmo agentes aposentados como Gabriel e Chiara nunca pronunciavam o verdadeiro nome da organização.
— Não me parece coisa do Bin Laden — comentou Chiara. — Parece mais...
— Bagdá — completou Gabriel. — Essa quantidade de vítimas é alta para ataques ao ar livre. A impressão é que os construtores das bombas sabiam o que estavam fazendo. Se nós tivermos sorte, ele deixou sua assinatura no local.
— Nós? — perguntou Chiara.
Gabriel guardou o telefone no bolso sem falar nada. Os dois tinham chegado ao caótico trânsito no fim da Cranbourn Street. Havia dois restaurantes italianos: o Spaghetti House e o Bella Italia. Ele olhou para Chiara e pediu que escolhesse.
— Eu não vou começar meu longo fim de semana em Londres no Bella Italia — disse Chiara franzindo a testa. — Você me prometeu um almoço decente.
— Na minha opinião, existem lugares bem piores que o Bella Italia em Londres.
— Não se você nasceu em Veneza.
Gabriel sorriu.
— Nós temos uma reserva num lugar adorável chamado Orso, na Wellington Street. É bem italiano. Achei que poderíamos passar por Covent Garden no caminho.
— Você ainda quer fazer isso?
— Nós precisamos comer, e a caminhada vai nos fazer bem.
Passaram depressa pela rotatória e entraram na Garrick Street, onde dois policiais de casacos verde-limão interrogavam o motorista de aparência árabe de uma van branca. A ansiedade dos pedestres era quase palpável. Em alguns rostos Gabriel via um medo genuíno; em outros, uma determinação inflexível de seguir em frente como sempre. Chiara segurava a mão dele com força enquanto os dois passavam pelas vitrines das lojas. Ela esperava por aquele fim de semana havia muito tempo e estava determinada a não deixar que as notícias de Paris e de Copenhague o estragassem.
— Você foi um pouco duro com Julian — falou ela. — Duzentos mil é o dobro do que você cobra normalmente.
— É um Ticiano, Chiara. Julian vai se dar muito bem.
— O mínimo que você podia fazer era aceitar o convite dele para um almoço comemorativo.
— Eu não queria almoçar com Julian. Queria almoçar com você.
— Ele queria discutir uma ideia conosco.
— Que tipo de ideia?
— Uma sociedade. Ele quer que sejamos sócios na galeria.
Gabriel diminuiu o passo e parou.
— Quero deixar uma coisa o mais claro possível: não tenho absolutamente nenhum interesse em me tornar sócio de uma empresa que só de vez em quando está no azul, como acontece com a Isherwood Fine Arts.
— Por que não?
— Por uma razão — respondeu ele, voltando a andar. — Nós não temos ideia de como tocar um negócio.
— Você já tocou vários negócios de sucesso no passado.
— Isso é fácil quando se tem o apoio de um serviço de inteligência.
— Você não está se dando o devido crédito, Gabriel. O que pode ser tão difícil em dirigir uma galeria de arte?
— Pode ser incrivelmente difícil. E como Julian já provou muitas vezes, é fácil se envolver em problemas. Até as galerias mais bem-sucedidas podem afundar-se fizerem uma aposta errada. — Gabriel olhou de soslaio e perguntou: — Quando você e Julian tramaram esse pequeno arranjo?
— Você fala como se estivéssemos conspirando pelas suas costas.
— É porque estavam mesmo.
Com um sorriso, Chiara acabou concordando.
— Foi quando estávamos em Washington na apresentação do Rembrandt. Julian me puxou de lado e disse que estava começando a pensar em se aposentar. Ele quer que a galeria fique nas mãos de alguém em quem confie.
— Julian nunca vai se aposentar.
— Eu não teria tanta certeza.
— Onde eu estava enquanto esse negócio era tramado?
— Acho que você tinha saído para uma conversa particular com uma repórter investigativa inglesa.
— Por que você não me falou nada disso até agora?
— Porque Julian pediu.
Gabriel ficou em silêncio, deixando claro que Chiara tinha violado um dos princípios fundamentais do casamento deles. Segredos, mesmo os mais triviais, eram proibidos.
— Desculpe, Gabriel. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas Julian foi inflexível. Sabia que o seu primeiro instinto seria dizer não.
— Ele poderia vender a galeria para Oliver Dimbleby num piscar de olhos e se aposentar numa ilha no Caribe.
— Você já pensou no que isso significaria para nós? Você quer mesmo restaurar pinturas para Oliver Dimbleby? Ou para Giles Pittaway? Ou acha que poderia arranjar algum trabalho freelance com a Tate ou a National Gallery?
— Parece que você e Julian já pensaram em tudo.
— Pensamos mesmo.
— Então talvez você deva ser sócia de Julian.
— Só se você restaurar pinturas para mim.
Gabriel percebeu que Chiara estava falando sério.
— Dirigir uma galeria não é só frequentar leilões glamorosos ou ir a longos almoços em restaurantes de luxo na Jermyn Street. E também não é algo que se possa considerar um passatempo.
— Obrigada por me considerar uma amadora.
— Não foi o que eu quis dizer, você sabe disso.
— Você não é o único que se aposentou do Escritório, Gabriel. Eu também me aposentei. Mas, ao contrário de você, eu não tenho Grandes Mestres danificados para ocupar o meu tempo.
— Então você quer virar uma negociante de arte? Vai passar os dias fuçando um monte de pinturas medíocres em busca de outro Ticiano perdido. E a probabilidade é de nunca encontrar um.
— Não me parece tão mau. — Chiara olhou ao redor. — E isso significa que poderíamos morar aqui.
— Achei que você gostava da Cornualha.
— Adoro. Mas não no inverno.
Gabriel ficou em silêncio. Ele vinha se preparando para uma conversa como aquela já havia algum tempo.
— Achei que nós iríamos ter um filho — falou por fim.
— Eu também — concordou Chiara. — Mas estou começando a achar que não vai ser possível. Nada que eu tento parece funcionar.
Havia um tom de resignação na voz dela que Gabriel nunca tinha ouvido.
— Então vamos continuar tentando — disse.
— Não quero que você se sinta desapontado. Foi aquela gravidez interrompida. Para mim, vai ser muito mais difícil ficar grávida outra vez. Quem sabe? Talvez uma mudança de cenário possa ajudar. Pense nisso — falou, apertando a mão dele. — É só o que estou pedindo, querido. Pode ser que gostemos de morar aqui.
Na ampla piazza do mercado de Covent Garden, um comediante de rua orientava um casal de turistas alemães a ficar numa pose que sugeria intimidade sexual, sem que eles percebessem. Chiara encostou-se numa pilastra para assistir à apresentação enquanto Gabriel fechou a cara, os olhos examinando a multidão reunida na praça e junto à mureta do restaurante Punch and Judy acima. Não estava zangado com Chiara, mas consigo mesmo. Durante anos, a relação entre os dois havia girado em torno de Gabriel e seu trabalho. Nunca lhe havia ocorrido que Chiara também pudesse ter suas próprias aspirações profissionais. Se eles fossem um casal normal, ele poderia ter considerado a proposta. Mas eles não eram um casal normal. Eram ex-agentes de um dos serviços de inteligência mais renomados do mundo. E tinham um passado sangrento demais para levar uma vida pública.
Quando se dirigiam à arrojada arcada de vidro do mercado, toda a tensão da discussão logo se dissipou. Até mesmo Gabriel, que detestava fazer compras, sentia prazer em perambular pelas tendas e lojas coloridas com Chiara a seu lado. Inebriado pelo aroma dos cabelos dela, ele imaginou a tarde que tinham pela frente — um almoço tranquilo seguido por uma agradável caminhada de volta ao hotel. Lá, na sombra fresca do quarto, Gabriel despiria Chiara devagar e faria amor na enorme cama. Por um momento, quase foi possível para Gabriel imaginar seu passado sendo apagado e suas façanhas se tornando meras lendas que juntavam poeira nos arquivos do King Saul Boulevard. Apenas o estado de alerta permanecia — a vigilância instintiva e inquietante não o deixava se sentir completamente em paz em público. Forçava-o a fazer um esboço mental de todos os rostos que passavam no mercado lotado. E na Wellington Street, quando os dois se aproximavam do restaurante, ele parou de repente. Chiara puxou-o pelo braço, de um jeito brincalhão. Depois olhou diretamente nos olhos dele e percebeu que havia algo errado.
— Parece que você viu um fantasma.
— Não um fantasma. Um homem morto.
— Onde?
Gabriel apontou com a cabeça uma figura que vestia um sobretudo de lã cinzento.
— Logo ali.
5
Covent Garden, Londres
Existem indicadores comuns reveladores de homens-bomba. Os lábios podem se movimentar involuntariamente em suas últimas preces. O olhar pode ser vidrado e distante. E o rosto às vezes pode estar pálido demais, prova de que uma barba desgrenhada foi raspada às pressas durante os preparativos para uma missão. O homem não exibia nenhuma dessas características. Os lábios estavam franzidos. O olhar estava claro e focado. E o rosto tinha uma coloração uniforme. Ele vinha se barbeando com regularidade havia algum tempo.
O que o diferenciava era a quantidade de suor escorrendo da costeleta esquerda. Por que ele suava tanto no frescor de uma tarde de outono? Se estava com calor, por que as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo? E por que o sobretudo — maior do que deveria ser, na opinião de Gabriel — estava todo abotoado? E também havia o andar. Mesmo um homem em forma, de uns 30 anos, terá dificuldade de andar normalmente quando está carregado com mais de 20 quilos de explosivos, pregos e bolas de aço. Quando passou caminhando por Gabriel na Wellington Street, ele parecia ereto demais, como se tentasse compensar o peso em torno de seu corpo. O tecido das calças de gabardine vibrava com cada passo, como se as juntas dos quadris e dos joelhos estremecessem sob o peso da bomba. Era possível que o jovem suando com um casaco exagerado fosse um inocente que simplesmente precisava fazer suas compras do dia, mas Gabriel desconfiava que não. Ele acreditava que o homem andando alguns passos à frente representava o grand finale de um dia de terror continental. Primeiro Paris, depois Copenhague, e agora Londres.
Gabriel mandou Chiara se abrigar no restaurante e atravessou rapidamente a rua. Seguiu o homem por quase 100 metros, observando quando ele virou a esquina na entrada do mercado de Covent Garden. Havia dois cafés no lado leste da piazza, ambos cheios de clientes almoçando. Em pé entre os cafés, numa réstia de sol, havia três policiais uniformizados. Nenhum deles prestou atenção ao homem que entrou.
Agora Gabriel tinha uma decisão a tomar. A atitude mais óbvia seria contar aos policiais sobre sua suspeita — óbvia, pensou, mas não necessariamente a melhor. Provavelmente a polícia reagiria à abordagem de Gabriel puxando-o de lado para um interrogatório, perdendo muitos segundos preciosos. Pior ainda, eles poderiam confrontar o homem, uma manobra que com quase toda certeza o faria provocar a explosão. Ainda que praticamente todos os policiais londrinos tivessem treinamento básico em táticas antiterroristas, poucos tinham a experiência ou o poder de fogo necessários para abater um jihadista disposto a se martirizar. Gabriel dispunha das duas coisas e já havia agido contra, homens-bomba. Passou pelos três policiais e entrou no mercado.
O homem estava agora a quase 20 metros, caminhando por uma passarela mais alta no recinto principal. Gabriel calculou que ele portava explosivos e estilhaços suficientes para matar todo mundo num raio de quase 25 metros. O procedimento recomendado era que Gabriel permanecesse fora da zona letal da explosão até chegar a hora de agir. O ambiente, porém, o compelia a diminuir a distância e se colocar num perigo maior. Um tiro na cabeça a 23 metros era difícil em quaisquer circunstâncias, mesmo para um atirador com a perícia de Gabriel Allon. Num mercado cheio de gente, seria quase impossível.
Gabriel sentiu seu celular vibrando suavemente no bolso do casaco. Ignorando-o, observou quando o homem se deteve no parapeito da passarela para consultar o relógio. Gabriel tomou nota do fato de estar no pulso esquerdo; logo, o botão do detonador devia estar na mão direita. Mas por que um homem-bomba interromperia seu caminho para ver as horas? A explicação mais plausível era que recebera ordens de terminar com sua vida e as das muitas pessoas inocentes num momento preciso. Gabriel desconfiou que havia algum tipo de simbolismo envolvido. Em geral havia. Os terroristas da Al-Qaeda e de suas ramificações adoravam simbolismos, em especial quando envolviam números.
Agora Gabriel estava próximo o bastante para ver os olhos do homem. Estavam claros e focados, um sinal animador. Significava que ele ainda estava pensando na missão e não nas delícias carnais que o esperavam no Paraíso. Quando começasse a sonhar com as houris perfumadas de olhos escuros, isso transpareceria em sua expressão. E nesse momento Gabriel teria que fazer uma escolha. Por enquanto, ele precisava que o homem continuasse neste mundo um pouco mais.
O terrorista consultou o relógio mais uma vez. Gabriel deu uma olhada rápida para o próprio relógio: 14h34. Passou os números pelo banco de dados de sua memória em busca de alguma conexão. Somou-os, subtraiu-os, multiplicou-os, inverteu-os e mudou sua ordem. Depois pensou sobre os dois ataques anteriores. O primeiro acontecera às 11h46, o segundo, às 12h03. Era possível que os números representassem anos do calendário gregoriano, mas Gabriel não viu nenhuma relação.
Apagou mentalmente as horas dos ataques e se concentrou apenas nos minutos. Quarenta e seis minutos, três minutos. Foi quando entendeu. Os horários eram tão conhecidos para ele quanto as pinceladas de Ticiano. Quarenta e seis minutos, três minutos. Eram dois dos mais famosos momentos da história do terrorismo — os minutos exatos em que os dois aviões sequestrados atingiram o World Trade Center no dia 11 de setembro. O voo 11 da American Airlines chocou-se contra a Torre Norte às 8h46. O voo 175 da United Airlines bateu na Torre Sul às 9h03. O terceiro avião a atingir seu alvo naquela manhã foi o do voo 77 da American Airlines, que foi atirado contra a face oeste do Pentágono. Às 9h37 na hora local, e 14h37 em Londres.
Gabriel consultou seu relógio digital. Haviam passado alguns segundos das 14h35. Erguendo os olhos, viu que o homem estava outra vez se movendo a passos rápidos, as mãos nos bolsos, parecendo ignorar as pessoas ao redor. Quando Gabriel começou a segui-lo, seu celular vibrou outra vez. Dessa vez ele atendeu e ouviu a voz de Chiara. Informou-a que um homem-bomba estava prestes a se explodir em Covent Garden e a instruiu a entrar em contato com o MI5. Depois guardou o telefone no bolso e começou a se aproximar do alvo. Temia que muitas pessoas inocentes estivessem prestes a morrer. E imaginava se poderia fazer algo para impedir.
6
Covent Garden, Londres
Havia outra possibilidade, é claro. Talvez o homem alguns passos à frente não tivesse nada sob o casaco a não ser alguns quilos a mais. Era inevitável se lembrar do caso de Jean Charles de Menezes, o eletricista brasileiro morto a tiros pela policia britânica na estação de Stockwell de Londres depois de ser confundido com um procurado militante islâmico. Os promotores ingleses se recusaram a fazer acusações contra os policiais envolvidos, uma decisão que provocou indignação entre os ativistas de direitos humanos e libertários civis no mundo todo. Gabriel sabia que, sob circunstâncias semelhantes, ele não poderia esperar o mesmo tratamento. Isso significava que ele teria que estar certo antes de agir. Estava confiante em relação a um ponto. Acreditava que o homem-bomba, como um pintor, assinaria o seu nome antes de apertar o botão do detonador. Iria querer que as vítimas soubessem que suas mortes iminentes não eram sem propósito, que estavam sendo sacrificadas em nome do jihad e em nome de Alá.
No momento, porém, Gabriel não tinha escolha a não ser segui-lo e esperar. Devagar, com muito cuidado, ele diminuiu a distância, fazendo pequenos ajustes em seu trajeto para manter uma linha de tiro desimpedida. Os olhos estavam focados na parte inferior do crânio do homem. Poucos centímetros abaixo estava o tálamo, região do cérebro essencial para o controle motor e sensorial do resto do corpo. Se destruísse o tálamo com uma rajada de balas, o homem-bomba não teria como apertar o botão do detonador. Se errasse o tálamo, era possível que o mártir levasse a cabo sua missão ao agonizar. Gabriel era um dos poucos homens no mundo que tinha matado um terrorista antes que ele consumasse seu ataque. Sabia que a diferença entre o sucesso e o fracasso era de uma fração de segundo. Sucesso significava que só um morreria. Fracasso resultaria na morte de muitas pessoas inocentes, talvez até mesmo dele próprio.
O homem passou pela porta que dava na piazza. Estava bem mais movimentada agora. Um violoncelista tocava uma suíte de Bach. Um imitador de Jimi Hendrix segurava uma guitarra ligada a um amplificador. Um homem bem-vestido em cima de um caixote de madeira gritava algo sobre Deus e a guerra do Iraque. O homem-bomba andou direto para o centro da praça, onde a apresentação do comediante se tornara ainda mais pervertida, para o deleite da multidão de espectadores. Usando técnicas aprendidas na juventude, Gabriel mentalmente silenciou os ruídos ao redor um por um, começando pela suave melodia da suíte de Bach e terminando com as ruidosas gargalhadas da multidão. Em seguida, olhou pela última vez para o relógio e esperou que o homem assinasse seu nome.
Eram 14h36. O terrorista tinha chegado aos limites da multidão. Parou por alguns segundos, como se buscasse um ponto fraco para adentrar, depois abriu caminho à força entre duas mulheres espantadas. Gabriel tomou outro rumo alguns metros à direita do homem, passando quase despercebido em meio a uma família de turistas norte-americanos. A multidão estava muito concentrada, e não dispersa, o que representou outro dilema para Gabriel. A munição ideal para uma situação como aquela seria uma bala de ponta oca, que infligiria maiores danos aos tecidos do alvo e reduziria substancialmente as baixas colaterais provenientes de uma penetração mais profunda. Mas a pistola Beretta de Gabriel estava carregada com balas normais Parabellum de 9 mm. Por essa razão, ele teria que se posicionar para disparar numa trajetória extrema de cima para baixo. De outra forma, havia uma grande probabilidade de matar um inocente na tentativa de salvá-lo.
O homem-bomba atravessou a barreira de pessoas e agora se dirigia diretamente para o comediante. Os olhos tinham assumido a expressão vidrada e distante. Os lábios se moviam. As preces finais... O comediante supôs que o homem queria participar da performance. Sorrindo, deu dois passos em sua direção, mas estacou quando viu as mãos dele emergirem dos bolsos do casaco. A mão esquerda estava ligeiramente aberta. A direita estava fechada, com o polegar levantado em ângulo reto. Ainda assim, Gabriel hesitou. E se não fosse um detonador? E se fosse apenas uma caneta? Ele precisava ter certeza. Declare suas intenções, pensou. Assine o seu nome.
O terrorista virou-se de frente para o mercado. Os clientes que olhavam da varanda do Punch and Judy riram nervosos, assim como alguns poucos espectadores na piazza. Em sua mente, Gabriel silenciou as risadas e congelou a imagem. A cena parecia uma pintura de Canaletto. As figuras estavam imóveis; somente Gabriel, o restaurador, era livre para se movimentar entre elas. Passou pela primeira fileira de espectadores e fixou o olhar no ponto na base do crânio. Não seria possível disparar num ângulo descendente. Mas havia outra solução para evitar baixas colaterais: uma linha de fogo de baixo para cima faria com que a bala passasse por cima da cabeça dos espectadores até atingir a fachada de um edifício próximo. Imaginou a manobra em sequência — sacar a arma com as mãos entrelaçadas, agachar, disparar, avançar — e esperou o homem-bomba assinar seu nome.
O silêncio na cabeça de Gabriel foi rompido por um grito bêbado na sacada do Punch and Judy — alguém mandando o mártir sair da frente e deixar a apresentação continuar. O terrorista reagiu erguendo os braços acima da cabeça como um maratonista rompendo a fita da linha de chegada. No lado interno do pulso direito havia um fino fio ligando o botão do detonador aos explosivos. Era toda a prova de que Gabriel precisava. Pegou sua Beretta de dentro do paletó. Em seguida, enquanto o terrorista gritava “Allahu Akbar”. Gabriel caiu sobre um joelho e ergueu a arma em direção ao alvo. Surpreendentemente, a linha de tiro estava livre, sem chance de danos secundários. Quando Gabriel ia apertar o gatilho, duas mãos empurraram com força a arma para baixo e o peso de dois homens o lançou contra o chão.
No instante em que bateu nas pedras da rua, ouviu um som retumbante e sentiu uma lufada de ar incandescente acima dele. Por alguns segundos, Gabriel não ouviu mais nada. Depois os gritos começaram, seguidos por uma ária de lamentos. Gabriel ergueu a cabeça e viu um pesadelo. Eram pedaços de corpos e sangue. Era Bagdá no Tâmisa.
7
New Scotland Yard, Londres
Existem poucos pecados mais graves para um profissional de inteligência, mesmo aposentado, do que cair sob custódia de autoridades locais. Como havia transitado por um longo tempo numa região entre o mundo público e o secreto, Gabriel tinha passado por isso com mais frequência do que a maioria de seus companheiros de viagem. A experiência lhe ensinou que havia um ritual estabelecido para tais ocasiões, que deveria ser concluído antes que a alta cúpula pudesse intervir. Ele conhecia bem o procedimento. Felizmente, seus anfitriões também.
Gabriel tinha sido detido minutos depois do ataque e conduzido em alta velocidade para a New Scotland Yard, o quartel-general da Polícia Metropolitana de Londres. Na chegada, foi levado a uma sala de interrogatório sem janelas, onde trataram de seus inúmeros cortes e escoriações e lhe serviram uma xícara de chá, que deixou intocada. Um superintendente do Comando de Contraterrorismo chegou logo depois. Examinou seus documentos de identidade com o ceticismo que mereciam e em seguida tentou determinar a sequência de eventos que levaram o “Sr. Rossi” a sacar uma arma de fogo em Covent Garden pouco antes de um terrorista se explodir. Gabriel sentia-se tentado a fazer algumas perguntas. Por exemplo, gostaria de saber por que dois especialistas em armas de fogo da divisão SO19 da polícia preferiram neutralizá-lo, e não um terrorista óbvio prestes a cometer um assassinato em massa. Em vez disso, respondeu a todas as perguntas do detetive recitando um número telefônico:
— Ligue para lá ? dizia, indicando o bloco de notas onde o detetive havia escrito o número. ? É um edifício grande não muito longe daqui. Você vai reconhecer o nome do homem que atender. Ou pelo menos deveria reconhecer.
Gabriel não soube a identidade do policial que afinal discou o número nem soube exatamente quando a ligação foi feita. Soube apenas que sua estada na New Scotland Yard durou bem mais do que o necessário. Já era quase meia-noite quando o detetive o escoltou até uma série de corredores bem iluminados em direção à entrada do prédio. Na mão esquerda ele levava um envelope de papel pardo com os pertences de Gabriel. A julgar pelo tamanho e a forma, não continha uma pistola Beretta 9 mm.
Do lado de fora, o clima agradável da tarde dera lugar a uma chuva forte. Aguardando embaixo do pórtico de vidro, com o motor ligado, encontrava-se uma limusine Jaguar escura. Gabriel pegou o envelope com o detetive e abriu a porta traseira do carro. Dentro, com as pernas cruzadas elegantemente, estava um homem que parecia ter sido projetado para a tarefa. Usava um impecável terno grafite e uma gravata prateada combinando com os cabelos. Normalmente, seus olhos claros eram inescrutáveis, mas agora revelavam o estresse de uma noite longa e difícil. Como vice-diretor do MI5, Graham Seymour carregava a pesada responsabilidade de proteger o território britânico das forças do extremismo do Islã. E mais uma vez, apesar de todos os esforços do departamento, o Islã tinha vencido.
Embora os dois homens tivessem um longo histórico profissional, Gabriel pouco sabia da vida pessoal de Graham Seymour. Sabia que Seymour era casado com uma mulher chamada Helen, que ele adorava, e que tinha um filho que era gerente da filial de Nova York de uma importante instituição financeira inglesa. O restante das informações sobre os negócios particulares de Seymour fora tirado dos volumosos arquivos do Escritório. Ele era uma relíquia do glorioso passado britânico, um produto da classe média alta que havia sido criado, educado e programado para ser líder. Acreditava em Deus, mas não com muito fervor. Acreditava em seu país, mas não era cego às suas falhas. Jogava bem golfe e outros esportes, mas dispunha-se a perder para um oponente inferior a serviço de uma causa valiosa. Era um homem admirado e, o mais importante, um homem confiável — um raro atributo entre espiões e agentes secretos.
No entanto, Graham Seymour não era um homem de paciência ilimitada, como revelava sua expressão soturna quando o Jaguar se pôs em movimento. Retirou um exemplar do Telegraph da manhã seguinte do bolso do banco da frente e o jogou no colo de Gabriel. A manchete dizia reinado de terror. Abaixo viam-se três fotografias mostrando o resultado dos três ataques. Gabriel examinou a foto de Covent Garden em busca de algum sinal de sua presença, mas havia apenas vítimas. Era a imagem de um fracasso, pensou — dezoito pessoas mortas, dezenas gravemente feridas, inclusive um dos policiais que o imobilizara. E tudo por causa do tiro que não permitiram que Gabriel disparasse.
— Um dia terrível — disse Seymour demonstrando cansaço. — Imagino que a única maneira de piorar é se a imprensa descobrir sobre você. Quando as teorias da conspiração forem concluídas, o mundo islâmico vai acreditar que os ataques foram planejados e executados pelo Escritório.
— Pode ter certeza de que isso já está acontecendo. — Gabriel devolveu o jornal e perguntou: — Onde está minha esposa?
— Está no seu hotel. Há uma equipe minha no saguão. — Seymour fez uma pausa. — Desnecessário dizer que ela não está muito satisfeita com você.
— Como você sabe? — Os ouvidos de Gabriel ainda zuniam por causa da concussão provocada pela explosão. Fechou os olhos e se perguntou como as equipes da SO19 conseguiram localizá-lo tão rapidamente.
— Como você deve imaginar, nós temos um amplo suporte técnico à nossa disposição.
— Como meu celular e sua rede de câmeras CCTV?
— Exato — concordou Seymour. — Conseguimos localizar você poucos segundos depois de receber a ligação de Chiara. Encaminhamos a informação para o Comando Dourado, o centro operacional de crises da Polícia Metropolitana, que imediatamente despachou duas equipes de especialistas em armas de fogo.
— Eles deviam estar nas imediações.
— Estavam — confirmou Seymour. — Estamos em alerta vermelho depois dos ataques em Paris e Copenhague. Várias equipes já estavam mobilizadas no distrito financeiro e em locais onde costuma haver aglomerações de turistas.
Então por que eles me atacaram e não o homem-bomba?
— Porque nem a Scotland Yard nem o Serviço de Segurança queriam uma reprise do fiasco Menezes. Em consequência da morte dele, inúmeros procedimentos e diretrizes foram implementados para evitar que algo do gênero se repita. Basta dizer que um único alerta não atende às disposições de uma ação letal, nem mesmo se por acaso a fonte é Gabriel Allon.
— E por causa disso dezoito pessoas foram mortas?
— E se ele não fosse um terrorista? E se fosse apenas um ator de rua ou alguém com problemas mentais? Nós teríamos sido crucificados.
— Mas não era um ator de rua nem um maluco, Graham. Era um homem-bomba. E eu disse isso a você.
— Como você sabia?
— Só faltava ele estar com um cartaz avisando.
— Era assim tão óbvio?
Gabriel listou os atributos que levantaram suas suspeitas e depois explicou os cálculos que o levaram a concluir que a explosão seria às 14h37. Seymour meneou a cabeça devagar.
— Já perdi a conta de quantas horas gastamos treinando nossos policiais para localizar possíveis terroristas, sem mencionar os milhões de libras que aplicamos no software de identificação de comportamento da CCTV. Ainda assim um homem-bomba do jihad andou por Covent Garden sem ninguém perceber. Ninguém além de você, é claro.
Seymour caiu num silêncio profundo. O automóvel seguia para o norte ao longo da Regent Street, intensamente iluminada. Cansado, Gabriel apoiou a cabeça no vidro da janela e perguntou se o terrorista havia sido identificado.
— O nome dele é Farid Khan. Os pais imigraram para o Reino Unido vindos de Lahore no fim dos anos 1970, mas Farid nasceu em Londres. Em Stepney Green, para ser exato. Como muitos muçulmanos ingleses de sua geração, ele rejeitou as convicções religiosas moderadas e apolíticas dos pais e se tornou islamita. No fim dos anos 1990, ele passava muito tempo na mesquita de East London em Whitchapel Road. Em pouco tempo se tornou integrante de destaque dos grupos radicais de Hizb ut-Tahrir e Al-Muhajiroun.
— Está parecendo que vocês tinham a ficha dele.
— Nós tínhamos ? concordou Seymour mas não pelas razões que você poderia imaginar. Veja bem, Farid Khan era um raio de sol, nossa esperança para o futuro. Ou ao menos foi o que pensamos.
— Você achou que ele poderia trabalhar para o outro lado?
— Seymour assentiu.
— Pouco depois do 11 de Setembro, Farid entrou para um grupo chamado New Beginnings. Seu objetivo era desprogramar militantes e reintegrá-los à opinião pública vigente do Islã e da Inglaterra. Farid era considerado um de seus grandes sucessos. Raspou a barba. Cortou relacionamentos com os velhos amigos. Formou-se entre os primeiros da turma na King’s College e arranjou um emprego bem pago numa pequena agência de publicidade em Londres. Algumas semanas atrás, ficou noivo de uma mulher de sua antiga vizinhança.
— Aí você o removeu de sua lista.
— De certa forma. Agora parece que foi tudo uma inteligente dissimulação. Farid era uma bomba-relógio prestes a explodir.
— Alguma ideia de quem o ativou?
— Estamos examinando os registros dos telefones e computadores neste exato momento, bem como o vídeo suicida que ele deixou. Está claro que o ataque está ligado aos atentados em Paris e Copenhague. Se foram coordenados pelos remanescentes da central da Al-Qaeda ou por uma nova rede é agora uma questão de intensos debates. Seja qual for o caso, não é da sua conta. Seu papel neste caso está oficialmente encerrado.
O Jaguar atravessou a Cavendish Place e parou na entrada do Hotel Langham.
— Eu gostaria de ter minha arma de volta.
— Vou ver o que posso fazer ? disse Seymour.
— Quanto tempo vou ter que ficar aqui?
— A Scotland Yard gostaria que você ficasse em Londres pelo resto do fim de semana. Na segunda de manhã você pode voltar para o seu chalé à beira-mar e só ficar pensando no seu Ticiano.
— Como você sabe do Ticiano?
— Eu sei de tudo. Tudo menos como evitar que um muçulmano nascido na Inglaterra cometa um assassinato em massa em Covent Garden.
— Eu poderia ter impedido isso, Graham.
— Poderia ? concordou Seymour com frieza. ? E teríamos retribuído o favor fazendo você em pedaços.
Gabriel desceu do carro sem falar mais nada.
— “Seu papel neste caso está oficialmente encerrado” — murmurou ao entrar no saguão. Repetiu isso inúmeras vezes, como um mantra.
8
Nova York
Naquela mesma noite, o outro universo habitado por Gabriel Allon também estava agitado, mas por razões muito diferentes. Era a temporada de leilões do outono em Nova York, uma época de ansiedade em que o mundo da arte, em todas as suas loucuras e excessos, reúne-se durante duas semanas num frenesi de compras e vendas. Como Nicholas Lovegrove gostava de dizer, era uma das poucas ocasiões em que ser muito rico não era algo considerado fora de moda. No entanto, era também um negócio mortalmente sério. Grandes coleções seriam montadas, grandes fortunas seriam construídas e perdidas. Uma só transação poderia deslanchar uma carreira brilhante. Mas também poderia destruí-la.
A reputação profissional de Lovegrove, como a de Gabriel Allon, estava firmemente estabelecida naquela noite. Nascido e educado na Inglaterra, era o consultor de arte mais procurado no mundo — um homem tão poderoso que podia influenciar o mercado apenas fazendo uma observação casual ou torcendo o elegante nariz. Seu conhecimento de arte era lendário, e também o tamanho de sua conta bancária. Lovegrove não precisava mais garimpar clientes; eles o procuravam, em geral de joelhos ou com promessas de altas comissões. O segredo do sucesso de Lovegrove estava no olhar infalível e na discrição. Lovegrove nunca traiu a confiança de ninguém; nunca fez fofocas ou se envolveu em negócios escusos. Era a ave mais rara no negócio de artes — um homem de palavra.
Apesar da reputação, Lovegrove estava acometido por seu habitual nervosismo pré-leilão enquanto se apressava pela Sexta Avenida. Depois de anos de preços em queda e vendas anêmicas, o mercado de arte começava, afinal, a dar sinais de renovação. Os primeiros leilões da temporada haviam sido respeitáveis, mas ficaram abaixo das expectativas. A venda daquela noite, de arte pós— guerra e contemporânea na Christie’s, tinha o potencial de incendiar o mundo das artes. Como de hábito, Lovegrove tinha clientes em ambos os lados do leilão. Dois eram vendedores, enquanto um terceiro queria adquirir o Lote 12, Ocher and Red on Red, óleo sobre tela, de Mark Rothko. O cliente em questão era tão único que Lovegrove nem sabia seu nome. Suas transações eram com um certo Sr. Hamdali em Paris, que por sua vez tratava com o cliente. O arranjo não era feito da forma tradicional, mas, da perspectiva de Lovegrove, era bastante lucrativo. Só durante os últimos doze meses, o colecionador havia adquirido mais de 200 milhões de dólares em pinturas. As comissões de Lovegrove nessas vendas passavam de 20 milhões. Se esta noite as coisas corressem de acordo com o planejado, seu lucro líquido aumentaria substancialmente.
Ele entrou na Rua 49 e andou meio quarteirão até a entrada da Christie’s. O imponente saguão envidraçado era um mar de diamantes, seda, egos e colágeno. Lovegrove parou um instante para beijar a bochecha perfumada de uma atraente herdeira alemã antes de continuar em direção à chapelaria, onde logo foi abordado por dois negociantes do Upper East Side. Rechaçou ambos com um gesto, pegou sua placa do leilão e subiu para o salão de vendas.
Levando-se em conta toda a intriga e o glamour envolvidos, o salão era surpreendentemente comum, uma mistura de saguão da Assembleia Geral das Nações Unidas com uma igreja evangélica de cultos televisivos. As paredes eram de um tom sem graça de bege e cinza, assim como as cadeiras dobráveis aglomeradas para aproveitar ao máximo o espaço limitado. Atrás de uma espécie de púlpito via-se uma vitrine giratória e, perto dela, uma mesa telefônica operada por meia dúzia de funcionários da Christie’s. Lovegrove ergueu os olhos para os camarotes, esperando divisar um ou dois rostos atrás do vidro fumê, depois andou com cautela em direção aos repórteres que se amontoavam como gado no canto do fundo. Escondendo o número de sua placa, passou rápido por eles e se dirigiu a seu lugar habitual na frente da sala. Era a Terra Prometida, o local onde todos os marchands, consultores e colecionadores esperavam um dia sentar. Não era um lugar para quem tivesse o coração fraco ou pouco dinheiro. Lovegrove se referia a ele como “zona da matança”.
O leilão estava programado para começar às seis. Francis Hunt, o leiloeiro-chefe da Christie’s, garantiu cinco minutos adicionais à irrequieta plateia para se acomodar antes de ocupar o seu assento. Ele tinha modos polidos e uma divertida cortesia inglesa que por alguma inexplicável razão ainda fazia os norte-americanos se sentirem inferiores. Na mão direita ele segurava o famoso “livro negro” que continha os segredos do universo, ao menos no que dizia respeito àquela noite. Cada lote à venda tinha sua própria página com informações como a reserva do vendedor, um mapa mostrando a localização dos prováveis compradores e a estratégia de Hunt para obter o maior lance possível. O nome de Lovegrove aparecia na página dedicada ao Lote 12, o Rothko. Durante uma inspeção privada pré-venda, Lovegrove insinuou que talvez estivesse interessado, mas só se o preço fosse apropriado e as estrelas estivessem no alinhamento certo. Hunt sabia que Lovegrove estava mentindo, é claro. Hunt sabia de tudo.
Desejou a todos uma boa-noite e, em seguida, com toda a pompa de um mestre de cerimônias de uma grande festa, disse: — Lote 1, o Twombly.
Os lances começaram de imediato, subindo rápido de 100 mil em 100 mil dólares. O leiloeiro administrava com habilidade o processo junto a dois auxiliares de penteados irretocáveis que se pavoneavam e posavam atrás do púlpito como modelos masculinos numa sessão de fotos. Lovegrove talvez se impressionasse com a performance se não soubesse que tudo era cuidadosamente coreografado e ensaiado. Os lances pararam em 1,5 milhão, mas foram reavivados por um lance por telefone de 1,6 milhão. Seguiram-se mais cinco lances em rápida sucessão, e nesse ponto os lances cessaram pela segunda vez.
— O lance é de 2,1 milhões, com Cordelia ao telefone — entoou Hunt, os olhos movendo-se sedutores pela plateia. — Não está com a madame, nem com o senhor. Dois ponto um, ao telefone, pelo Twombly. Último aviso. Última chance. — O martelo desceu com um baque. — Obrigado — murmurou Hunt enquanto registrava a transação em seu livro negro.
Depois do Twombly veio o Lichtenstein, seguido pelo Basquiat, o Diebenkorn, o De Kooning, o Johns, o Pollock e uma série de Warhols. Todos os trabalhos alcançaram mais do que a estimativa pré-venda e mais do que o lote anterior. Não foi por acaso; Hunt tinha organizado os leilões com inteligência de forma a criar uma escala ascendente de excitação. No momento em que o Lote 12 chegou à vitrine, ele tinha a plateia e os compradores na palma da mão.
— À minha direita temos o Rothko — anunciou. — Vamos começar os lances em 12 milhões?
Eram 2 milhões acima da estimativa pré-venda, um sinal de que Hunt esperava que a obra vendesse muito bem. Lovegrove tirou um celular do bolso do paletó Brioni e digitou um número de Paris. Hamdali atendeu. A voz dele soava como um chá morno adoçado com mel.
— Meu cliente gostaria de sentir um pouco o ambiente antes de fazer o primeiro lance.
— Bem pensado.
Lovegrove colocou o telefone no colo e cruzou os dedos. Logo ficou claro que seria uma árdua batalha. Lances se precipitaram em direção a Hunt de todos os cantos do recinto e dos funcionários da Christie’s que operavam os telefones. Hector Candiotti, consultor de arte de um magnata da indústria belga, brandia a placa no ar com agressividade, uma técnica conhecida como rolo compressor. Tony Berringer, que trabalhava para um oligarca russo do alumínio, fazia lances como se sua vida dependesse daquilo, o que bem podia ser possível. Lovegrove esperou até o preço chegar a 30 milhões antes de pegar o telefone.
— Então? — perguntou com a voz calma.
— Ainda não, Sr. Lovegrove.
Dessa vez Lovegrove manteve o telefone no ouvido. Em Paris, Hamdali falava com alguém em árabe. Infelizmente, não era uma das várias línguas que Lovegrove falava com fluência. Para passar o tempo, perscrutou os camarotes, em busca de compradores secretos. Num deles percebeu uma linda jovem, segurando um celular. Alguns segundos depois, Lovegrove notou algo mais. Quando Hamdali falava, a mulher ficava em silêncio. E quando a mulher falava, Hamdali não dizia nada. Provavelmente era uma coincidência, pensou. Ou não.
— Talvez seja o momento de fazer um teste — sugeriu Lovegrove, os olhos na mulher no camarote.
— Talvez você tenha razão — replicou Hamdali. — Um momento, por favor.
Hamdali murmurou algumas palavras em árabe. Logo depois, a mulher no camarote falou em seu celular. Depois, em inglês, Hamdali falou: — O cliente concorda, Sr. Lovegrove. Por favor, faça seu primeiro lance.
A oferta estava em 34 milhões. Arqueando uma única sobrancelha, Lovegrove aumentou em 1 milhão.
— Nós temos 35 — disse Hunt, num tom que indicava que um novo predador de respeito tinha entrado na disputa.
Hector Candiotti reagiu de imediato, assim como Tony Berringer. Dois compradores por telefone empurraram o preço para o limite de 40 milhões. Então Jack Chambers, o rei do mercado imobiliário, casualmente fez um lance de 41. Lovegrove não estava muito preocupado com Jack. O caso com aquela sirigaita de Nova Jersey tinha saído caro no divórcio. Jack não tinha fundos para ir muito além.
— A oferta está em 41 contra você — sussurrou Lovegrove ao telefone.
— O cliente acredita que tudo não passa de pose.
— Trata-se de um leilão de arte na Christie’s. Pose é praxe.
— Paciência, Sr. Lovegrove.
Lovegrove mantinha os olhos na mulher no camarote quando os lances alcançaram a marca de 50 milhões. Jack Chambers fez um último lance de 60; Tony Berringer e seu gângster russo fizeram as honras com 70. Hector Candiotti desistiu da disputa.
— Parece que está entre nós e os russos — disse Lovegrove ao homem em Paris.
— Meu cliente não se importa com os russos.
— O que o seu cliente gostaria de fazer?
— Qual é o recorde de um Rothko num leilão?
— É de 72 e uns trocados.
— Por favor, faça um lance de 75.
— É demais. Você nunca...
— Faça o lance, Sr. Lovegrove.
Lovegrove arqueou uma sobrancelha e ergueu cinco dedos.
— O lance é de 75 milhões — disse Hunt. — Não está com o senhor. Nem com o senhor. Temos 75 milhões pelo Rothko. Último aviso. Última chance. Todos de acordo?
O martelo foi batido.
Um suspiro perpassou o recinto. Lovegrove olhou para o camarote, mas a mulher já havia ido embora.
9
Península do Lagarto, Cornualha
Com a aprovação da Scotland Yard, do Home Office e do primeiro-ministro britânico, Gabriel e Chiara voltaram à Cornualha três dias depois do atentado em Covent Garden. Madona e a Criança com Maria Madalena, óleo sobre tela, 110 por 92 centímetros, chegou às dez horas da manhã seguinte. Depois de retirar a pintura com todo o cuidado de seu estojo de proteção, Gabriel colocou-a no velho cavalete de carvalho da sala de estar e passou o resto da tarde examinando os raios X. As fantasmagóricas imagens apenas reforçaram sua opinião de que o quadro era de fato um Ticiano, aliás, um belo Ticiano.
Como fazia muitos meses que Gabriel não punha as mãos numa pintura, ele estava ansioso para começar a trabalhar logo. Levantou-se cedo na manhã seguinte, preparou uma tigela de café au lait e imediatamente se lançou à delicada tarefa de revestir a tela. O primeiro passo era colar toalhas de papel sobre a imagem para evitar mais danos à pintura durante o procedimento. Existiam inúmeras colas de fácil aquisição apropriadas à tarefa, mas Gabriel sempre preferiu fazer seu próprio aderente usando a receita que havia aprendido em Veneza do mestre restaurador Umberto Conti — pelotas da cola de rabo de coelho dissolvidas numa mistura de água, vinagre, bile de boi e melaço.
Cozinhou lentamente o malcheiroso preparado no fogão da cozinha até adquirir a consistência de um xarope e assistiu ao noticiário matinal na BBC enquanto esperava a mistura esfriar. Farid Khan era agora um nome conhecido no Reino Unido. Em vista da sincronia precisa de seu ataque, a Scotland Yard e a inteligência britânica operavam com base na tese de que estava ligado aos atentados em Paris e em Copenhague. Ainda não estava clara a que organização terrorista os homens-bomba pertenciam. O debate entre especialistas na televisão era intenso, com um dos lados proclamando que os ataques foram orquestrados pela antiga liderança da Al-Qaeda no Paquistão, enquanto outro declarava que era obviamente o trabalho de uma nova rede que ainda iria aparecer no radar da inteligência do Ocidente. Fosse qual fosse o caso, as autoridades europeias se preparavam para novos derramamentos de sangue. O Centro de Análise Conjunta do Terrorismo do MI5 tinha subido o nível de ameaça para “crítico”, o que significava que era esperado outro ataque iminente.
Gabriel teve sua atenção atraída para uma reportagem sobre a conduta da Scotland Yard logo antes do ataque. Numa declaração formulada com todo o cuidado, o comissário da Polícia Metropolitana admitiu ter recebido um alerta sobre um homem suspeito com um casaco grande demais dirigindo-se a Covent Garden. Lamentavelmente, disse o comissário, a informação não atingiu o nível de especificidade exigido para ação letal. Em seguida confirmou que dois agentes do SO19 haviam sido despachados para Covent Garden, mas que, dentro da política atual, eles não deveriam atirar. Quanto aos relatos de uma arma sendo sacada, a polícia tinha interrogado o homem envolvido e concluído que não era uma arma, e sim uma câmera. Por razões de privacidade, a identidade do homem não seria revelada. A imprensa pareceu aceitar a versão da polícia, assim como os representantes dos direitos civis, que aplaudiram a atitude comedida da polícia mesmo com a morte de dezoito inocentes.
Gabriel desligou a televisão quando Chiara entrou na cozinha. Ela abriu de imediato a janela para tirar o mau cheiro de bile de boi e vinagre e repreendeu Gabriel por ter sujado sua panela de aço inoxidável favorita. Gabriel sorriu e mergulhou a ponta do indicador na mistura. Agora já estava fria o bastante para ser usada. Com Chiara espiando por cima do ombro dele, Gabriel aplicou a cola sobre o verniz amarelado de maneira uniforme e grudou diversas toalhas de papel na superfície. O trabalho de Ticiano estava invisível agora, e assim ficaria por muitos dias até que o novo revestimento fosse finalizado.
Gabriel não podia fazer mais nada naquela manhã a não ser verificar a pintura de tempos em tempos para saber se a cola estava secando de forma adequada. Sentou-se no caramanchão de frente para o mar, um notebook no colo, e pesquisou na internet por mais informações sobre os três ataques. Sentiu-se tentado a contactar o King Saul Boulevard, mas achou melhor não. Já não tinha informado Tel Aviv sobre seu envolvimento em Covent Garden, e fazer isso agora só daria a seus ex-colegas uma desculpa para se intrometerem em sua vida. Gabriel aprendera com a experiência que era melhor tratar o Escritório como uma ex-namorada. O contato devia ser mínimo e o melhor é que ocorresse em lugares públicos, onde seria inapropriado criar confusão.
Pouco antes do meio-dia, as últimas lufadas dos ventos da noite passaram pela enseada de Gunwalloe, deixando o céu claro e de um azul cristalino. Depois de checar mais uma vez a pintura, Gabriel vestiu um agasalho e um par de botas de caminhada e saiu para seu passeio diário pelos penhascos. Na tarde anterior ele tinha caminhado para o norte ao longo do Caminho Costeiro até Praa Sands. Agora subiu a pequena inclinação atrás do chalé e partiu para o sul em direção à ponta da península.
Não demorou muito para a magia da costa da Cornualha espantar os pensamentos sobre os mortos e feridos em Covent Garden. Quando Gabriel chegou aos limites do Mullion Golf Club, a última imagem terrível já estava escondida em segurança debaixo de uma camada de tinta. Enquanto seguia para o sul, passando pelo afloramento rochoso dos penhascos de Polurrian, ele só pensava no trabalho a ser feito no Ticiano. No dia seguinte removeria com todo o cuidado a pintura do esticador e fixaria a tela mole numa faixa de linho italiano, pressionando-a com firmeza no lugar com um pesado ferro de passar. Depois viria a mais longa e árdua fase da restauração: a remoção do verniz quebradiço e amarelado e o retoque das porções de pintura danificadas pelo tempo e a pressão. Enquanto alguns restauradores costumavam ser agressivos nos retoques, Gabriel era conhecido no mundo da arte pela leveza do toque e a fantástica habilidade de imitar as pinceladas dos Grandes Mestres. Ele acreditava ser dever de um restaurador passar despercebido, não deixando evidência alguma a não ser a pintura devolvida à sua glória original.
Quando Gabriel chegou à ponta norte da enseada de Kynance, uma linha de nuvens negras obscurecia o sol e o vento do mar tinha ficado bem mais frio. Como arguto observador do caprichoso clima da Cornualha, ele percebeu que o “intervalo brilhante”, como os meteorologistas britânicos gostavam de chamar os períodos de sol, estava prestes a ter um fim abrupto. Parou por um momento, pensando onde poderia se abrigar. Para o leste, depois da paisagem que se assemelhava a uma colcha de retalhos, estava o vilarejo do Lagarto. Bem à frente estava a ponta. Gabriel escolheu a segunda opção. Ele não queria encurtar sua caminhada por causa de algo trivial como uma rajada de vento passageira. Além do mais, havia um bom café no alto do penhasco, onde ele poderia esperar a tempestade comendo um bolinho recém-assado e tomando um bule de chá.
Levantou a gola do agasalho e seguiu pela orla da enseada enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O café apareceu sob um véu de névoa. Na base dos penhascos, abrigando-se próximo a uma casa de barcos abandonada, viu um homem de uns 25 anos com cabelos curtos e óculos escuros sobre a cabeça. Um segundo homem encontrava-se no alto do ponto de observação, olhando por um telescópio que funcionava com a inserção de moedas. Gabriel sabia que o telescópio estava inativo havia meses.
Parou de andar e olhou em direção ao café assim que um terceiro homem saiu para a varanda. Tinha um chapéu impermeável enterrado até as sobrancelhas e óculos sem aro muito usados por intelectuais alemães e banqueiros suíços. Sua expressão era de impaciência — de um executivo atarefado forçado pela esposa a tirar férias. Olhou diretamente para Gabriel por um longo tempo antes de erguer um punho largo em direção ao rosto e consultar o relógio. Gabriel sentiu-se tentado a virar na direção oposta, mas preferiu baixar o olhar e continuar andando. Melhor fazer isso em público, pensou. Reduziria as chances de uma confusão.
10
Ponta do Lagarto, Cornualha
— Você tinha mesmo que pedir bolinhos? — perguntou Uzi Navot, ressentido.
— São os melhores da Cornualha. Assim como o creme talhado.
Navot não se mexeu. Gabriel deu um sorriso perspicaz.
— Bella quer que você perca quantos quilos?
— Três. Depois eu preciso manter o peso — respondeu Navot com pesar, como se fosse uma sentença de prisão. — O que eu não daria para ter seu metabolismo. Você é casado com uma das maiores cozinheiras do mundo, mas ainda tem o corpo de um jovem de 25 anos. Eu? Sou casado com uma das mais destacadas peritas em assuntos sobre a Síria do país e não posso nem me aproximar de um doce. Talvez seja hora de pedir a Bella para pegar mais leve com as restrições alimentares.
— Peça você — replicou Navot. — Todos esses anos estudando os baatistas de Damasco deixaram sequelas. Às vezes acho que vivo numa ditadura.
Os dois estavam sentados a uma mesa isolada perto das janelas golpeadas pela chuva, Gabriel de frente para o interior, Navot, para o mar. Uzi vestia calças de cotelê e um suéter bege que ainda cheiravam ao departamento masculino da loja da Harrods. Depositou o chapéu numa cadeira próxima e passou a mão no cabelo curto louro-avermelhado. Estava um pouco mais grisalho do que Gabriel se lembrava, mas era compreensível. Uzi Navot era agora o chefe do serviço de inteligência de Israel. Os cabelos grisalhos eram um dos muitos benefícios secundários do trabalho.
Se o breve mandato de Navot terminasse agora, era quase certo que seria considerado um dos mais bem-sucedidos na longa e renomada história do Escritório. As honras concedidas a ele eram resultado da operação Obra-Prima, o empreendimento conjunto anglo-americano-israelense que ocasionou a destruição de quatro instalações nucleares secretas iranianas. Muitos dos créditos eram de Gabriel, ainda que Navot preferisse não se estender muito nesse ponto. Ele só foi nomeado chefe porque Gabriel recusou o posto repetidas vezes. E as quatro usinas de enriquecimento ainda estariam funcionando se Gabriel não tivesse identificado e recrutado o empresário suíço que vendia peças para os iranianos em segredo.
No momento, porém, os pensamentos de Navot pareciam focados apenas no prato de bolinhos. Incapaz de continuar resistindo, ele escolheu um, partiu-o com grande cuidado e lambuzou-o com geleia de morango e um bocado de creme talhado. Gabriel colocou chá em sua xícara e perguntou calmamente sobre o propósito daquela visita não anunciada. Fez isso em alemão fluente, que ele falava com o sotaque berlinense de sua mãe. Era uma das cinco línguas que compartilhava com Navot.
— Eu tinha vários assuntos a discutir com minhas contrapartes britânicas. Na pauta estava um surpreendente relatório sobre um de nossos ex-agentes que agora vive aposentado aqui sob a proteção do MI5. Havia um grande alarde a respeito desse agente e o atentado de Covent Garden. Para ser honesto, fiquei um pouco em dúvida quando ouvi. Conhecendo bem esse agente, não conseguia imaginar que ele arriscasse sua posição na Inglaterra fazendo algo tão tolo como sacar uma arma em público.
— O que eu deveria ter feito, Uzi?
— Deveria ter chamado o seu contato no MI5 e lavado as mãos.
— E se você estivesse numa situação semelhante?
— Se estivesse em Jerusalém ou em Tel Aviv, eu não teria hesitado em abater o canalha. Mas aqui... Acho que teria considerado antes as possíveis consequências das minhas ações.
— Dezoito pessoas morreram, Uzi.
— Considere-se com sorte por não terem sido dezenove. — Navot tirou os óculos de armação alongada, algo que costumava fazer antes de se envolver numa conversa desagradável. — Sinto-me tentado a perguntar se você realmente pretendia fazer o disparo. Mas em vista de seu treinamento e seus feitos passados, acho que sei a resposta. Um agente do Escritório saca a arma em campo por uma razão e apenas por uma razão. Não a fica sacudindo como um gângster ou faz ameaças vazias. Simplesmente puxa o gatilho e atira para matar. — Navot fez uma pausa, depois acrescentou: — Faça com os outros antes que eles tenham oportunidade de fazer com você. Acredito que essas palavras podem ser encontradas na página 12 do pequeno livro vermelho de Shamron.
— Ele sabe sobre Covent Garden?
— Você já sabe a resposta. Shamron sabe de tudo. Aliás, eu não ficaria surpreso se ele não tivesse ouvido sobre sua pequena aventura antes de mim. Apesar de minhas tentativas de mantê-lo na aposentadoria, ele insiste em permanecer em contato com suas fontes dos velhos tempos.
Gabriel acrescentou umas gotas de leite a seu chá e mexeu devagar. Shamron... O nome era quase sinônimo da história de Israel e de seus serviços de inteligência. Depois de lutar na guerra que levou à reconstituição de Israel, Ari Shamron passou os sessenta anos seguintes protegendo o país de uma horda de inimigos dispostos a destruí-lo. Tinha penetrado nas cortes de reis, roubado segredos de tiranos e matado incontáveis adversários, às vezes com as próprias mãos, às vezes com as mãos de homens como Gabriel. Apenas um segredo fugia a Shamron — o segredo da satisfação. Já idoso e com a saúde em frangalhos, agarrava-se desesperadamente a seu papel de eminência parda do establishment de segurança de Israel e ainda se metia nos negócios internos do Escritório como se fosse seu feudo. Não era a arrogância que motivava Shamron, mas, sim, um constante temor de que todo o seu trabalho tivesse sido em vão. Embora próspero na economia e forte na área militar, Israel continuava cercado por um mundo que era, em sua maior parte, hostil a sua existência. O fato de Gabriel ter escolhido morar nesse mundo estava entre as maiores decepções de Shamron.
— Estou surpreso de ele mesmo não ter vindo — comentou Gabriel.
— Ele teve vontade.
— E por que não veio?
— Não é mais tão fácil para ele viajar.
— Qual o problema agora?
— Tudo — respondeu Navot, dando de ombros. — Atualmente ele mal sai de Tiberíades. Só fica na varanda olhando para o lago. Gilah está ficando louca. Tem me pedido para arrumar alguma coisa para ele fazer.
— Será que devo fazer uma visita?
— Ele não está no leito de morte, se é o que está insinuando. Mas você deveria fazer uma visita logo. Quem sabe? Talvez você resolva gostar do seu país outra vez.
— Eu adoro o meu país, Uzi.
— Mas não o suficiente para viver lá.
— Você sempre me lembrou um pouco Shamron — disse Gabriel, franzindo a testa ?, mas agora essa semelhança é impressionante.
— Gilah me disse a mesma coisa pouco tempo atrás.
— Eu não disse que isso é um elogio.
— Nem ela. — Navot acrescentou outra colher de sopa de creme talhado ao bolinho com um cuidado exagerado.
— Então, por que você está aqui, Uzi?
— Quero oferecer uma oportunidade única.
?Você está falando como um vendedor.
— Eu sou um espião. Não tem muita diferença.
— O que você quer oferecer?
— Uma oportunidade de reparar um erro.
— E qual foi esse erro?
— Você deveria ter acertado Farid Khan antes de ele apertar o botão do detonador. — Navot baixou a voz e acrescentou, confiante: — É o que eu teria feito, se estivesse no seu lugar.
— E como eu poderia reparar esse erro de julgamento?
— Aceitando um convite.
— De quem?
Navot olhou em silêncio para o oeste.
— Dos norte-americanos? — perguntou Gabriel.
Navot sorriu.
— Mais chá?
A chuva parou tão de repente quanto começou. Gabriel deixou dinheiro em cima da mesa e acompanhou Navot pelo caminho íngreme até a enseada de Polpeor. O guarda-costas ainda estava encostado na rampa em escombros da casa de barcos. Olhou com falsa indiferença quando Gabriel e Navot caminharam juntos pela praia rochosa até a beira da água. Navot deu um olhar distraído para seu relógio de aço inoxidável e levantou a gola do casaco para se proteger do tempestuoso vento do mar. Gabriel ficou mais uma vez surpreso com a incrível semelhança com Shamron, que não era apenas superficial. Era como se Ari, pela pura força de sua vontade indomável, tivesse de alguma forma possuído Navot de corpo e alma. Não era o Shamron enfraquecido pela idade e pela doença, pensou Gabriel, mas o homem em seu auge. Só o que faltava eram os malditos cigarros turcos que destruíram a saúde de Shamron. Bella nunca tinha deixado Navot fumar, nem mesmo como disfarce.
— Quem está por trás dos atentados, Uzi?
— Até agora, não conseguimos estabelecer isso com certeza. Os norte-americanos, porém, acham que se trata da futura face do terror jihadista global, o novo Bin Laden.
— E esse novo Bin Laden tem um nome?
— Os norte-americanos insistem em partilhar essa informação pessoalmente com você. Querem que você vá a Washington, com todas as despesas pagas, claro.
— Como foi feito esse convite?
— Adrian Carter me ligou.
Adrian Carter era o diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA.
— Qual é o código de vestuário?
— Preto. Sua visita aos Estados Unidos jamais terá acontecido.
Gabriel encarou Navot em silêncio por um momento.
— Obviamente você quer que eu vá, Uzi, ou não estaria aqui.
— Mal não pode fazer. Na pior das hipóteses, vai nos dar uma oportunidade de ouvir o que os norte-americanos têm a dizer sobre os atentados. Mas existem outros benefícios indiretos também.
— Tais como?
— Nosso relacionamento pode se dar bem com alguns retoques.
— Que tipo de retoques?
— Você não soube? Washington está de cara nova. A mudança está no ar — observou Navot com sarcasmo. — O novo presidente dos Estados Unidos é um idealista. Acredita que pode consertar as relações entre o Ocidente e o Islã e está convencido de que nós somos parte do problema.
— Então a solução sou eu, um ex-assassino com o sangue de vários palestinos e terroristas islâmicos nas mãos?
— Quando os serviços de inteligência se dão bem, isso tende a se alastrar para a política, por isso o primeiro-ministro também está ansioso para que você faça a viagem.
— O primeiro-ministro? Daqui a pouco você vai me dizer que Shamron também está envolvido.
— E está. — Navot pegou uma pedra e atirou-a ao mar. — Depois da operação no Irã, eu me permiti pensar que Shamron poderia afinal sumir. Eu estava enganado. Ele não tem intenção de me deixar dirigir o Escritório sem sua interferência constante. Mas isso não surpreende, não é, Gabriel? Nós dois sabemos que Shamron tinha outra pessoa em mente para o trabalho. Eu estou destinado a figurar na história de nosso ilustre serviço como o chefe acidental. E você sempre será o escolhido.
— Escolha outra pessoa, Uzi. Estou aposentado, lembra? Mande outra pessoa para Washington.
— Adrian não quer nem ouvir falar disso — disse Navot, esfregando o ombro. — Nem Shamron. Quanto a sua pretensa aposentadoria, terminou no momento em que você resolveu seguir Farid Khan em Covent Garden.
Gabriel olhou para o mar e visualizou o resultado do tiro não disparado: sangue e corpos despedaçados, Bagdá no Tâmisa. Navot pareceu adivinhar o que ele estava pensando e se aproveitou.
— Os norte-americanos querem você em Washington amanhã bem cedo. Haverá um Gulfstream à sua espera perto de Londres. Foi um dos aviões usados no programa de sequestros de prisioneiros. Eles me garantiram que removeram as algemas e agulhas hipodérmicas.
— E quanto a Chiara?
— O convite é individual.
— Ela não pode ficar aqui sozinha.
— Graham concordou em mandar uma equipe de segurança de Londres.
— Eu não confio neles, Uzi. Leve-a para Israel com você. Ela pode ajudar Gilah a cuidar do velho por alguns dias até eu voltar.
— Talvez ela fique lá por algum tempo.
Gabriel examinou Navot com atenção. Dava para notar que ele sabia mais do que estava dizendo. Ele sempre sabia.
— Eu acabei de concordar em restaurar um quadro para Julian Isherwood.
— Um Madona e a Criança com Maria Madalena, outrora atribuído ao estúdio de Palma Vecchio, agora talvez atribuído a Ticiano, dependendo da revisão de especialistas.
— Muito impressionante, Uzi.
— Bella tem tentado ampliar meus horizontes.
— O quadro não pode ficar num chalé vazio perto do mar.
— Julian concordou em pegar o quadro de volta. Como você deve imaginar, ele ficou bastante desapontado.
— Eu ia receber 200 mil libras por esse trabalho.
— Não olhe para mim, Gabriel. O caixa está vazio. Fui obrigado a fazer cortes em todos os níveis dos departamentos. Os contadores estão querendo inclusive que eu diminua minhas despesas pessoais. Minha diária é uma miséria.
— Ainda bem que você está de dieta.
Navot levou a mão à barriga de forma inconsciente, como se quisesse verificar se tinha aumentado desde que saiu de casa.
— É um longo caminho até Londres, Uzi. Talvez seja melhor você levar alguns bolinhos.
— Nem pense nisso.
— Tem medo de que Bella descubra?
— Eu sei que ela vai descobrir. — Navot olhou para o guarda-costas encostado na rampa da casa de barcos. — Esses canalhas contam tudo para ela. É como viver numa ditadura.
11
Georgetown, Washington
A casa ficava no quarteirão 3300 da N Street, uma das elegantes residências com terraço e preços apenas ao alcance dos mais ricos de Washington. Gabriel subiu a escada em curva da entrada à meia-luz da aurora e, como instruído, entrou sem tocar a campainha. Adrian Carter esperava no vestíbulo, usando calça de algodão vincada, um suéter de gola olímpica e um blazer de cotelê marrom-claro. Combinado com seu cabelo escasso e despenteado e um bigode fora de moda, o traje lhe dava o ar de um professor de uma pequena universidade, do tipo que defende nobres causas e é sempre uma dor de cabeça para o reitor. Como diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA, no momento Carter só defendia uma causa: manter o território norte-americano a salvo de ataques terroristas ? embora duas vezes por mês, se a agenda permitisse, ele pudesse ser encontrado no porão de sua igreja episcopal no subúrbio de Reston preparando refeições para os sem-teto. Para Carter, o trabalho voluntário era uma meditação, uma rara oportunidade de se envolver com algo que não fosse o destrutivo estado de guerra que sempre assolava as salas de reunião da vasta comunidade de inteligência dos Estados Unidos.
Cumprimentou Gabriel com a circunspecção natural dos homens que vivem no mundo da clandestinidade e o conduziu para dentro. Gabriel parou um momento no centro do corredor e olhou ao redor. Protocolos secretos haviam sido feitos e rompidos naquelas salas de mobília sem graça; homens foram seduzidos para trair seus países em troca de valises cheias de dólares e promessas de proteção norte-americana. Carter tinha usado tantas vezes aquela casa que ela era conhecida em Langley como seu pied-à-terre de Georgetown. Um espertinho da Agência a havia batizado como Dar-al-Harb, que em árabe quer dizer “Casa da Guerra”. Era uma guerra encoberta, claro, pois Carter não conhecia outra forma de lutar.
Adrian Carter não tinha procurado o poder intencionalmente. Bloco a bloco, foi jogado em seus ombros estreitos sem que ele quisesse. Recrutado pela Agência ainda antes de se formar, passou a maior parte da carreira travando uma guerra secreta contra os russos — primeiro na Polônia, onde canalizava dinheiro e mimeógrafos para o Solidariedade; depois em Moscou, onde trabalhou como chefe de base; e finalmente no Afeganistão, onde incentivou e armou os soldados de Alá, mesmo sabendo que um dia eles mandariam fogo e morte sobre ele. Se o Afeganistão acabaria se mostrando a causa de destruição do Império do Mal, também permitiria a Carter um avanço na carreira. Ele não monitorou o colapso da União Soviética em campo, mas de um confortável escritório em Langley, onde tinha sido promovido havia pouco a chefe da Divisão Europeia. Enquanto seus subordinados comemoravam abertamente a morte do inimigo, Carter observava os eventos se desdobrarem com um mau pressentimento. Sua amada Agência falhara em prever o colapso do comunismo, um erro grave que assombraria Langley durante anos. Pior ainda: num piscar de olhos, a CIA tinha perdido a própria razão de sua existência.
Isso mudou na manhã do dia 11 de setembro de 2011. A guerra que se seguiu seria uma guerra travada nas sombras, um lugar que Adrian Carter conhecia muito bem. Enquanto o Pentágono lutava para elaborar uma reação militar ao horror do 11 de Setembro, foi Carter e sua equipe do Centro de Contraterrorismo que produziram um ousado plano para destruir o santuário afegão da Al-Qaeda com uma guerrilha montada pela CIA e conduzida por uma pequena força de agentes especiais norte-americanos. E quando os comandantes e soldados de infantaria da Al-Qaeda começaram a cair nas mãos dos Estados Unidos, foi Carter, de sua escrivaninha em Langley, que com frequência atuou como júri e juiz. As prisões secretas, os sequestros extraordinários, os métodos brutos de interrogatório — tudo tinha o dedo de Carter. Ele não lamentava suas ações; não podia se dar a esse luxo. Para Adrian Carter, todas as manhãs eram 12 de setembro. Nunca mais, jurou, ele veria norte-americanos se atirando de arranha-céus em chamas atingidos por terroristas.
Durante dez anos, Carter tinha conseguido manter essa promessa. Ninguém tinha feito mais para proteger o território dos Estados Unidos de um segundo ataque previsto com muita antecedência, embora, por seus muitos pecados secretos, ele tenha sido crucificado pela imprensa e ameaçado por processos criminais. Aconselhado por advogados da Agência, ele contratou os serviços de um caro advogado de Washington, uma extravagância que drenava suas economias e obrigou sua esposa, Margaret, a voltar a dar aulas. Amigos tinham insistido com Carter para esquecer a Agência e aceitar um cargo lucrativo na crescente indústria de segurança privada de Washington, mas ele recusou. Seu fracasso em evitar os ataques de 11 de setembro ainda o perseguia. E os fantasmas dos três mil mortos o incitavam a continuar lutando até o inimigo ser derrotado.
A guerra tinha cobrado seu preço de Carter — não apenas a vida de sua família, que estava em ruínas, mas também sua saúde. Seu rosto estava magro e cansado, e Gabriel percebeu um leve tremor na mão direita dele quando encheu um prato, sem nenhum entusiasmo, com iguarias do governo dispostas sobre um bufê na sala de jantar.
— Pressão alta — explicou Carter, ao se servir de café de uma garrafa térmica. — Começou no dia da posse do presidente e sobe e desce de acordo com o nível de ameaça terrorista. É triste dizer, mas depois de dez anos lutando contra o terror islâmico, parece que me tornei um medidor ambulante de ameaça nacional.
— Em que nível estamos hoje?
— Você não ouviu falar? Nós abandonamos o antigo sistema de cores.
— O que sua pressão está dizendo?
— Vermelho — respondeu Carter secamente. — Vermelho vivo.
— Não é o que diz sua diretora de segurança interna. Ela diz que não há ameaças iminentes.
— Nem sempre ela escreve seus próprios discursos.
— Quem escreve?
— A Casa Branca. E o presidente não gosta de alarmar o povo norte-americano sem necessidade. Além do mais, aumentar o nível de ameaça entraria em conflito com a narrativa conveniente que ronda todas as conversas de Washington hoje em dia.
— Que narrativa é essa?
— A que diz que os Estados Unidos reagiram com sucesso ao 11 de Setembro. A que diz que a Al-Qaeda deixou de ser uma ameaça, principalmente para o país mais poderoso da face da terra. A que diz que chegou a hora de declarar vitória na guerra global ao terror e voltar a atenção para dentro. — Carter franziu a testa. — Meu Deus, eu odeio quando jornalistas usam a palavra "narrativa”. Houve uma época em que os romancistas escreviam narrativas e os jornalistas se contentavam em relatar os fatos. E os fatos são bastante simples. Existe no mundo atual uma força organizada que quer enfraquecer ou até destruir o Ocidente com atos de violência indiscriminada. Essa força e parte de um movimento radical mais abrangente para impor a lei da charia e restaurar o califado islâmico. E nenhum pensamento positivo vai eliminar esse fato.
Os dois se sentaram frente a frente numa mesa retangular. Carter pegou a ponta de um croissant murcho, os pensamentos claramente em outro lugar. Gabriel sabia que era melhor não apressar nada. Numa conversa, Carter acabava divagando um pouco. Chegaria ao essencial, mas haveria vários desvios e digressões ao longo do caminho, e todas se mostrariam úteis para Gabriel no futuro.
— Sob alguns aspectos, eu simpatizo com o desejo do presidente de virar a pagina da história — continuou Carter. — Ele acha que a guerra global ao terrorismo desvia a atenção de objetivos maiores. Pode ser difícil de acreditar, mas eu só o encontrei em duas ocasiões. Ele me chama de Andrew.
— Mas pelo menos ele nos deu esperança.
— Esperança não é uma estratégia aceitável quando vidas estão em risco. Foi a esperança que nos levou ao 11 de Setembro.
— Então quem está dando as cartas dentro do governo?
— James McKenna, consultor do presidente para segurança interna e contraterrorismo, também conhecido como o czar do terrorismo, o que é interessante, pois ele emitiu um decreto banindo a palavra “terrorismo” de todos os nossos pronunciamentos públicos. Chega a desencorajar até mesmo o uso no âmbito particular. E Deus nos livre se mencionarmos a palavra “islâmico” junto. Segundo James McKenna, não estamos engajados numa guerra contra terroristas islâmicos. Estamos engajados num esforço internacional contra um pequeno grupo de extremistas transnacionais. Esses extremistas, por um acaso também muçulmanos, são irritantes, mas não representam uma verdadeira ameaça contra nossa existência ou estilo de vida.
— Diga isso às famílias dos que morreram em Paris, Copenhague e Londres.
— Isso é uma resposta emocional — observou Carter com ironia. — E James McKenna não tolera emoções quando se fala de terrorismo.
— Você quer dizer extremismo — comentou Gabriel.
— Me perdoe — disse Carter. — McKenna é um animal político que se vê como um perito em inteligência. Trabalhou com o Comitê Seleto de Inteligência do Senado nos anos 1990 e veio para Langley logo depois da chegada dos gregos. Ficou só alguns meses, mas isso não o impede de se definir como um veterano da CIA. Ele diz ser um homem da Agência que, de coração, só quer o melhor para a instituição. A verdade é um tanto diferente. Ele odeia a Agência e todos os que trabalham ali. Acima de tudo, ele me detesta.
— Por quê?
— Parece que eu o deixei constrangido durante uma reunião de diretoria. Não me lembro do incidente, mas parece que McKenna nunca conseguiu superar. Além disso, me disseram que McKenna me considera um monstro que fez um mal irreparável para a imagem dos Estados Unidos no mundo. Nada o faria mais feliz do que me ver atrás das grades.
— É bom saber que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está funcionando bem outra vez.
— Na verdade, McKenna acha que está tudo bem agora que ele comanda o espetáculo. Conseguiu até se fazer nomear presidente do nosso Grupo de Interrogatório de Prisioneiros de Alto Valor. Se uma figura importante do terrorismo for capturada em qualquer parte do mundo, sob quaisquer circunstâncias, James McKenna será o encarregado de questioná-la. É muito poder para uma pessoa só, mesmo que essa pessoa seja competente. Mas, infelizmente, James McKenna não se enquadra nessa categoria. Ele é ambicioso, é bem-intencionado, mas não sabe o que está fazendo. E se não tomar cuidado, vai acabar nos matando.
— Parece encantador — observou Gabriel. — Quando vou conhecê-lo?
— Nunca.
— Então por que estou aqui, Adrian?
— Você está aqui por causa de Paris, Copenhague e Londres.
— Quem foi o responsável?
— Uma nova ramificação da Al-Qaeda. Mas receio que eles sejam apoiados por uma pessoa que ocupa um cargo sensível e poderoso na inteligência ocidental.
— Quem?
Carter não respondeu. Sua mão direita estava tremendo.
CONTINUA
Aposentado do serviço secreto israelense, o restaurador de arte Gabriel Allon decide passar um fim de semana em Londres com a esposa, Chiara, Mas seus sentidos estão sempre em alerta, sobretudo depois dos recentes atentados suicidas em Paris e Copenhague.
Em meio à multidão, Gabriel detecta um suspeito. Um homem-bomba. Quando está prestes a atirar para matar, ele é detido pela polícia britânica e acaba presenciando um terrível massacre.
Já de volta a sua casa na Cornualha e ainda assombrado por não ter sido capaz de impedir o ataque, o agente é convocado a comandar um esquema global contra a guerra santa muçulmana. Uma nova rede terrorista se espalha pela Europa e só há uma solução para derrotá-la: infiltrar um agente duplo.
A espiã ideal é uma bilionária saudita que vive de dissimulações transitando entre os mundos islâmico e ocidental. Treinada por Allon ela deve evitar que o terror se dissemine.
Numa trama que espelha as tensões e conflitos da atualidade, Gabriel precisa identificar o inimigo para, enfim, chegar a seu covil: o plácido porém implacável deserto da Arábia Saudita.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/11_RETRATO_DE_UMA_ESPI_.webp
Parte Um
Morte no jardim
1
Península do Lagarto, Cornualha
Foi o Rembrandt que resolveu o mistério de uma vez por todas. Mais tarde nas estranhas lojas onde faziam suas compras e nos pequenos e escuros pubs à beira-mar onde tomavam seus drinques, eles iriam recriminar uns aos outros por não terem percebido os sinais óbvios e dariam boas risadas de algumas de suas mais extravagantes teorias sobre a verdadeira natureza do trabalho dele. Pois nem em seus sonhos mais loucos alguém pensou na possibilidade de o homem taciturno que morava no extremo da enseada de Gunwalloe ser um restaurador de arte, quanto mais um restaurador mundialmente famoso.
Não era o primeiro forasteiro a surgir na Cornualha com um segredo, mas poucos o tinham guardado com tanto zelo e tanta classe. Havia chamado atenção a maneira peculiar com que ele conseguira uma casa para si mesmo e sua linda esposa, muito mais jovem. Depois de escolher o pitoresco chalé do penhasco — sem que ninguém soubesse ?, pagou os doze meses de aluguel adiantado, e um obscuro advogado em Hamburgo cuidou discretamente de toda papelada. Ocupou o chalé duas semanas depois, como se estivesse liderando um ataque a um posto avançado inimigo. Os que o encontraram em suas primeiras incursões no vilarejo ficaram surpresos com sua notável falta de franqueza. Ele parecia não ter nome — pelo menos não um que quisesse compartilhar — nem um país de origem que qualquer um conseguisse identificar. Duncan Reynolds, aposentado havia trinta anos do trabalho na ferrovia e considerado o mais mundano dos moradores de Gunwalloe, o descreveu como “um homem enigmático”, enquanto outras definições variavam entre “reservado” e “insuportavelmente mal-educado”. Mesmo assim, todos concordavam que, para o bem ou para o mal, o pequeno vilarejo no oeste da Cornualha tinha se tornado um lugar muito mais interessante.
Com o passar do tempo, descobriram que o nome dele era Giovanni Rossi e que, como sua esposa, era descendente de italianos. E tudo se tornou ainda estranho quando eles começaram a notar carros do governo cheios de homens rondando as ruas do vilarejo tarde da noite. Depois foram os dois sujeitos que as vezes pescavam na enseada. A opinião de todos é que eram os piores pescadores que já tinham visto. Aliás, a maioria supôs que nem mesmo fossem pescadores. Como costuma acontecer em pequenos vilarejos como Gunwalloe, teve início um intenso debate sobre a verdadeira identidade do recém-chegado e a natureza de seu trabalho — um debate que afinal cessou com a descoberta do Retrato de uma jovem, óleo sobre tela, de 104 por 86 centímetros, de Rembrandt van Rijn.
Nunca se soube exatamente quando o quadro chegou. Achavam que havia sido em meados de janeiro, pois foi quando perceberam uma mudança drástica em sua rotina. Um dia ele estava andando pelos penhascos escarpados da península do Lagarto como se estivesse lutando contra uma consciência culpada; no dia seguinte estava diante de um cavalete na sala de estar, um pincel numa das mãos e uma paleta na outra, ópera tocando tão alto que seu lamento podia ser ouvido do outro lado de Mounts Bay em Marazion. Como seu chalé era muito próximo do Caminho Costeiro, era possível — se alguém parasse no lugar exato e esticasse o pescoço no ângulo certo — vê-lo em seu estúdio. No início, imaginaram que estivesse trabalhando numa pintura de sua autoria. Mas com o lento passar das semanas, ficou claro que ele estava envolvido no ofício conhecido como conservação ou, mais comumente, restauração.
— Que diabo significa isso? — perguntou Malcolm Braithwaite, um pescador de lagosta aposentado que cheirava sempre a mar, certa noite no Lamb and Flag Pub.
— Significa que ele está consertando aquela coisa — respondeu Duncan Reynolds. — Uma pintura é como um ser vivo, respirando. Quando fica velha, esfarela e se enruga. Como você, Malcolm.
— Ouvi dizer que é uma jovem.
— Bonitinha — disse Duncan, assentindo. — Bochechas da cor de maçãs. Com certeza é comível.
— Nós conhecemos o pintor?
— Ainda estamos averiguando.
E averiguaram mesmo. Consultaram muitos livros, buscaram em muitos sites, foram atrás de pessoas que sabiam mais sobre arte do que eles — uma categoria que incluía a maior parte da população do oeste da Cornualha. Finalmente, no início de abril, Dottie Cox, da loja do vilarejo, tomou coragem para simplesmente perguntar à linda jovem italiana sobre a pintura quando ela veio fazer compras na cidade. A mulher se esquivou da pergunta com um sorriso ambíguo e, com a sacola de palha ao ombro, voltou para a enseada, o cabelo exuberante agitado pelo vento da primavera. Minutos depois de sua chegada, o lamento da ópera cessou e as persianas das janelas do chalé se fecharam.
Continuaram fechadas ao longo da semana seguinte, quando o restaurador e a esposa desapareceram de repente. Durante vários dias, os moradores de Gunwalloe temeram que eles não voltassem mais, e alguns se repreenderam por terem bisbilhotado e se intrometido nos negócios particulares do casal. Certa manhã, ao folhear o Times em sua loja, Dottie Cox reparou numa reportagem de Washington sobre a descoberta de um retrato de Rembrandt há muito perdido — um retrato exatamente igual ao que estava no chalé. E assim o mistério foi resolvido.
Por coincidência, na mesma edição do Times, na primeira página, havia um artigo sobre uma série de misteriosas explosões em quatro instalações nucleares iranianas. Ninguém em Gunwalloe imaginou que poderia haver uma conexão. Pelo menos não por enquanto.
Dava para notar que o restaurador era um homem mudado quando voltou da América. Embora continuasse reservado — ainda não era um tipo que você gostaria de encontrar de surpresa no escuro ?, estava claro que um fardo tinha sido retirado de seus ombros. De vez em quando avistavam um sorriso em seu rosto anguloso, e o brilho em seus olhos verdes parecia de uma tonalidade menos defensiva. Até mesmo suas longas caminhadas diárias estavam diferentes. Antes ele pisoteava o caminho como um homem possuído; agora ele parecia pairar acima dos penhascos cobertos pela névoa como um espírito que voltara para casa depois de muito tempo numa terra distante.
— Parece que ele foi liberado de um voto secreto — observou Vera Hobbs, dona da padaria. Mas quando alguém pediu para arriscar um palpite sobre o voto, ou com quem havia se comprometido, ela não respondeu. Como todos os outros no vilarejo, tinha se mostrado uma tola ao tentar adivinhar a ocupação do homem. — Além do mais, é melhor deixá-lo em paz. Senão, da próxima vez que ele e a linda esposa saírem da península, vai ser para sempre.
De fato, enquanto aquele glorioso verão passava, os futuros planos do restaurador se tornaram a principal preocupação de todo o vilarejo. Como o contrato de aluguel do chalé expirava em setembro e não havia nenhuma evidência de que seria renovado, eles se engajaram em convencê-lo a ficar. Decidiram que o restaurador precisava de algo para prendê-lo na costa da Cornualha — um trabalho que exigisse suas habilidades únicas, algo a fazer além de caminhar pelos penhascos. Eles não tinham ideia do que seria exatamente esse trabalho e de quem poderia oferecê-lo, mas confiaram a si mesmos a delicada tarefa de descobrir isso.
Depois de muitas deliberações, foi Dottie Cox quem finalmente surgiu com a ideia do Primeiro Festival Anual de Belas-Artes de Gunwalloe, e o famoso restaurador Giovanni Rossi seria o presidente honorário. Fez a proposta para a esposa do restaurador na manhã seguinte, quando ela apareceu na loja na hora de sempre. A mulher riu por alguns minutos. A oferta era lisonjeira, comentou depois de recuperar a compostura, mas ela achava que não era o tipo de coisa com que o signor Rossi concordaria. A recusa oficial aconteceu pouco depois e a ideia do festival foi por água abaixo. Mas não houve problema: poucos dias depois, eles souberam que o restaurador tinha renovado o contrato por um ano. Mais uma vez, o aluguel foi pago adiantado e o mesmo advogado obscuro de Hamburgo cuidou de toda a papelada.
Assim, a vida voltou ao que poderia ser chamado de normal. Continuaram a ver o restaurador no meio da manhã quando fazia compras com a esposa e também no meio da tarde quando andava pelos penhascos de casaco e boina puxada para a frente. E se ele se esquecia de cumprimentar alguém da forma apropriada, ninguém se ofendia. Se ele se sentia desconfortável com algo, deixavam-no à vontade para fazer do seu jeito. E se um estranho chegasse ao povoado, observavam cada movimento até que ele fosse embora. O restaurador e a esposa poderiam ter vindo da Itália, mas agora pertenciam à Cornualha, e que os céus ajudassem o tolo que tentasse tirá-los de lá outra vez.
No entanto, algumas pessoas da península acreditavam que havia mais naquela história — e um homem em particular achava que sabia o que era. Seu nome era Teddy Sinclair, dono de uma pizzaria muito boa em Helston, com um pendor para teorias da conspiração, grandes e pequenas. Teddy acreditava que os pousos na Lua eram uma farsa, que o 11 de Setembro fora armado pelo governo e que o homem da enseada de Gunwalloe estava escondendo mais que uma habilidade secreta para restaurar pinturas.
Para provar de uma vez por todas que tinha razão, convocou os moradores ao Lamb and Flag na segunda quinta-feira de novembro e revelou um esquema que parecia um pouco a tabela periódica. O propósito era estabelecer, sem a menor sombra de dúvida, que as explosões nas instalações nucleares iranianas eram trabalho de um lendário oficial de inteligência israelense chamado Gabriel Allon — e que o mesmo Gabriel Allon estava agora vivendo em paz em Gunwalloe com o nome de Giovanni Rossi. Quando as gargalhadas finalmente diminuíram, Duncan Reynolds disse que era a coisa mais idiota que já tinha ouvido desde que um francês decidiu que a Europa devia ter uma moeda em comum. Mas dessa vez Teddy permaneceu firme, o que era o certo a fazer. Teddy poderia estar enganado sobre o pouso na Lua e o 11 de Setembro, mas no que dizia respeito ao homem de enseada de Gunwalloe, sua teoria era perfeitamente verdadeira.
Na manhã seguinte, Dia do Armistício, o vilarejo acordou com a notícia de que o restaurador e a esposa tinham desaparecido. Em pânico. Vera Hobbs correu até a enseada e espiou pelas janelas do chalé. As ferramentas do restaurador estavam espalhadas por uma mesa baixa, e apoiada no cavalete havia a pintura de uma mulher nua deitada num sofá. Vera demorou a perceber que o sofá era idêntico ao da sala de estar e que a mulher era a mesma que ela via todas as manhãs na padaria. Apesar do constrangimento, Vera não conseguiu desviar o olhar, pois era uma das pinturas mais extraordinárias e belas que já vira. Era também um bom sinal, ela pensou enquanto caminhava de volta para o povoado. Uma pintura como aquela não era algo que um homem deixaria para trás ao sair de um lugar. Os dois iriam acabar voltando. E que os céus ajudassem aquele maldito Teddy Sinclair se não voltassem.
2
Paris
A primeira bomba explodiu às 11h46 na avenida Champs-Élysées, em Paris. O diretor do serviço de segurança francês falaria mais tarde que não tinha recebido alerta do ataque iminente, uma afirmação que seus detratores poderiam ter considerado risível se o número de mortos não fosse tão alto. Os sinais de alerta eram claros, disseram. Só um cego ou ignorante não notaria.
Do ponto de vista da Europa, o momento do ataque não poderia ter sido pior. Após décadas de gastos excessivos na área social, a maior parte do continente estava oscilando à beira de um desastre fiscal e monetário. As dívidas subiam, os caixas estavam vazios e seus mimados cidadãos ficavam cada vez mais velhos e desiludidos. Austeridade era a ordem do dia. No clima vigente, nada era considerado sagrado; sistema de saúde, bolsas de estudo, patrocínio artístico e até benefícios de aposentados estavam sofrendo cortes drásticos. Na chamada periferia da Europa, as economias menores estavam tombando num efeito dominó. A Grécia naufragava lentamente no Egeu, a Espanha estava na UTI e o Milagre Irlandês tinha se transformado em nada mais que uma miragem. Nos elegantes salões de Bruxelas, muitos eurocratas ousavam dizer em voz alta o que já fora impensável: que o sonho de uma integração europeia estava morrendo. E em seus momentos mais sombrios, alguns deles imaginavam se a Europa como eles conheciam não estaria morrendo também.
Mais uma crença estava se deteriorando naquele novembro — a convicção de que a Europa poderia absorver um interminável fluxo de imigrantes muçulmanos das antigas colônias enquanto preservava sua cultura e seu modo de vida. O quis tinha começado como um programa temporário para atenuar a falta de emprego após a guerra agora alterava permanentemente todo o continente. Agitados subúrbios muçulmanos rodeavam quase todas as cidades e diversos países pareciam destinados a ter uma população de maioria muçulmana antes do fim do século. Nenhuma autoridade havia se dado ao trabalho de consultar a população nativa da Europa antes de escancarar os portões, e agora, depois de anos de relativa passividade, os europeus começavam a reagir. A Dinamarca havia imposto restrições rigorosas contra casamentos de imigrantes. A França vetara o uso de véu cobrindo todo o rosto em público. E os suíços, que mal toleravam uns aos outros, tinham decidido manter suas pequenas e bem cuidadas cidades livres de desagradáveis minaretes. Os líderes da Inglaterra e da Alemanha haviam declarado que o multiculturalismo, a religião virtual da Europa pós-cristianismo, estava morto. A maioria não se curvaria mais ao desejo da minoria, afirmaram. Nem faria vista grossa ao extremismo que florescia em seu seio. Parecia que o antigo embate da Europa com o Islã tinha entrado numa fase nova e potencialmente perigosa. Eram muitos os que temiam que fosse uma luta desigual. Um dos lados estava velho, cansado, satisfeito consigo mesmo. O outro podia ser levado a um furor assassino por causa de alguns rabiscos num jornal dinamarquês.
Nenhum outro lugar da Europa expunha esses problemas de forma tão clara quanto Clichy-sous-Bois, o inflamável banlieue árabe próximo de Paris. Epicentro dos tumultos mortais que varreram a França em 2005, o subúrbio tinha uma das taxas de desemprego mais elevadas do país, assim como os mais altos índices de crimes violentos. Tão perigoso era Clichy-sous-Bois que até mesmo a polícia francesa hesitava em entrar em seus fervilhantes cortiços — inclusive no cortiço onde morava Nazim Kadir, um argelino de 26 anos, funcionário do renomado restaurante Fouquet, com doze integrantes de sua grande família.
Naquela manhã de novembro, ele saiu de seu apartamento ainda em meio à escuridão para se purificar numa mesquita construída com dinheiro saudita e administrada por um imame treinado na Arábia Saudita que não falava francês. Depois de cumprir o mais importante pilar do Islã, ele tomou o ônibus 601AB até Le Raincy e em seguida embarcou num trem RER até a Gare Saint-Lazare. Lá, fez baldeação para o metrô de Paris e a etapa final de sua viagem. Em nenhum momento ele despertou suspeitas das autoridades ou dos passageiros. Seu casaco pesado escondia um colete com explosivos.
Saiu da estação George V em sua hora habitual, 11h40, e tomou a avenida Champs-Élysées. Os que tiveram a sorte de escapar do inferno que se seguiu diriam mais tarde que não havia nada incomum em sua aparência, embora o dono de uma popular floricultura afirmasse ter notado uma curiosa determinação em seu andar quando ele se aproximou da entrada do restaurante. Entre os que estavam do lado de fora havia um representante do ministro da Justiça, um apresentador de jornal da televisão francesa, uma modelo que estampava a capa da edição atual da Vogue, um mendigo cigano segurando a mão de uma criança e um ruidoso grupo de turistas japoneses. O homem-bomba consultou o relógio pela última vez. Depois abriu o zíper do casaco.
Não se sabe ao certo se houve o tradicional brado de “Allahu Akbar”. Diversos sobreviventes afirmaram ter ouvido; muitos outros juraram que o homem-bomba detonou o dispositivo em silêncio. Quanto ao som da explosão, os que estavam mais próximos não tinham memória alguma, pois os tímpanos foram muito afetados. Todos só conseguiram se lembrar de uma luz branca cegante. Era a luz da morte, disseram. A luz que se vê no momento em que se confronta Deus pela primeira vez.
A bomba em si era uma maravilha de design e construção. Não era o tipo de dispositivo construído com base em manuais da internet ou nos panfletos instrutivos que percorriam as mesquitas salafistas da Europa. Havia sido aperfeiçoada em meio aos conflitos na Palestina e na Mesopotâmia. Recheada de pregos embebidos em veneno para rato — uma prática emprestada dos homens-bomba do Hamas ?, rasgou a multidão como uma serra circular. A explosão foi tão poderosa que a Pirâmide do Louvre, a quase 2,5 quilômetros ao leste, estremeceu com a lufada de ar. Os que estavam mais próximos da bomba foram despedaçados, cortados pela metade ou decapitados, o castigo preferido para os hereges. A mais de 30 metros ainda havia membros perdidos. Nas bordas mais distantes da zona de impacto, a morte aparecia de forma cristalina. Poupados de traumas externos, alguns tinham sido mortos pela onda de choque, que destruiu seus órgãos internos como um tsunami. Deus havia sido misericordioso por deixá-los sangrar em particular.
Os primeiros gendarmes a chegar sentiram-se instantaneamente enojados pelo que viram. Havia membros espalhados pelas ruas ao lado de sapatos, relógios de pulso esmagados e congelados às 11h46 e celulares que tocavam sem parar. Num insulto final, os restos do assassino estavam misturados aos de suas vítimas — menos a cabeça, que parou sobre um caminhão de entregas a cerca de 30 metros de distância, com a expressão do homem-bomba estranhamente serena.
O ministro do Interior francês chegou dez minutos depois da explosão. Ao ver a carnificina, ele declarou: “Bagdá chegou a Paris.” Dezessete minutos depois, chegou aos Jardins de Tivoli, em Copenhague, onde, às 12h03, um segundo homem-bomba se detonou no meio de um grande grupo de crianças que esperavam impacientes para embarcar na montanha-russa do parque. O serviço de segurança dinamarquês logo descobriu que o shahid nascera em Copenhague, frequentara escolas dinamarquesas e era casado com uma dinamarquesa. Pareceu não dar importância ao fato de que os filhos dele frequentassem a mesma escola que suas vítimas.
Para os profissionais de segurança em toda a Europa, um pesadelo se tornava realidade: ataques coordenados e altamente sofisticados que pareciam ter sido planejados e executados por uma mente brilhante. Temiam que os terroristas logo voltassem a atacar, embora faltassem duas informações cruciais. Eles não sabiam onde. E não sabiam quando.
3
St. James, Londres
Mais tarde, o comando de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres gastaria muito tempo e esforço valiosos tentando reconstituir os passos de um certo Gabriel Allon naquela manhã, o lendário porém imprevisível filho da inteligência israelense agora formalmente aposentado e vivendo tranquilamente no Reino Unido. Soube-se, por relatos de seus vizinhos intrometidos, que ele havia partido de seu chalé na Cornualha poucos minutos depois do amanhecer em seu Range Rover, acompanhado por Chiara, sua bela esposa italiana. Sabia-se também, graças ao onipresente sistema de câmeras CCTV da Grã-Bretanha, que o casal tinha chegado ao centro de Londres em tempo quase recorde e que, por um ato de intervenção divina, tinha conseguido encontrar um local para estacionar legalmente em Piccadilly. De lá seguiram a pé até a Masons Yard, um tranquilo pátio retangular de pedras e comércio em St. James e apresentaram-se à porta da Isherwood Fine Arts. De acordo com a câmera no pátio, foram admitidos no recinto às 11h40, horário de Londres, embora Maggie, a medíocre secretária de Isherwood, tenha registrado errado o horário em sua agenda como 11h45.
Desde 1968 detentora de pinturas de Grandes Mestres italianos e holandeses que bem podiam estar em museus, a galeria já havia ocupado um salão na aristocrática New Bond Street, em Mayfair. Empurrado para o exílio em St. James por tipos como Hermès, Burberry e Cartier, Isherwood refugiara-se num decadente armazém de três andares que já fora da loja de departamentos Fortnum & Mason. Entre os fofoqueiros moradores de St. James, a galeria sempre foi considerada um bom teatro — comédias e tragédias, com surpreendentes altos e baixos e um ar de conspiração que sempre a envolvia. Isso se devia principalmente à personalidade de seu dono. Julian Isherwood era amaldiçoado com um defeito quase fatal para um negociante de arte — gostava mais de possuir do que de vender as obras. Ele estava sobrecarregado por um grande inventário do que é carinhosamente chamado, no mercado de arte, de estoque morto — pinturas pelas quais nenhum comprador ofereceria um bom preço. Corriam boatos de que a coleção particular de Isherwood comparava-se à da família real britânica. Até Gabriel, que já restaurava pinturas para a galeria havia mais de trinta anos, tinha apenas uma vaga ideia de todas as posses de Isherwood.
Eles o encontraram em seu escritório — uma figura alta e levemente frágil inclinada sobre uma escrivaninha atulhada de antigos catálogos e monografias. Usava um terno risca de giz e uma gravata lavanda que havia ganhado de presente num encontro na noite anterior. Como de hábito, ele parecia levemente de ressaca, uma aparência que cultivava. Seu olhar estava pesaroso, fixo na televisão.
— Suponho que tenha ouvido as notícias?
Gabriel assentiu lentamente. Ele e Chiara haviam escutado os primeiros boletins no rádio enquanto passavam pelos subúrbios no oeste de Londres. As imagens que apareciam na tela agora eram muito parecidas com as que haviam se formado na mente de Gabriel — os mortos cobertos com plástico, os sobreviventes ensanguentados, os transeuntes com as mãos no rosto, horrorizados. Nada mudava. Ele imaginou que nunca mudaria.
— Eu almocei no Fouquet na semana passada com um cliente — disse Isherwood, passando a mão por suas longas mechas grisalhas. — Nos separamos no mesmo local onde esse maníaco detonou a bomba. E se o cliente tivesse marcado o almoço para hoje? Eu poderia estar...
Isherwood parou de falar. Era uma reação típica depois de um ataque, pensou Gabriel. Os vivos sempre tentam encontrar uma conexão, por mais tênue que seja, com os mortos.
— O homem-bomba de Copenhague matou crianças — continuou Isherwood. — Você poderia me explicar, por favor, por que assassinam crianças inocentes?
— Medo — respondeu Gabriel. — Eles querem que sintamos medo.
— Quando isso vai terminar? — perguntou Isherwood, meneando a cabeça com desgosto. — Em nome de Deus, quando essa loucura vai acabar?
— Você devia saber que não adianta fazer perguntas desse tipo, Julian. — Gabriel baixou a voz e acrescentou: — Afinal, você está assistindo a essa guerra de camarote há muito tempo.
Isherwood deu um sorriso melancólico. Seu nome e perfil genuinamente ingleses ocultavam o fato de que ele não era inglês de verdade. Britânico de nacionalidade e passaporte, sim, porém alemão de nascimento, francês de formação e judeu por religião. Apenas poucos amigos de sua confiança sabiam que Isherwood tinha chegado a Londres como uma criança refugiada em 1942 depois de ser carregado pelos Pireneus cobertos de neve por dois pastores bascos. Ou que seu pai, o renomado comerciante de arte parisiense Samuel Isakowitz, tinha sido assassinado no campo de concentração de Sobibór junto com sua mãe. Apesar de Isherwood ter guardado com cuidado os segredos do passado, a história de sua dramática fuga da Europa ocupada pelos nazistas chegou aos ouvidos do serviço secreto de inteligência de Israel. E em meados dos anos 1970, durante uma onda de ataques terroristas palestinos contra alvos israelenses na Europa, ele foi recrutado como um sayan, um ajudante voluntário. Isherwood tinha apenas uma missão — ajudar a construir e manter a imagem de restaurador de arte de Gabriel Allon.
— Só não se esqueça de uma coisa — observou Isherwood. — Agora você trabalha para mim, não para eles. Isso não é problema seu, queridinho. Não mais. — Apontou o controle remoto para a televisão e as destruições em Paris e Copenhague desapareceram. — Vamos ver algo mais bonito?
O limitado espaço da galeria obrigara Isherwood a organizar seu império verticalmente — depósitos no térreo, escritórios no segundo andar e, no terceiro, uma gloriosa sala de exposição formal no modelo da famosa galeria de Paul Rosenberg em Paris, onde o jovem Julian havia passado muitas horas felizes na infância. Ao entrarem no salão, o sol do meio-dia penetrava pela claraboia, iluminando uma grande pintura a óleo sobre um pedestal coberto por um tecido grosso. Um retrato da Madona e a Criança com Maria Madalena contra um fundo noturno, obviamente da Escola de Veneza. Chiara tirou seu longo casaco de couro e sentou-se num sofá no centro da sala. Gabriel ficou bem em frente à tela, uma das mãos apoiando o queixo, a cabeça inclinada para um lado.
— Onde você o encontrou?
— Numa grande pilha de calcário na costa de Norfolk.
— E a pilha tem um dono?
— Insistem no anonimato. Basta dizer que é descendente de uma família nobre, suas propriedades são enormes e que suas reservas em dinheiro estão diminuindo num ritmo alarmante.
— Por isso pediu que tirasse algumas pinturas de suas mãos para ele se manter sem dívidas por mais um ano.
— Do jeito que ele gasta dinheiro, eu daria mais dois meses no máximo.
— Quanto você pagou por isso?
— Vinte mil.
— Quanta bondade, Julian. — Gabriel olhou para Isherwood e acrescentou: — Imagino que tenha coberto os rastros levando outras pinturas também.
— Seis peças absolutamente sem valor — confessou Isherwood. — Mas se meu palpite sobre essa estiver certo, elas valeram o investimento.
— Procedência? — perguntou Gabriel.
— Foi adquirida no Vêneto por um ancestral do proprietário enquanto fazia uma viagem pela Europa no início do século XIX. Está na família desde essa época.
— Atribuição atual?
— Oficina de Palma Vecchio.
?É mesmo? — perguntou Gabriel, cético. — De acordo com quem?
— De acordo com o perito italiano que intermediou a venda.
— Ele era cego?
— Só de um olho.
Gabriel sorriu. Muitos italianos que assessoravam a aristocracia inglesa durante suas viagens eram charlatães que faziam transações rápidas de cópias sem valor falsamente atribuídas aos mestres de Florença e Veneza. Em algumas ocasiões, se enganavam e vendiam obras legítimas. Isherwood desconfiou que a pintura no pedestal pertencesse à segunda categoria. Assim como Gabriel. Ele passou a ponta do indicador pelo rosto de Madalena, tirando o equivalente a um século de fuligem.
— Onde estava pendurado? Numa mina de carvão?
Tateou o verniz bem descolorido. Provavelmente era composto por uma resina de lentisco ou de pinho dissolvida em terebintina. A remoção seria um doloroso processo envolvendo o uso de uma mistura cuidadosamente regulada de acetona, éter glicólico e solução mineral. Gabriel podia imaginar os horrores que o esperavam quando o velho verniz fosse retirado: arquipélagos de pentimento, um deserto de rachaduras e vincos na superfície, uma quantidade enorme de pinturas escondidas por restaurações anteriores. E havia ainda as condições da tela, que se enrugara dramaticamente com o tempo. A solução era um novo revestimento, um perigoso procedimento envolvendo a aplicação de calor, umidade e pressão. Qualquer restaurador que já tivesse feito um revestimento possuía cicatrizes do trabalho. Gabriel havia destruído grande parte de uma pintura de Domenico Zampieri usando um ferro com um medidor de temperatura defeituoso. A pintura afinal restaurada, embora cristalina para olhos não treinados, demonstrava ser uma colaboração entre Zampieri e o estúdio de Gabriel Allon.
— Então? — perguntou Isherwood outra vez. — Quem pintou essa maldita coisa?
Gabriel exagerou na deliberação.
— Vou precisar de raios X para estabelecer uma atribuição definitiva.
— Vão vir aqui ainda esta tarde para levar os quadros. E nós dois sabemos que você não precisa disso para fazer uma atribuição preliminar. Você é como eu, queridinho. Está envolvido com pinturas há cem mil anos. Sabe tudo quando vê um quadro.
Gabriel pescou uma pequena lupa do bolso do casaco e usou-a para examinar as pinceladas. Inclinando-se um pouco para a frente, pôde sentir o formato familiar de uma pistola Beretta 9 mm pressionando o quadril esquerdo. Depois de trabalhar com a inteligência britânica para sabotar o programa nuclear iraniano, agora tinha permissão para portar uma arma o tempo todo para proteção. Havia recebido também um passaporte inglês, que podia ser usado livremente em viagens ao exterior, desde que não estivesse a trabalho para seu antigo serviço. Mas não havia chance de isso acontecer. A ilustre carreira de Gabriel Allon estava finalmente encerrada. Ele não era mais o anjo vingador de Israel. Era um restaurador de arte empregado pela Isherwood Fine Arts, e a Inglaterra era o seu lar.
— Você tem um palpite — disse Isherwood. — Posso ver nos seus olhos verdes.
— Tenho, sim — respondeu Gabriel, ainda absorvido pelas pinceladas ?, mas antes gostaria de uma segunda opinião.
Olhou para Chiara por cima dos ombros. Ela estava brincando com uma media de seu cabelo revolto, uma expressão levemente pensativa. Na posição em que estava, mostrava uma notáve1 semelhança com a mulher na pintura. O que não era surpresa, pensou Gabriel. Descendente de judeus expulsos da Espanha em 1492, Chiara havia sido criada no antigo gueto de Veneza. Era bem possível que algumas de suas ancestrais tivessem posado para mestres como Bellini, Veronese e Tintoretto.
— O que você acha? — perguntou Gabriel.
Chiara postou-se diante da tela ao lado de Gabriel e estalou a língua, reprovando sua condição lastimável. Embora tivesse estudado o Império Romano na faculdade, havia ajudado Gabriel em inúmeras restaurações e, durante o processo, se tornara uma formidável historiadora de arte.
— É um excelente exemplo de uma Conversação Sagrada, ou Sacra Conversazione, uma cena idílica em que os integrantes estão agrupados em uma paisagem esteticamente agradável. E como qualquer imbecil sabe, Palma Vecchio e considerado o criador dessa forma.
— O que você acha da técnica? — perguntou Isherwood, um advogado conduzindo uma testemunha favorável.
— É boa demais para Palma — respondeu Chiara. — Sua paleta de cores era incomparável, mas ele nunca foi considerado habilidoso, mesmo por seus contemporâneos.
— E a mulher posando como a Madona?
— Se eu não estiver enganada, o que é pouco provável, o nome dela é Violante. Ela aparece em várias pinturas de Palma. Mas na época havia outro famoso pintor em Veneza que dizem que gostava muito dela. O nome era...
— Tiziano Vecellio — completou Isherwood. — Mais conhecido como Ticiano.
— Parabéns, Julian — disse Gabriel, sorrindo. — Você pinçou um Ticiano pela quantia irrisória de 20 mil libras. Agora só precisa encontrar um restaurador capaz de deixá-lo perfeito.
— Quanto? — perguntou Isherwood.
Gabriel franziu a testa.
— Vai dar muito trabalho.
— Quanto? — repetiu Isherwood.
— Duzentos mil.
— Eu poderia arranjar alguém por metade desse preço.
— É verdade. Mas nós dois nos lembramos da última vez que você tentou isso.
— Quando você pode começar?
— Preciso consultar minha agenda antes de me comprometer.
— Eu faço um adiantamento de 100 mil.
— Nesse caso, eu posso começar agora mesmo.
— Vou mandar a tela para a Cornualha depois de amanhã. A questão é: quando você vai me entregar?
Gabriel não respondeu. Olhou para o relógio por um momento, como se não estivesse marcando a hora certa, e depois para a claraboia, pensativo.
Isherwood pousou a mão em seu ombro com delicadeza.
— Não é problema seu, queridinho. Não mais.
4
Covent Garden, Londres
A blitz da polícia perto da Leicester Square parou o tráfego na Charing Cross. Gabriel e Chiara atravessaram uma nuvem de fumaça dos escapamentos dos carros e seguiram pela Cranbourn Street, ladeada por pubs e cafés que atendiam as hordas de turistas que pareciam vagar sem rumo pelo Soho a qualquer hora, independentemente da estação. Gabriel olhava para a tela de seu celular. O número de vítimas em Paris e Copenhague estava subindo.
— Muito ruim? — perguntou Chiara.
— Já são 28 na Champs-Élysées e 37 nos Jardins de Tivoli.
— Eles têm alguma ideia do responsável?
— Ainda é cedo demais, mas os franceses acham que pode ser a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico.
— Será que eles conseguiriam fazer dois ataques coordenados como esses?
— Eles têm células por toda a Europa e América do Norte, mas os analistas do King Saul Boulevard sempre foram céticos quanto à capacidade de eles manterem o estilo espetacular de Bin Laden.
O King Saul Boulevard era o endereço do serviço de inteligência israelense no exterior. O nome longo e propositalmente enganoso tinha muito pouco a ver com a verdadeira natureza de seu trabalho. Os que trabalhavam lá se referiam ao lugar como o Escritório e nada mais. Até mesmo agentes aposentados como Gabriel e Chiara nunca pronunciavam o verdadeiro nome da organização.
— Não me parece coisa do Bin Laden — comentou Chiara. — Parece mais...
— Bagdá — completou Gabriel. — Essa quantidade de vítimas é alta para ataques ao ar livre. A impressão é que os construtores das bombas sabiam o que estavam fazendo. Se nós tivermos sorte, ele deixou sua assinatura no local.
— Nós? — perguntou Chiara.
Gabriel guardou o telefone no bolso sem falar nada. Os dois tinham chegado ao caótico trânsito no fim da Cranbourn Street. Havia dois restaurantes italianos: o Spaghetti House e o Bella Italia. Ele olhou para Chiara e pediu que escolhesse.
— Eu não vou começar meu longo fim de semana em Londres no Bella Italia — disse Chiara franzindo a testa. — Você me prometeu um almoço decente.
— Na minha opinião, existem lugares bem piores que o Bella Italia em Londres.
— Não se você nasceu em Veneza.
Gabriel sorriu.
— Nós temos uma reserva num lugar adorável chamado Orso, na Wellington Street. É bem italiano. Achei que poderíamos passar por Covent Garden no caminho.
— Você ainda quer fazer isso?
— Nós precisamos comer, e a caminhada vai nos fazer bem.
Passaram depressa pela rotatória e entraram na Garrick Street, onde dois policiais de casacos verde-limão interrogavam o motorista de aparência árabe de uma van branca. A ansiedade dos pedestres era quase palpável. Em alguns rostos Gabriel via um medo genuíno; em outros, uma determinação inflexível de seguir em frente como sempre. Chiara segurava a mão dele com força enquanto os dois passavam pelas vitrines das lojas. Ela esperava por aquele fim de semana havia muito tempo e estava determinada a não deixar que as notícias de Paris e de Copenhague o estragassem.
— Você foi um pouco duro com Julian — falou ela. — Duzentos mil é o dobro do que você cobra normalmente.
— É um Ticiano, Chiara. Julian vai se dar muito bem.
— O mínimo que você podia fazer era aceitar o convite dele para um almoço comemorativo.
— Eu não queria almoçar com Julian. Queria almoçar com você.
— Ele queria discutir uma ideia conosco.
— Que tipo de ideia?
— Uma sociedade. Ele quer que sejamos sócios na galeria.
Gabriel diminuiu o passo e parou.
— Quero deixar uma coisa o mais claro possível: não tenho absolutamente nenhum interesse em me tornar sócio de uma empresa que só de vez em quando está no azul, como acontece com a Isherwood Fine Arts.
— Por que não?
— Por uma razão — respondeu ele, voltando a andar. — Nós não temos ideia de como tocar um negócio.
— Você já tocou vários negócios de sucesso no passado.
— Isso é fácil quando se tem o apoio de um serviço de inteligência.
— Você não está se dando o devido crédito, Gabriel. O que pode ser tão difícil em dirigir uma galeria de arte?
— Pode ser incrivelmente difícil. E como Julian já provou muitas vezes, é fácil se envolver em problemas. Até as galerias mais bem-sucedidas podem afundar-se fizerem uma aposta errada. — Gabriel olhou de soslaio e perguntou: — Quando você e Julian tramaram esse pequeno arranjo?
— Você fala como se estivéssemos conspirando pelas suas costas.
— É porque estavam mesmo.
Com um sorriso, Chiara acabou concordando.
— Foi quando estávamos em Washington na apresentação do Rembrandt. Julian me puxou de lado e disse que estava começando a pensar em se aposentar. Ele quer que a galeria fique nas mãos de alguém em quem confie.
— Julian nunca vai se aposentar.
— Eu não teria tanta certeza.
— Onde eu estava enquanto esse negócio era tramado?
— Acho que você tinha saído para uma conversa particular com uma repórter investigativa inglesa.
— Por que você não me falou nada disso até agora?
— Porque Julian pediu.
Gabriel ficou em silêncio, deixando claro que Chiara tinha violado um dos princípios fundamentais do casamento deles. Segredos, mesmo os mais triviais, eram proibidos.
— Desculpe, Gabriel. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas Julian foi inflexível. Sabia que o seu primeiro instinto seria dizer não.
— Ele poderia vender a galeria para Oliver Dimbleby num piscar de olhos e se aposentar numa ilha no Caribe.
— Você já pensou no que isso significaria para nós? Você quer mesmo restaurar pinturas para Oliver Dimbleby? Ou para Giles Pittaway? Ou acha que poderia arranjar algum trabalho freelance com a Tate ou a National Gallery?
— Parece que você e Julian já pensaram em tudo.
— Pensamos mesmo.
— Então talvez você deva ser sócia de Julian.
— Só se você restaurar pinturas para mim.
Gabriel percebeu que Chiara estava falando sério.
— Dirigir uma galeria não é só frequentar leilões glamorosos ou ir a longos almoços em restaurantes de luxo na Jermyn Street. E também não é algo que se possa considerar um passatempo.
— Obrigada por me considerar uma amadora.
— Não foi o que eu quis dizer, você sabe disso.
— Você não é o único que se aposentou do Escritório, Gabriel. Eu também me aposentei. Mas, ao contrário de você, eu não tenho Grandes Mestres danificados para ocupar o meu tempo.
— Então você quer virar uma negociante de arte? Vai passar os dias fuçando um monte de pinturas medíocres em busca de outro Ticiano perdido. E a probabilidade é de nunca encontrar um.
— Não me parece tão mau. — Chiara olhou ao redor. — E isso significa que poderíamos morar aqui.
— Achei que você gostava da Cornualha.
— Adoro. Mas não no inverno.
Gabriel ficou em silêncio. Ele vinha se preparando para uma conversa como aquela já havia algum tempo.
— Achei que nós iríamos ter um filho — falou por fim.
— Eu também — concordou Chiara. — Mas estou começando a achar que não vai ser possível. Nada que eu tento parece funcionar.
Havia um tom de resignação na voz dela que Gabriel nunca tinha ouvido.
— Então vamos continuar tentando — disse.
— Não quero que você se sinta desapontado. Foi aquela gravidez interrompida. Para mim, vai ser muito mais difícil ficar grávida outra vez. Quem sabe? Talvez uma mudança de cenário possa ajudar. Pense nisso — falou, apertando a mão dele. — É só o que estou pedindo, querido. Pode ser que gostemos de morar aqui.
Na ampla piazza do mercado de Covent Garden, um comediante de rua orientava um casal de turistas alemães a ficar numa pose que sugeria intimidade sexual, sem que eles percebessem. Chiara encostou-se numa pilastra para assistir à apresentação enquanto Gabriel fechou a cara, os olhos examinando a multidão reunida na praça e junto à mureta do restaurante Punch and Judy acima. Não estava zangado com Chiara, mas consigo mesmo. Durante anos, a relação entre os dois havia girado em torno de Gabriel e seu trabalho. Nunca lhe havia ocorrido que Chiara também pudesse ter suas próprias aspirações profissionais. Se eles fossem um casal normal, ele poderia ter considerado a proposta. Mas eles não eram um casal normal. Eram ex-agentes de um dos serviços de inteligência mais renomados do mundo. E tinham um passado sangrento demais para levar uma vida pública.
Quando se dirigiam à arrojada arcada de vidro do mercado, toda a tensão da discussão logo se dissipou. Até mesmo Gabriel, que detestava fazer compras, sentia prazer em perambular pelas tendas e lojas coloridas com Chiara a seu lado. Inebriado pelo aroma dos cabelos dela, ele imaginou a tarde que tinham pela frente — um almoço tranquilo seguido por uma agradável caminhada de volta ao hotel. Lá, na sombra fresca do quarto, Gabriel despiria Chiara devagar e faria amor na enorme cama. Por um momento, quase foi possível para Gabriel imaginar seu passado sendo apagado e suas façanhas se tornando meras lendas que juntavam poeira nos arquivos do King Saul Boulevard. Apenas o estado de alerta permanecia — a vigilância instintiva e inquietante não o deixava se sentir completamente em paz em público. Forçava-o a fazer um esboço mental de todos os rostos que passavam no mercado lotado. E na Wellington Street, quando os dois se aproximavam do restaurante, ele parou de repente. Chiara puxou-o pelo braço, de um jeito brincalhão. Depois olhou diretamente nos olhos dele e percebeu que havia algo errado.
— Parece que você viu um fantasma.
— Não um fantasma. Um homem morto.
— Onde?
Gabriel apontou com a cabeça uma figura que vestia um sobretudo de lã cinzento.
— Logo ali.
5
Covent Garden, Londres
Existem indicadores comuns reveladores de homens-bomba. Os lábios podem se movimentar involuntariamente em suas últimas preces. O olhar pode ser vidrado e distante. E o rosto às vezes pode estar pálido demais, prova de que uma barba desgrenhada foi raspada às pressas durante os preparativos para uma missão. O homem não exibia nenhuma dessas características. Os lábios estavam franzidos. O olhar estava claro e focado. E o rosto tinha uma coloração uniforme. Ele vinha se barbeando com regularidade havia algum tempo.
O que o diferenciava era a quantidade de suor escorrendo da costeleta esquerda. Por que ele suava tanto no frescor de uma tarde de outono? Se estava com calor, por que as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo? E por que o sobretudo — maior do que deveria ser, na opinião de Gabriel — estava todo abotoado? E também havia o andar. Mesmo um homem em forma, de uns 30 anos, terá dificuldade de andar normalmente quando está carregado com mais de 20 quilos de explosivos, pregos e bolas de aço. Quando passou caminhando por Gabriel na Wellington Street, ele parecia ereto demais, como se tentasse compensar o peso em torno de seu corpo. O tecido das calças de gabardine vibrava com cada passo, como se as juntas dos quadris e dos joelhos estremecessem sob o peso da bomba. Era possível que o jovem suando com um casaco exagerado fosse um inocente que simplesmente precisava fazer suas compras do dia, mas Gabriel desconfiava que não. Ele acreditava que o homem andando alguns passos à frente representava o grand finale de um dia de terror continental. Primeiro Paris, depois Copenhague, e agora Londres.
Gabriel mandou Chiara se abrigar no restaurante e atravessou rapidamente a rua. Seguiu o homem por quase 100 metros, observando quando ele virou a esquina na entrada do mercado de Covent Garden. Havia dois cafés no lado leste da piazza, ambos cheios de clientes almoçando. Em pé entre os cafés, numa réstia de sol, havia três policiais uniformizados. Nenhum deles prestou atenção ao homem que entrou.
Agora Gabriel tinha uma decisão a tomar. A atitude mais óbvia seria contar aos policiais sobre sua suspeita — óbvia, pensou, mas não necessariamente a melhor. Provavelmente a polícia reagiria à abordagem de Gabriel puxando-o de lado para um interrogatório, perdendo muitos segundos preciosos. Pior ainda, eles poderiam confrontar o homem, uma manobra que com quase toda certeza o faria provocar a explosão. Ainda que praticamente todos os policiais londrinos tivessem treinamento básico em táticas antiterroristas, poucos tinham a experiência ou o poder de fogo necessários para abater um jihadista disposto a se martirizar. Gabriel dispunha das duas coisas e já havia agido contra, homens-bomba. Passou pelos três policiais e entrou no mercado.
O homem estava agora a quase 20 metros, caminhando por uma passarela mais alta no recinto principal. Gabriel calculou que ele portava explosivos e estilhaços suficientes para matar todo mundo num raio de quase 25 metros. O procedimento recomendado era que Gabriel permanecesse fora da zona letal da explosão até chegar a hora de agir. O ambiente, porém, o compelia a diminuir a distância e se colocar num perigo maior. Um tiro na cabeça a 23 metros era difícil em quaisquer circunstâncias, mesmo para um atirador com a perícia de Gabriel Allon. Num mercado cheio de gente, seria quase impossível.
Gabriel sentiu seu celular vibrando suavemente no bolso do casaco. Ignorando-o, observou quando o homem se deteve no parapeito da passarela para consultar o relógio. Gabriel tomou nota do fato de estar no pulso esquerdo; logo, o botão do detonador devia estar na mão direita. Mas por que um homem-bomba interromperia seu caminho para ver as horas? A explicação mais plausível era que recebera ordens de terminar com sua vida e as das muitas pessoas inocentes num momento preciso. Gabriel desconfiou que havia algum tipo de simbolismo envolvido. Em geral havia. Os terroristas da Al-Qaeda e de suas ramificações adoravam simbolismos, em especial quando envolviam números.
Agora Gabriel estava próximo o bastante para ver os olhos do homem. Estavam claros e focados, um sinal animador. Significava que ele ainda estava pensando na missão e não nas delícias carnais que o esperavam no Paraíso. Quando começasse a sonhar com as houris perfumadas de olhos escuros, isso transpareceria em sua expressão. E nesse momento Gabriel teria que fazer uma escolha. Por enquanto, ele precisava que o homem continuasse neste mundo um pouco mais.
O terrorista consultou o relógio mais uma vez. Gabriel deu uma olhada rápida para o próprio relógio: 14h34. Passou os números pelo banco de dados de sua memória em busca de alguma conexão. Somou-os, subtraiu-os, multiplicou-os, inverteu-os e mudou sua ordem. Depois pensou sobre os dois ataques anteriores. O primeiro acontecera às 11h46, o segundo, às 12h03. Era possível que os números representassem anos do calendário gregoriano, mas Gabriel não viu nenhuma relação.
Apagou mentalmente as horas dos ataques e se concentrou apenas nos minutos. Quarenta e seis minutos, três minutos. Foi quando entendeu. Os horários eram tão conhecidos para ele quanto as pinceladas de Ticiano. Quarenta e seis minutos, três minutos. Eram dois dos mais famosos momentos da história do terrorismo — os minutos exatos em que os dois aviões sequestrados atingiram o World Trade Center no dia 11 de setembro. O voo 11 da American Airlines chocou-se contra a Torre Norte às 8h46. O voo 175 da United Airlines bateu na Torre Sul às 9h03. O terceiro avião a atingir seu alvo naquela manhã foi o do voo 77 da American Airlines, que foi atirado contra a face oeste do Pentágono. Às 9h37 na hora local, e 14h37 em Londres.
Gabriel consultou seu relógio digital. Haviam passado alguns segundos das 14h35. Erguendo os olhos, viu que o homem estava outra vez se movendo a passos rápidos, as mãos nos bolsos, parecendo ignorar as pessoas ao redor. Quando Gabriel começou a segui-lo, seu celular vibrou outra vez. Dessa vez ele atendeu e ouviu a voz de Chiara. Informou-a que um homem-bomba estava prestes a se explodir em Covent Garden e a instruiu a entrar em contato com o MI5. Depois guardou o telefone no bolso e começou a se aproximar do alvo. Temia que muitas pessoas inocentes estivessem prestes a morrer. E imaginava se poderia fazer algo para impedir.
6
Covent Garden, Londres
Havia outra possibilidade, é claro. Talvez o homem alguns passos à frente não tivesse nada sob o casaco a não ser alguns quilos a mais. Era inevitável se lembrar do caso de Jean Charles de Menezes, o eletricista brasileiro morto a tiros pela policia britânica na estação de Stockwell de Londres depois de ser confundido com um procurado militante islâmico. Os promotores ingleses se recusaram a fazer acusações contra os policiais envolvidos, uma decisão que provocou indignação entre os ativistas de direitos humanos e libertários civis no mundo todo. Gabriel sabia que, sob circunstâncias semelhantes, ele não poderia esperar o mesmo tratamento. Isso significava que ele teria que estar certo antes de agir. Estava confiante em relação a um ponto. Acreditava que o homem-bomba, como um pintor, assinaria o seu nome antes de apertar o botão do detonador. Iria querer que as vítimas soubessem que suas mortes iminentes não eram sem propósito, que estavam sendo sacrificadas em nome do jihad e em nome de Alá.
No momento, porém, Gabriel não tinha escolha a não ser segui-lo e esperar. Devagar, com muito cuidado, ele diminuiu a distância, fazendo pequenos ajustes em seu trajeto para manter uma linha de tiro desimpedida. Os olhos estavam focados na parte inferior do crânio do homem. Poucos centímetros abaixo estava o tálamo, região do cérebro essencial para o controle motor e sensorial do resto do corpo. Se destruísse o tálamo com uma rajada de balas, o homem-bomba não teria como apertar o botão do detonador. Se errasse o tálamo, era possível que o mártir levasse a cabo sua missão ao agonizar. Gabriel era um dos poucos homens no mundo que tinha matado um terrorista antes que ele consumasse seu ataque. Sabia que a diferença entre o sucesso e o fracasso era de uma fração de segundo. Sucesso significava que só um morreria. Fracasso resultaria na morte de muitas pessoas inocentes, talvez até mesmo dele próprio.
O homem passou pela porta que dava na piazza. Estava bem mais movimentada agora. Um violoncelista tocava uma suíte de Bach. Um imitador de Jimi Hendrix segurava uma guitarra ligada a um amplificador. Um homem bem-vestido em cima de um caixote de madeira gritava algo sobre Deus e a guerra do Iraque. O homem-bomba andou direto para o centro da praça, onde a apresentação do comediante se tornara ainda mais pervertida, para o deleite da multidão de espectadores. Usando técnicas aprendidas na juventude, Gabriel mentalmente silenciou os ruídos ao redor um por um, começando pela suave melodia da suíte de Bach e terminando com as ruidosas gargalhadas da multidão. Em seguida, olhou pela última vez para o relógio e esperou que o homem assinasse seu nome.
Eram 14h36. O terrorista tinha chegado aos limites da multidão. Parou por alguns segundos, como se buscasse um ponto fraco para adentrar, depois abriu caminho à força entre duas mulheres espantadas. Gabriel tomou outro rumo alguns metros à direita do homem, passando quase despercebido em meio a uma família de turistas norte-americanos. A multidão estava muito concentrada, e não dispersa, o que representou outro dilema para Gabriel. A munição ideal para uma situação como aquela seria uma bala de ponta oca, que infligiria maiores danos aos tecidos do alvo e reduziria substancialmente as baixas colaterais provenientes de uma penetração mais profunda. Mas a pistola Beretta de Gabriel estava carregada com balas normais Parabellum de 9 mm. Por essa razão, ele teria que se posicionar para disparar numa trajetória extrema de cima para baixo. De outra forma, havia uma grande probabilidade de matar um inocente na tentativa de salvá-lo.
O homem-bomba atravessou a barreira de pessoas e agora se dirigia diretamente para o comediante. Os olhos tinham assumido a expressão vidrada e distante. Os lábios se moviam. As preces finais... O comediante supôs que o homem queria participar da performance. Sorrindo, deu dois passos em sua direção, mas estacou quando viu as mãos dele emergirem dos bolsos do casaco. A mão esquerda estava ligeiramente aberta. A direita estava fechada, com o polegar levantado em ângulo reto. Ainda assim, Gabriel hesitou. E se não fosse um detonador? E se fosse apenas uma caneta? Ele precisava ter certeza. Declare suas intenções, pensou. Assine o seu nome.
O terrorista virou-se de frente para o mercado. Os clientes que olhavam da varanda do Punch and Judy riram nervosos, assim como alguns poucos espectadores na piazza. Em sua mente, Gabriel silenciou as risadas e congelou a imagem. A cena parecia uma pintura de Canaletto. As figuras estavam imóveis; somente Gabriel, o restaurador, era livre para se movimentar entre elas. Passou pela primeira fileira de espectadores e fixou o olhar no ponto na base do crânio. Não seria possível disparar num ângulo descendente. Mas havia outra solução para evitar baixas colaterais: uma linha de fogo de baixo para cima faria com que a bala passasse por cima da cabeça dos espectadores até atingir a fachada de um edifício próximo. Imaginou a manobra em sequência — sacar a arma com as mãos entrelaçadas, agachar, disparar, avançar — e esperou o homem-bomba assinar seu nome.
O silêncio na cabeça de Gabriel foi rompido por um grito bêbado na sacada do Punch and Judy — alguém mandando o mártir sair da frente e deixar a apresentação continuar. O terrorista reagiu erguendo os braços acima da cabeça como um maratonista rompendo a fita da linha de chegada. No lado interno do pulso direito havia um fino fio ligando o botão do detonador aos explosivos. Era toda a prova de que Gabriel precisava. Pegou sua Beretta de dentro do paletó. Em seguida, enquanto o terrorista gritava “Allahu Akbar”. Gabriel caiu sobre um joelho e ergueu a arma em direção ao alvo. Surpreendentemente, a linha de tiro estava livre, sem chance de danos secundários. Quando Gabriel ia apertar o gatilho, duas mãos empurraram com força a arma para baixo e o peso de dois homens o lançou contra o chão.
No instante em que bateu nas pedras da rua, ouviu um som retumbante e sentiu uma lufada de ar incandescente acima dele. Por alguns segundos, Gabriel não ouviu mais nada. Depois os gritos começaram, seguidos por uma ária de lamentos. Gabriel ergueu a cabeça e viu um pesadelo. Eram pedaços de corpos e sangue. Era Bagdá no Tâmisa.
7
New Scotland Yard, Londres
Existem poucos pecados mais graves para um profissional de inteligência, mesmo aposentado, do que cair sob custódia de autoridades locais. Como havia transitado por um longo tempo numa região entre o mundo público e o secreto, Gabriel tinha passado por isso com mais frequência do que a maioria de seus companheiros de viagem. A experiência lhe ensinou que havia um ritual estabelecido para tais ocasiões, que deveria ser concluído antes que a alta cúpula pudesse intervir. Ele conhecia bem o procedimento. Felizmente, seus anfitriões também.
Gabriel tinha sido detido minutos depois do ataque e conduzido em alta velocidade para a New Scotland Yard, o quartel-general da Polícia Metropolitana de Londres. Na chegada, foi levado a uma sala de interrogatório sem janelas, onde trataram de seus inúmeros cortes e escoriações e lhe serviram uma xícara de chá, que deixou intocada. Um superintendente do Comando de Contraterrorismo chegou logo depois. Examinou seus documentos de identidade com o ceticismo que mereciam e em seguida tentou determinar a sequência de eventos que levaram o “Sr. Rossi” a sacar uma arma de fogo em Covent Garden pouco antes de um terrorista se explodir. Gabriel sentia-se tentado a fazer algumas perguntas. Por exemplo, gostaria de saber por que dois especialistas em armas de fogo da divisão SO19 da polícia preferiram neutralizá-lo, e não um terrorista óbvio prestes a cometer um assassinato em massa. Em vez disso, respondeu a todas as perguntas do detetive recitando um número telefônico:
— Ligue para lá ? dizia, indicando o bloco de notas onde o detetive havia escrito o número. ? É um edifício grande não muito longe daqui. Você vai reconhecer o nome do homem que atender. Ou pelo menos deveria reconhecer.
Gabriel não soube a identidade do policial que afinal discou o número nem soube exatamente quando a ligação foi feita. Soube apenas que sua estada na New Scotland Yard durou bem mais do que o necessário. Já era quase meia-noite quando o detetive o escoltou até uma série de corredores bem iluminados em direção à entrada do prédio. Na mão esquerda ele levava um envelope de papel pardo com os pertences de Gabriel. A julgar pelo tamanho e a forma, não continha uma pistola Beretta 9 mm.
Do lado de fora, o clima agradável da tarde dera lugar a uma chuva forte. Aguardando embaixo do pórtico de vidro, com o motor ligado, encontrava-se uma limusine Jaguar escura. Gabriel pegou o envelope com o detetive e abriu a porta traseira do carro. Dentro, com as pernas cruzadas elegantemente, estava um homem que parecia ter sido projetado para a tarefa. Usava um impecável terno grafite e uma gravata prateada combinando com os cabelos. Normalmente, seus olhos claros eram inescrutáveis, mas agora revelavam o estresse de uma noite longa e difícil. Como vice-diretor do MI5, Graham Seymour carregava a pesada responsabilidade de proteger o território britânico das forças do extremismo do Islã. E mais uma vez, apesar de todos os esforços do departamento, o Islã tinha vencido.
Embora os dois homens tivessem um longo histórico profissional, Gabriel pouco sabia da vida pessoal de Graham Seymour. Sabia que Seymour era casado com uma mulher chamada Helen, que ele adorava, e que tinha um filho que era gerente da filial de Nova York de uma importante instituição financeira inglesa. O restante das informações sobre os negócios particulares de Seymour fora tirado dos volumosos arquivos do Escritório. Ele era uma relíquia do glorioso passado britânico, um produto da classe média alta que havia sido criado, educado e programado para ser líder. Acreditava em Deus, mas não com muito fervor. Acreditava em seu país, mas não era cego às suas falhas. Jogava bem golfe e outros esportes, mas dispunha-se a perder para um oponente inferior a serviço de uma causa valiosa. Era um homem admirado e, o mais importante, um homem confiável — um raro atributo entre espiões e agentes secretos.
No entanto, Graham Seymour não era um homem de paciência ilimitada, como revelava sua expressão soturna quando o Jaguar se pôs em movimento. Retirou um exemplar do Telegraph da manhã seguinte do bolso do banco da frente e o jogou no colo de Gabriel. A manchete dizia reinado de terror. Abaixo viam-se três fotografias mostrando o resultado dos três ataques. Gabriel examinou a foto de Covent Garden em busca de algum sinal de sua presença, mas havia apenas vítimas. Era a imagem de um fracasso, pensou — dezoito pessoas mortas, dezenas gravemente feridas, inclusive um dos policiais que o imobilizara. E tudo por causa do tiro que não permitiram que Gabriel disparasse.
— Um dia terrível — disse Seymour demonstrando cansaço. — Imagino que a única maneira de piorar é se a imprensa descobrir sobre você. Quando as teorias da conspiração forem concluídas, o mundo islâmico vai acreditar que os ataques foram planejados e executados pelo Escritório.
— Pode ter certeza de que isso já está acontecendo. — Gabriel devolveu o jornal e perguntou: — Onde está minha esposa?
— Está no seu hotel. Há uma equipe minha no saguão. — Seymour fez uma pausa. — Desnecessário dizer que ela não está muito satisfeita com você.
— Como você sabe? — Os ouvidos de Gabriel ainda zuniam por causa da concussão provocada pela explosão. Fechou os olhos e se perguntou como as equipes da SO19 conseguiram localizá-lo tão rapidamente.
— Como você deve imaginar, nós temos um amplo suporte técnico à nossa disposição.
— Como meu celular e sua rede de câmeras CCTV?
— Exato — concordou Seymour. — Conseguimos localizar você poucos segundos depois de receber a ligação de Chiara. Encaminhamos a informação para o Comando Dourado, o centro operacional de crises da Polícia Metropolitana, que imediatamente despachou duas equipes de especialistas em armas de fogo.
— Eles deviam estar nas imediações.
— Estavam — confirmou Seymour. — Estamos em alerta vermelho depois dos ataques em Paris e Copenhague. Várias equipes já estavam mobilizadas no distrito financeiro e em locais onde costuma haver aglomerações de turistas.
Então por que eles me atacaram e não o homem-bomba?
— Porque nem a Scotland Yard nem o Serviço de Segurança queriam uma reprise do fiasco Menezes. Em consequência da morte dele, inúmeros procedimentos e diretrizes foram implementados para evitar que algo do gênero se repita. Basta dizer que um único alerta não atende às disposições de uma ação letal, nem mesmo se por acaso a fonte é Gabriel Allon.
— E por causa disso dezoito pessoas foram mortas?
— E se ele não fosse um terrorista? E se fosse apenas um ator de rua ou alguém com problemas mentais? Nós teríamos sido crucificados.
— Mas não era um ator de rua nem um maluco, Graham. Era um homem-bomba. E eu disse isso a você.
— Como você sabia?
— Só faltava ele estar com um cartaz avisando.
— Era assim tão óbvio?
Gabriel listou os atributos que levantaram suas suspeitas e depois explicou os cálculos que o levaram a concluir que a explosão seria às 14h37. Seymour meneou a cabeça devagar.
— Já perdi a conta de quantas horas gastamos treinando nossos policiais para localizar possíveis terroristas, sem mencionar os milhões de libras que aplicamos no software de identificação de comportamento da CCTV. Ainda assim um homem-bomba do jihad andou por Covent Garden sem ninguém perceber. Ninguém além de você, é claro.
Seymour caiu num silêncio profundo. O automóvel seguia para o norte ao longo da Regent Street, intensamente iluminada. Cansado, Gabriel apoiou a cabeça no vidro da janela e perguntou se o terrorista havia sido identificado.
— O nome dele é Farid Khan. Os pais imigraram para o Reino Unido vindos de Lahore no fim dos anos 1970, mas Farid nasceu em Londres. Em Stepney Green, para ser exato. Como muitos muçulmanos ingleses de sua geração, ele rejeitou as convicções religiosas moderadas e apolíticas dos pais e se tornou islamita. No fim dos anos 1990, ele passava muito tempo na mesquita de East London em Whitchapel Road. Em pouco tempo se tornou integrante de destaque dos grupos radicais de Hizb ut-Tahrir e Al-Muhajiroun.
— Está parecendo que vocês tinham a ficha dele.
— Nós tínhamos ? concordou Seymour mas não pelas razões que você poderia imaginar. Veja bem, Farid Khan era um raio de sol, nossa esperança para o futuro. Ou ao menos foi o que pensamos.
— Você achou que ele poderia trabalhar para o outro lado?
— Seymour assentiu.
— Pouco depois do 11 de Setembro, Farid entrou para um grupo chamado New Beginnings. Seu objetivo era desprogramar militantes e reintegrá-los à opinião pública vigente do Islã e da Inglaterra. Farid era considerado um de seus grandes sucessos. Raspou a barba. Cortou relacionamentos com os velhos amigos. Formou-se entre os primeiros da turma na King’s College e arranjou um emprego bem pago numa pequena agência de publicidade em Londres. Algumas semanas atrás, ficou noivo de uma mulher de sua antiga vizinhança.
— Aí você o removeu de sua lista.
— De certa forma. Agora parece que foi tudo uma inteligente dissimulação. Farid era uma bomba-relógio prestes a explodir.
— Alguma ideia de quem o ativou?
— Estamos examinando os registros dos telefones e computadores neste exato momento, bem como o vídeo suicida que ele deixou. Está claro que o ataque está ligado aos atentados em Paris e Copenhague. Se foram coordenados pelos remanescentes da central da Al-Qaeda ou por uma nova rede é agora uma questão de intensos debates. Seja qual for o caso, não é da sua conta. Seu papel neste caso está oficialmente encerrado.
O Jaguar atravessou a Cavendish Place e parou na entrada do Hotel Langham.
— Eu gostaria de ter minha arma de volta.
— Vou ver o que posso fazer ? disse Seymour.
— Quanto tempo vou ter que ficar aqui?
— A Scotland Yard gostaria que você ficasse em Londres pelo resto do fim de semana. Na segunda de manhã você pode voltar para o seu chalé à beira-mar e só ficar pensando no seu Ticiano.
— Como você sabe do Ticiano?
— Eu sei de tudo. Tudo menos como evitar que um muçulmano nascido na Inglaterra cometa um assassinato em massa em Covent Garden.
— Eu poderia ter impedido isso, Graham.
— Poderia ? concordou Seymour com frieza. ? E teríamos retribuído o favor fazendo você em pedaços.
Gabriel desceu do carro sem falar mais nada.
— “Seu papel neste caso está oficialmente encerrado” — murmurou ao entrar no saguão. Repetiu isso inúmeras vezes, como um mantra.
8
Nova York
Naquela mesma noite, o outro universo habitado por Gabriel Allon também estava agitado, mas por razões muito diferentes. Era a temporada de leilões do outono em Nova York, uma época de ansiedade em que o mundo da arte, em todas as suas loucuras e excessos, reúne-se durante duas semanas num frenesi de compras e vendas. Como Nicholas Lovegrove gostava de dizer, era uma das poucas ocasiões em que ser muito rico não era algo considerado fora de moda. No entanto, era também um negócio mortalmente sério. Grandes coleções seriam montadas, grandes fortunas seriam construídas e perdidas. Uma só transação poderia deslanchar uma carreira brilhante. Mas também poderia destruí-la.
A reputação profissional de Lovegrove, como a de Gabriel Allon, estava firmemente estabelecida naquela noite. Nascido e educado na Inglaterra, era o consultor de arte mais procurado no mundo — um homem tão poderoso que podia influenciar o mercado apenas fazendo uma observação casual ou torcendo o elegante nariz. Seu conhecimento de arte era lendário, e também o tamanho de sua conta bancária. Lovegrove não precisava mais garimpar clientes; eles o procuravam, em geral de joelhos ou com promessas de altas comissões. O segredo do sucesso de Lovegrove estava no olhar infalível e na discrição. Lovegrove nunca traiu a confiança de ninguém; nunca fez fofocas ou se envolveu em negócios escusos. Era a ave mais rara no negócio de artes — um homem de palavra.
Apesar da reputação, Lovegrove estava acometido por seu habitual nervosismo pré-leilão enquanto se apressava pela Sexta Avenida. Depois de anos de preços em queda e vendas anêmicas, o mercado de arte começava, afinal, a dar sinais de renovação. Os primeiros leilões da temporada haviam sido respeitáveis, mas ficaram abaixo das expectativas. A venda daquela noite, de arte pós— guerra e contemporânea na Christie’s, tinha o potencial de incendiar o mundo das artes. Como de hábito, Lovegrove tinha clientes em ambos os lados do leilão. Dois eram vendedores, enquanto um terceiro queria adquirir o Lote 12, Ocher and Red on Red, óleo sobre tela, de Mark Rothko. O cliente em questão era tão único que Lovegrove nem sabia seu nome. Suas transações eram com um certo Sr. Hamdali em Paris, que por sua vez tratava com o cliente. O arranjo não era feito da forma tradicional, mas, da perspectiva de Lovegrove, era bastante lucrativo. Só durante os últimos doze meses, o colecionador havia adquirido mais de 200 milhões de dólares em pinturas. As comissões de Lovegrove nessas vendas passavam de 20 milhões. Se esta noite as coisas corressem de acordo com o planejado, seu lucro líquido aumentaria substancialmente.
Ele entrou na Rua 49 e andou meio quarteirão até a entrada da Christie’s. O imponente saguão envidraçado era um mar de diamantes, seda, egos e colágeno. Lovegrove parou um instante para beijar a bochecha perfumada de uma atraente herdeira alemã antes de continuar em direção à chapelaria, onde logo foi abordado por dois negociantes do Upper East Side. Rechaçou ambos com um gesto, pegou sua placa do leilão e subiu para o salão de vendas.
Levando-se em conta toda a intriga e o glamour envolvidos, o salão era surpreendentemente comum, uma mistura de saguão da Assembleia Geral das Nações Unidas com uma igreja evangélica de cultos televisivos. As paredes eram de um tom sem graça de bege e cinza, assim como as cadeiras dobráveis aglomeradas para aproveitar ao máximo o espaço limitado. Atrás de uma espécie de púlpito via-se uma vitrine giratória e, perto dela, uma mesa telefônica operada por meia dúzia de funcionários da Christie’s. Lovegrove ergueu os olhos para os camarotes, esperando divisar um ou dois rostos atrás do vidro fumê, depois andou com cautela em direção aos repórteres que se amontoavam como gado no canto do fundo. Escondendo o número de sua placa, passou rápido por eles e se dirigiu a seu lugar habitual na frente da sala. Era a Terra Prometida, o local onde todos os marchands, consultores e colecionadores esperavam um dia sentar. Não era um lugar para quem tivesse o coração fraco ou pouco dinheiro. Lovegrove se referia a ele como “zona da matança”.
O leilão estava programado para começar às seis. Francis Hunt, o leiloeiro-chefe da Christie’s, garantiu cinco minutos adicionais à irrequieta plateia para se acomodar antes de ocupar o seu assento. Ele tinha modos polidos e uma divertida cortesia inglesa que por alguma inexplicável razão ainda fazia os norte-americanos se sentirem inferiores. Na mão direita ele segurava o famoso “livro negro” que continha os segredos do universo, ao menos no que dizia respeito àquela noite. Cada lote à venda tinha sua própria página com informações como a reserva do vendedor, um mapa mostrando a localização dos prováveis compradores e a estratégia de Hunt para obter o maior lance possível. O nome de Lovegrove aparecia na página dedicada ao Lote 12, o Rothko. Durante uma inspeção privada pré-venda, Lovegrove insinuou que talvez estivesse interessado, mas só se o preço fosse apropriado e as estrelas estivessem no alinhamento certo. Hunt sabia que Lovegrove estava mentindo, é claro. Hunt sabia de tudo.
Desejou a todos uma boa-noite e, em seguida, com toda a pompa de um mestre de cerimônias de uma grande festa, disse: — Lote 1, o Twombly.
Os lances começaram de imediato, subindo rápido de 100 mil em 100 mil dólares. O leiloeiro administrava com habilidade o processo junto a dois auxiliares de penteados irretocáveis que se pavoneavam e posavam atrás do púlpito como modelos masculinos numa sessão de fotos. Lovegrove talvez se impressionasse com a performance se não soubesse que tudo era cuidadosamente coreografado e ensaiado. Os lances pararam em 1,5 milhão, mas foram reavivados por um lance por telefone de 1,6 milhão. Seguiram-se mais cinco lances em rápida sucessão, e nesse ponto os lances cessaram pela segunda vez.
— O lance é de 2,1 milhões, com Cordelia ao telefone — entoou Hunt, os olhos movendo-se sedutores pela plateia. — Não está com a madame, nem com o senhor. Dois ponto um, ao telefone, pelo Twombly. Último aviso. Última chance. — O martelo desceu com um baque. — Obrigado — murmurou Hunt enquanto registrava a transação em seu livro negro.
Depois do Twombly veio o Lichtenstein, seguido pelo Basquiat, o Diebenkorn, o De Kooning, o Johns, o Pollock e uma série de Warhols. Todos os trabalhos alcançaram mais do que a estimativa pré-venda e mais do que o lote anterior. Não foi por acaso; Hunt tinha organizado os leilões com inteligência de forma a criar uma escala ascendente de excitação. No momento em que o Lote 12 chegou à vitrine, ele tinha a plateia e os compradores na palma da mão.
— À minha direita temos o Rothko — anunciou. — Vamos começar os lances em 12 milhões?
Eram 2 milhões acima da estimativa pré-venda, um sinal de que Hunt esperava que a obra vendesse muito bem. Lovegrove tirou um celular do bolso do paletó Brioni e digitou um número de Paris. Hamdali atendeu. A voz dele soava como um chá morno adoçado com mel.
— Meu cliente gostaria de sentir um pouco o ambiente antes de fazer o primeiro lance.
— Bem pensado.
Lovegrove colocou o telefone no colo e cruzou os dedos. Logo ficou claro que seria uma árdua batalha. Lances se precipitaram em direção a Hunt de todos os cantos do recinto e dos funcionários da Christie’s que operavam os telefones. Hector Candiotti, consultor de arte de um magnata da indústria belga, brandia a placa no ar com agressividade, uma técnica conhecida como rolo compressor. Tony Berringer, que trabalhava para um oligarca russo do alumínio, fazia lances como se sua vida dependesse daquilo, o que bem podia ser possível. Lovegrove esperou até o preço chegar a 30 milhões antes de pegar o telefone.
— Então? — perguntou com a voz calma.
— Ainda não, Sr. Lovegrove.
Dessa vez Lovegrove manteve o telefone no ouvido. Em Paris, Hamdali falava com alguém em árabe. Infelizmente, não era uma das várias línguas que Lovegrove falava com fluência. Para passar o tempo, perscrutou os camarotes, em busca de compradores secretos. Num deles percebeu uma linda jovem, segurando um celular. Alguns segundos depois, Lovegrove notou algo mais. Quando Hamdali falava, a mulher ficava em silêncio. E quando a mulher falava, Hamdali não dizia nada. Provavelmente era uma coincidência, pensou. Ou não.
— Talvez seja o momento de fazer um teste — sugeriu Lovegrove, os olhos na mulher no camarote.
— Talvez você tenha razão — replicou Hamdali. — Um momento, por favor.
Hamdali murmurou algumas palavras em árabe. Logo depois, a mulher no camarote falou em seu celular. Depois, em inglês, Hamdali falou: — O cliente concorda, Sr. Lovegrove. Por favor, faça seu primeiro lance.
A oferta estava em 34 milhões. Arqueando uma única sobrancelha, Lovegrove aumentou em 1 milhão.
— Nós temos 35 — disse Hunt, num tom que indicava que um novo predador de respeito tinha entrado na disputa.
Hector Candiotti reagiu de imediato, assim como Tony Berringer. Dois compradores por telefone empurraram o preço para o limite de 40 milhões. Então Jack Chambers, o rei do mercado imobiliário, casualmente fez um lance de 41. Lovegrove não estava muito preocupado com Jack. O caso com aquela sirigaita de Nova Jersey tinha saído caro no divórcio. Jack não tinha fundos para ir muito além.
— A oferta está em 41 contra você — sussurrou Lovegrove ao telefone.
— O cliente acredita que tudo não passa de pose.
— Trata-se de um leilão de arte na Christie’s. Pose é praxe.
— Paciência, Sr. Lovegrove.
Lovegrove mantinha os olhos na mulher no camarote quando os lances alcançaram a marca de 50 milhões. Jack Chambers fez um último lance de 60; Tony Berringer e seu gângster russo fizeram as honras com 70. Hector Candiotti desistiu da disputa.
— Parece que está entre nós e os russos — disse Lovegrove ao homem em Paris.
— Meu cliente não se importa com os russos.
— O que o seu cliente gostaria de fazer?
— Qual é o recorde de um Rothko num leilão?
— É de 72 e uns trocados.
— Por favor, faça um lance de 75.
— É demais. Você nunca...
— Faça o lance, Sr. Lovegrove.
Lovegrove arqueou uma sobrancelha e ergueu cinco dedos.
— O lance é de 75 milhões — disse Hunt. — Não está com o senhor. Nem com o senhor. Temos 75 milhões pelo Rothko. Último aviso. Última chance. Todos de acordo?
O martelo foi batido.
Um suspiro perpassou o recinto. Lovegrove olhou para o camarote, mas a mulher já havia ido embora.
9
Península do Lagarto, Cornualha
Com a aprovação da Scotland Yard, do Home Office e do primeiro-ministro britânico, Gabriel e Chiara voltaram à Cornualha três dias depois do atentado em Covent Garden. Madona e a Criança com Maria Madalena, óleo sobre tela, 110 por 92 centímetros, chegou às dez horas da manhã seguinte. Depois de retirar a pintura com todo o cuidado de seu estojo de proteção, Gabriel colocou-a no velho cavalete de carvalho da sala de estar e passou o resto da tarde examinando os raios X. As fantasmagóricas imagens apenas reforçaram sua opinião de que o quadro era de fato um Ticiano, aliás, um belo Ticiano.
Como fazia muitos meses que Gabriel não punha as mãos numa pintura, ele estava ansioso para começar a trabalhar logo. Levantou-se cedo na manhã seguinte, preparou uma tigela de café au lait e imediatamente se lançou à delicada tarefa de revestir a tela. O primeiro passo era colar toalhas de papel sobre a imagem para evitar mais danos à pintura durante o procedimento. Existiam inúmeras colas de fácil aquisição apropriadas à tarefa, mas Gabriel sempre preferiu fazer seu próprio aderente usando a receita que havia aprendido em Veneza do mestre restaurador Umberto Conti — pelotas da cola de rabo de coelho dissolvidas numa mistura de água, vinagre, bile de boi e melaço.
Cozinhou lentamente o malcheiroso preparado no fogão da cozinha até adquirir a consistência de um xarope e assistiu ao noticiário matinal na BBC enquanto esperava a mistura esfriar. Farid Khan era agora um nome conhecido no Reino Unido. Em vista da sincronia precisa de seu ataque, a Scotland Yard e a inteligência britânica operavam com base na tese de que estava ligado aos atentados em Paris e em Copenhague. Ainda não estava clara a que organização terrorista os homens-bomba pertenciam. O debate entre especialistas na televisão era intenso, com um dos lados proclamando que os ataques foram orquestrados pela antiga liderança da Al-Qaeda no Paquistão, enquanto outro declarava que era obviamente o trabalho de uma nova rede que ainda iria aparecer no radar da inteligência do Ocidente. Fosse qual fosse o caso, as autoridades europeias se preparavam para novos derramamentos de sangue. O Centro de Análise Conjunta do Terrorismo do MI5 tinha subido o nível de ameaça para “crítico”, o que significava que era esperado outro ataque iminente.
Gabriel teve sua atenção atraída para uma reportagem sobre a conduta da Scotland Yard logo antes do ataque. Numa declaração formulada com todo o cuidado, o comissário da Polícia Metropolitana admitiu ter recebido um alerta sobre um homem suspeito com um casaco grande demais dirigindo-se a Covent Garden. Lamentavelmente, disse o comissário, a informação não atingiu o nível de especificidade exigido para ação letal. Em seguida confirmou que dois agentes do SO19 haviam sido despachados para Covent Garden, mas que, dentro da política atual, eles não deveriam atirar. Quanto aos relatos de uma arma sendo sacada, a polícia tinha interrogado o homem envolvido e concluído que não era uma arma, e sim uma câmera. Por razões de privacidade, a identidade do homem não seria revelada. A imprensa pareceu aceitar a versão da polícia, assim como os representantes dos direitos civis, que aplaudiram a atitude comedida da polícia mesmo com a morte de dezoito inocentes.
Gabriel desligou a televisão quando Chiara entrou na cozinha. Ela abriu de imediato a janela para tirar o mau cheiro de bile de boi e vinagre e repreendeu Gabriel por ter sujado sua panela de aço inoxidável favorita. Gabriel sorriu e mergulhou a ponta do indicador na mistura. Agora já estava fria o bastante para ser usada. Com Chiara espiando por cima do ombro dele, Gabriel aplicou a cola sobre o verniz amarelado de maneira uniforme e grudou diversas toalhas de papel na superfície. O trabalho de Ticiano estava invisível agora, e assim ficaria por muitos dias até que o novo revestimento fosse finalizado.
Gabriel não podia fazer mais nada naquela manhã a não ser verificar a pintura de tempos em tempos para saber se a cola estava secando de forma adequada. Sentou-se no caramanchão de frente para o mar, um notebook no colo, e pesquisou na internet por mais informações sobre os três ataques. Sentiu-se tentado a contactar o King Saul Boulevard, mas achou melhor não. Já não tinha informado Tel Aviv sobre seu envolvimento em Covent Garden, e fazer isso agora só daria a seus ex-colegas uma desculpa para se intrometerem em sua vida. Gabriel aprendera com a experiência que era melhor tratar o Escritório como uma ex-namorada. O contato devia ser mínimo e o melhor é que ocorresse em lugares públicos, onde seria inapropriado criar confusão.
Pouco antes do meio-dia, as últimas lufadas dos ventos da noite passaram pela enseada de Gunwalloe, deixando o céu claro e de um azul cristalino. Depois de checar mais uma vez a pintura, Gabriel vestiu um agasalho e um par de botas de caminhada e saiu para seu passeio diário pelos penhascos. Na tarde anterior ele tinha caminhado para o norte ao longo do Caminho Costeiro até Praa Sands. Agora subiu a pequena inclinação atrás do chalé e partiu para o sul em direção à ponta da península.
Não demorou muito para a magia da costa da Cornualha espantar os pensamentos sobre os mortos e feridos em Covent Garden. Quando Gabriel chegou aos limites do Mullion Golf Club, a última imagem terrível já estava escondida em segurança debaixo de uma camada de tinta. Enquanto seguia para o sul, passando pelo afloramento rochoso dos penhascos de Polurrian, ele só pensava no trabalho a ser feito no Ticiano. No dia seguinte removeria com todo o cuidado a pintura do esticador e fixaria a tela mole numa faixa de linho italiano, pressionando-a com firmeza no lugar com um pesado ferro de passar. Depois viria a mais longa e árdua fase da restauração: a remoção do verniz quebradiço e amarelado e o retoque das porções de pintura danificadas pelo tempo e a pressão. Enquanto alguns restauradores costumavam ser agressivos nos retoques, Gabriel era conhecido no mundo da arte pela leveza do toque e a fantástica habilidade de imitar as pinceladas dos Grandes Mestres. Ele acreditava ser dever de um restaurador passar despercebido, não deixando evidência alguma a não ser a pintura devolvida à sua glória original.
Quando Gabriel chegou à ponta norte da enseada de Kynance, uma linha de nuvens negras obscurecia o sol e o vento do mar tinha ficado bem mais frio. Como arguto observador do caprichoso clima da Cornualha, ele percebeu que o “intervalo brilhante”, como os meteorologistas britânicos gostavam de chamar os períodos de sol, estava prestes a ter um fim abrupto. Parou por um momento, pensando onde poderia se abrigar. Para o leste, depois da paisagem que se assemelhava a uma colcha de retalhos, estava o vilarejo do Lagarto. Bem à frente estava a ponta. Gabriel escolheu a segunda opção. Ele não queria encurtar sua caminhada por causa de algo trivial como uma rajada de vento passageira. Além do mais, havia um bom café no alto do penhasco, onde ele poderia esperar a tempestade comendo um bolinho recém-assado e tomando um bule de chá.
Levantou a gola do agasalho e seguiu pela orla da enseada enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O café apareceu sob um véu de névoa. Na base dos penhascos, abrigando-se próximo a uma casa de barcos abandonada, viu um homem de uns 25 anos com cabelos curtos e óculos escuros sobre a cabeça. Um segundo homem encontrava-se no alto do ponto de observação, olhando por um telescópio que funcionava com a inserção de moedas. Gabriel sabia que o telescópio estava inativo havia meses.
Parou de andar e olhou em direção ao café assim que um terceiro homem saiu para a varanda. Tinha um chapéu impermeável enterrado até as sobrancelhas e óculos sem aro muito usados por intelectuais alemães e banqueiros suíços. Sua expressão era de impaciência — de um executivo atarefado forçado pela esposa a tirar férias. Olhou diretamente para Gabriel por um longo tempo antes de erguer um punho largo em direção ao rosto e consultar o relógio. Gabriel sentiu-se tentado a virar na direção oposta, mas preferiu baixar o olhar e continuar andando. Melhor fazer isso em público, pensou. Reduziria as chances de uma confusão.
10
Ponta do Lagarto, Cornualha
— Você tinha mesmo que pedir bolinhos? — perguntou Uzi Navot, ressentido.
— São os melhores da Cornualha. Assim como o creme talhado.
Navot não se mexeu. Gabriel deu um sorriso perspicaz.
— Bella quer que você perca quantos quilos?
— Três. Depois eu preciso manter o peso — respondeu Navot com pesar, como se fosse uma sentença de prisão. — O que eu não daria para ter seu metabolismo. Você é casado com uma das maiores cozinheiras do mundo, mas ainda tem o corpo de um jovem de 25 anos. Eu? Sou casado com uma das mais destacadas peritas em assuntos sobre a Síria do país e não posso nem me aproximar de um doce. Talvez seja hora de pedir a Bella para pegar mais leve com as restrições alimentares.
— Peça você — replicou Navot. — Todos esses anos estudando os baatistas de Damasco deixaram sequelas. Às vezes acho que vivo numa ditadura.
Os dois estavam sentados a uma mesa isolada perto das janelas golpeadas pela chuva, Gabriel de frente para o interior, Navot, para o mar. Uzi vestia calças de cotelê e um suéter bege que ainda cheiravam ao departamento masculino da loja da Harrods. Depositou o chapéu numa cadeira próxima e passou a mão no cabelo curto louro-avermelhado. Estava um pouco mais grisalho do que Gabriel se lembrava, mas era compreensível. Uzi Navot era agora o chefe do serviço de inteligência de Israel. Os cabelos grisalhos eram um dos muitos benefícios secundários do trabalho.
Se o breve mandato de Navot terminasse agora, era quase certo que seria considerado um dos mais bem-sucedidos na longa e renomada história do Escritório. As honras concedidas a ele eram resultado da operação Obra-Prima, o empreendimento conjunto anglo-americano-israelense que ocasionou a destruição de quatro instalações nucleares secretas iranianas. Muitos dos créditos eram de Gabriel, ainda que Navot preferisse não se estender muito nesse ponto. Ele só foi nomeado chefe porque Gabriel recusou o posto repetidas vezes. E as quatro usinas de enriquecimento ainda estariam funcionando se Gabriel não tivesse identificado e recrutado o empresário suíço que vendia peças para os iranianos em segredo.
No momento, porém, os pensamentos de Navot pareciam focados apenas no prato de bolinhos. Incapaz de continuar resistindo, ele escolheu um, partiu-o com grande cuidado e lambuzou-o com geleia de morango e um bocado de creme talhado. Gabriel colocou chá em sua xícara e perguntou calmamente sobre o propósito daquela visita não anunciada. Fez isso em alemão fluente, que ele falava com o sotaque berlinense de sua mãe. Era uma das cinco línguas que compartilhava com Navot.
— Eu tinha vários assuntos a discutir com minhas contrapartes britânicas. Na pauta estava um surpreendente relatório sobre um de nossos ex-agentes que agora vive aposentado aqui sob a proteção do MI5. Havia um grande alarde a respeito desse agente e o atentado de Covent Garden. Para ser honesto, fiquei um pouco em dúvida quando ouvi. Conhecendo bem esse agente, não conseguia imaginar que ele arriscasse sua posição na Inglaterra fazendo algo tão tolo como sacar uma arma em público.
— O que eu deveria ter feito, Uzi?
— Deveria ter chamado o seu contato no MI5 e lavado as mãos.
— E se você estivesse numa situação semelhante?
— Se estivesse em Jerusalém ou em Tel Aviv, eu não teria hesitado em abater o canalha. Mas aqui... Acho que teria considerado antes as possíveis consequências das minhas ações.
— Dezoito pessoas morreram, Uzi.
— Considere-se com sorte por não terem sido dezenove. — Navot tirou os óculos de armação alongada, algo que costumava fazer antes de se envolver numa conversa desagradável. — Sinto-me tentado a perguntar se você realmente pretendia fazer o disparo. Mas em vista de seu treinamento e seus feitos passados, acho que sei a resposta. Um agente do Escritório saca a arma em campo por uma razão e apenas por uma razão. Não a fica sacudindo como um gângster ou faz ameaças vazias. Simplesmente puxa o gatilho e atira para matar. — Navot fez uma pausa, depois acrescentou: — Faça com os outros antes que eles tenham oportunidade de fazer com você. Acredito que essas palavras podem ser encontradas na página 12 do pequeno livro vermelho de Shamron.
— Ele sabe sobre Covent Garden?
— Você já sabe a resposta. Shamron sabe de tudo. Aliás, eu não ficaria surpreso se ele não tivesse ouvido sobre sua pequena aventura antes de mim. Apesar de minhas tentativas de mantê-lo na aposentadoria, ele insiste em permanecer em contato com suas fontes dos velhos tempos.
Gabriel acrescentou umas gotas de leite a seu chá e mexeu devagar. Shamron... O nome era quase sinônimo da história de Israel e de seus serviços de inteligência. Depois de lutar na guerra que levou à reconstituição de Israel, Ari Shamron passou os sessenta anos seguintes protegendo o país de uma horda de inimigos dispostos a destruí-lo. Tinha penetrado nas cortes de reis, roubado segredos de tiranos e matado incontáveis adversários, às vezes com as próprias mãos, às vezes com as mãos de homens como Gabriel. Apenas um segredo fugia a Shamron — o segredo da satisfação. Já idoso e com a saúde em frangalhos, agarrava-se desesperadamente a seu papel de eminência parda do establishment de segurança de Israel e ainda se metia nos negócios internos do Escritório como se fosse seu feudo. Não era a arrogância que motivava Shamron, mas, sim, um constante temor de que todo o seu trabalho tivesse sido em vão. Embora próspero na economia e forte na área militar, Israel continuava cercado por um mundo que era, em sua maior parte, hostil a sua existência. O fato de Gabriel ter escolhido morar nesse mundo estava entre as maiores decepções de Shamron.
— Estou surpreso de ele mesmo não ter vindo — comentou Gabriel.
— Ele teve vontade.
— E por que não veio?
— Não é mais tão fácil para ele viajar.
— Qual o problema agora?
— Tudo — respondeu Navot, dando de ombros. — Atualmente ele mal sai de Tiberíades. Só fica na varanda olhando para o lago. Gilah está ficando louca. Tem me pedido para arrumar alguma coisa para ele fazer.
— Será que devo fazer uma visita?
— Ele não está no leito de morte, se é o que está insinuando. Mas você deveria fazer uma visita logo. Quem sabe? Talvez você resolva gostar do seu país outra vez.
— Eu adoro o meu país, Uzi.
— Mas não o suficiente para viver lá.
— Você sempre me lembrou um pouco Shamron — disse Gabriel, franzindo a testa ?, mas agora essa semelhança é impressionante.
— Gilah me disse a mesma coisa pouco tempo atrás.
— Eu não disse que isso é um elogio.
— Nem ela. — Navot acrescentou outra colher de sopa de creme talhado ao bolinho com um cuidado exagerado.
— Então, por que você está aqui, Uzi?
— Quero oferecer uma oportunidade única.
?Você está falando como um vendedor.
— Eu sou um espião. Não tem muita diferença.
— O que você quer oferecer?
— Uma oportunidade de reparar um erro.
— E qual foi esse erro?
— Você deveria ter acertado Farid Khan antes de ele apertar o botão do detonador. — Navot baixou a voz e acrescentou, confiante: — É o que eu teria feito, se estivesse no seu lugar.
— E como eu poderia reparar esse erro de julgamento?
— Aceitando um convite.
— De quem?
Navot olhou em silêncio para o oeste.
— Dos norte-americanos? — perguntou Gabriel.
Navot sorriu.
— Mais chá?
A chuva parou tão de repente quanto começou. Gabriel deixou dinheiro em cima da mesa e acompanhou Navot pelo caminho íngreme até a enseada de Polpeor. O guarda-costas ainda estava encostado na rampa em escombros da casa de barcos. Olhou com falsa indiferença quando Gabriel e Navot caminharam juntos pela praia rochosa até a beira da água. Navot deu um olhar distraído para seu relógio de aço inoxidável e levantou a gola do casaco para se proteger do tempestuoso vento do mar. Gabriel ficou mais uma vez surpreso com a incrível semelhança com Shamron, que não era apenas superficial. Era como se Ari, pela pura força de sua vontade indomável, tivesse de alguma forma possuído Navot de corpo e alma. Não era o Shamron enfraquecido pela idade e pela doença, pensou Gabriel, mas o homem em seu auge. Só o que faltava eram os malditos cigarros turcos que destruíram a saúde de Shamron. Bella nunca tinha deixado Navot fumar, nem mesmo como disfarce.
— Quem está por trás dos atentados, Uzi?
— Até agora, não conseguimos estabelecer isso com certeza. Os norte-americanos, porém, acham que se trata da futura face do terror jihadista global, o novo Bin Laden.
— E esse novo Bin Laden tem um nome?
— Os norte-americanos insistem em partilhar essa informação pessoalmente com você. Querem que você vá a Washington, com todas as despesas pagas, claro.
— Como foi feito esse convite?
— Adrian Carter me ligou.
Adrian Carter era o diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA.
— Qual é o código de vestuário?
— Preto. Sua visita aos Estados Unidos jamais terá acontecido.
Gabriel encarou Navot em silêncio por um momento.
— Obviamente você quer que eu vá, Uzi, ou não estaria aqui.
— Mal não pode fazer. Na pior das hipóteses, vai nos dar uma oportunidade de ouvir o que os norte-americanos têm a dizer sobre os atentados. Mas existem outros benefícios indiretos também.
— Tais como?
— Nosso relacionamento pode se dar bem com alguns retoques.
— Que tipo de retoques?
— Você não soube? Washington está de cara nova. A mudança está no ar — observou Navot com sarcasmo. — O novo presidente dos Estados Unidos é um idealista. Acredita que pode consertar as relações entre o Ocidente e o Islã e está convencido de que nós somos parte do problema.
— Então a solução sou eu, um ex-assassino com o sangue de vários palestinos e terroristas islâmicos nas mãos?
— Quando os serviços de inteligência se dão bem, isso tende a se alastrar para a política, por isso o primeiro-ministro também está ansioso para que você faça a viagem.
— O primeiro-ministro? Daqui a pouco você vai me dizer que Shamron também está envolvido.
— E está. — Navot pegou uma pedra e atirou-a ao mar. — Depois da operação no Irã, eu me permiti pensar que Shamron poderia afinal sumir. Eu estava enganado. Ele não tem intenção de me deixar dirigir o Escritório sem sua interferência constante. Mas isso não surpreende, não é, Gabriel? Nós dois sabemos que Shamron tinha outra pessoa em mente para o trabalho. Eu estou destinado a figurar na história de nosso ilustre serviço como o chefe acidental. E você sempre será o escolhido.
— Escolha outra pessoa, Uzi. Estou aposentado, lembra? Mande outra pessoa para Washington.
— Adrian não quer nem ouvir falar disso — disse Navot, esfregando o ombro. — Nem Shamron. Quanto a sua pretensa aposentadoria, terminou no momento em que você resolveu seguir Farid Khan em Covent Garden.
Gabriel olhou para o mar e visualizou o resultado do tiro não disparado: sangue e corpos despedaçados, Bagdá no Tâmisa. Navot pareceu adivinhar o que ele estava pensando e se aproveitou.
— Os norte-americanos querem você em Washington amanhã bem cedo. Haverá um Gulfstream à sua espera perto de Londres. Foi um dos aviões usados no programa de sequestros de prisioneiros. Eles me garantiram que removeram as algemas e agulhas hipodérmicas.
— E quanto a Chiara?
— O convite é individual.
— Ela não pode ficar aqui sozinha.
— Graham concordou em mandar uma equipe de segurança de Londres.
— Eu não confio neles, Uzi. Leve-a para Israel com você. Ela pode ajudar Gilah a cuidar do velho por alguns dias até eu voltar.
— Talvez ela fique lá por algum tempo.
Gabriel examinou Navot com atenção. Dava para notar que ele sabia mais do que estava dizendo. Ele sempre sabia.
— Eu acabei de concordar em restaurar um quadro para Julian Isherwood.
— Um Madona e a Criança com Maria Madalena, outrora atribuído ao estúdio de Palma Vecchio, agora talvez atribuído a Ticiano, dependendo da revisão de especialistas.
— Muito impressionante, Uzi.
— Bella tem tentado ampliar meus horizontes.
— O quadro não pode ficar num chalé vazio perto do mar.
— Julian concordou em pegar o quadro de volta. Como você deve imaginar, ele ficou bastante desapontado.
— Eu ia receber 200 mil libras por esse trabalho.
— Não olhe para mim, Gabriel. O caixa está vazio. Fui obrigado a fazer cortes em todos os níveis dos departamentos. Os contadores estão querendo inclusive que eu diminua minhas despesas pessoais. Minha diária é uma miséria.
— Ainda bem que você está de dieta.
Navot levou a mão à barriga de forma inconsciente, como se quisesse verificar se tinha aumentado desde que saiu de casa.
— É um longo caminho até Londres, Uzi. Talvez seja melhor você levar alguns bolinhos.
— Nem pense nisso.
— Tem medo de que Bella descubra?
— Eu sei que ela vai descobrir. — Navot olhou para o guarda-costas encostado na rampa da casa de barcos. — Esses canalhas contam tudo para ela. É como viver numa ditadura.
11
Georgetown, Washington
A casa ficava no quarteirão 3300 da N Street, uma das elegantes residências com terraço e preços apenas ao alcance dos mais ricos de Washington. Gabriel subiu a escada em curva da entrada à meia-luz da aurora e, como instruído, entrou sem tocar a campainha. Adrian Carter esperava no vestíbulo, usando calça de algodão vincada, um suéter de gola olímpica e um blazer de cotelê marrom-claro. Combinado com seu cabelo escasso e despenteado e um bigode fora de moda, o traje lhe dava o ar de um professor de uma pequena universidade, do tipo que defende nobres causas e é sempre uma dor de cabeça para o reitor. Como diretor do Serviço Clandestino Nacional da CIA, no momento Carter só defendia uma causa: manter o território norte-americano a salvo de ataques terroristas ? embora duas vezes por mês, se a agenda permitisse, ele pudesse ser encontrado no porão de sua igreja episcopal no subúrbio de Reston preparando refeições para os sem-teto. Para Carter, o trabalho voluntário era uma meditação, uma rara oportunidade de se envolver com algo que não fosse o destrutivo estado de guerra que sempre assolava as salas de reunião da vasta comunidade de inteligência dos Estados Unidos.
Cumprimentou Gabriel com a circunspecção natural dos homens que vivem no mundo da clandestinidade e o conduziu para dentro. Gabriel parou um momento no centro do corredor e olhou ao redor. Protocolos secretos haviam sido feitos e rompidos naquelas salas de mobília sem graça; homens foram seduzidos para trair seus países em troca de valises cheias de dólares e promessas de proteção norte-americana. Carter tinha usado tantas vezes aquela casa que ela era conhecida em Langley como seu pied-à-terre de Georgetown. Um espertinho da Agência a havia batizado como Dar-al-Harb, que em árabe quer dizer “Casa da Guerra”. Era uma guerra encoberta, claro, pois Carter não conhecia outra forma de lutar.
Adrian Carter não tinha procurado o poder intencionalmente. Bloco a bloco, foi jogado em seus ombros estreitos sem que ele quisesse. Recrutado pela Agência ainda antes de se formar, passou a maior parte da carreira travando uma guerra secreta contra os russos — primeiro na Polônia, onde canalizava dinheiro e mimeógrafos para o Solidariedade; depois em Moscou, onde trabalhou como chefe de base; e finalmente no Afeganistão, onde incentivou e armou os soldados de Alá, mesmo sabendo que um dia eles mandariam fogo e morte sobre ele. Se o Afeganistão acabaria se mostrando a causa de destruição do Império do Mal, também permitiria a Carter um avanço na carreira. Ele não monitorou o colapso da União Soviética em campo, mas de um confortável escritório em Langley, onde tinha sido promovido havia pouco a chefe da Divisão Europeia. Enquanto seus subordinados comemoravam abertamente a morte do inimigo, Carter observava os eventos se desdobrarem com um mau pressentimento. Sua amada Agência falhara em prever o colapso do comunismo, um erro grave que assombraria Langley durante anos. Pior ainda: num piscar de olhos, a CIA tinha perdido a própria razão de sua existência.
Isso mudou na manhã do dia 11 de setembro de 2011. A guerra que se seguiu seria uma guerra travada nas sombras, um lugar que Adrian Carter conhecia muito bem. Enquanto o Pentágono lutava para elaborar uma reação militar ao horror do 11 de Setembro, foi Carter e sua equipe do Centro de Contraterrorismo que produziram um ousado plano para destruir o santuário afegão da Al-Qaeda com uma guerrilha montada pela CIA e conduzida por uma pequena força de agentes especiais norte-americanos. E quando os comandantes e soldados de infantaria da Al-Qaeda começaram a cair nas mãos dos Estados Unidos, foi Carter, de sua escrivaninha em Langley, que com frequência atuou como júri e juiz. As prisões secretas, os sequestros extraordinários, os métodos brutos de interrogatório — tudo tinha o dedo de Carter. Ele não lamentava suas ações; não podia se dar a esse luxo. Para Adrian Carter, todas as manhãs eram 12 de setembro. Nunca mais, jurou, ele veria norte-americanos se atirando de arranha-céus em chamas atingidos por terroristas.
Durante dez anos, Carter tinha conseguido manter essa promessa. Ninguém tinha feito mais para proteger o território dos Estados Unidos de um segundo ataque previsto com muita antecedência, embora, por seus muitos pecados secretos, ele tenha sido crucificado pela imprensa e ameaçado por processos criminais. Aconselhado por advogados da Agência, ele contratou os serviços de um caro advogado de Washington, uma extravagância que drenava suas economias e obrigou sua esposa, Margaret, a voltar a dar aulas. Amigos tinham insistido com Carter para esquecer a Agência e aceitar um cargo lucrativo na crescente indústria de segurança privada de Washington, mas ele recusou. Seu fracasso em evitar os ataques de 11 de setembro ainda o perseguia. E os fantasmas dos três mil mortos o incitavam a continuar lutando até o inimigo ser derrotado.
A guerra tinha cobrado seu preço de Carter — não apenas a vida de sua família, que estava em ruínas, mas também sua saúde. Seu rosto estava magro e cansado, e Gabriel percebeu um leve tremor na mão direita dele quando encheu um prato, sem nenhum entusiasmo, com iguarias do governo dispostas sobre um bufê na sala de jantar.
— Pressão alta — explicou Carter, ao se servir de café de uma garrafa térmica. — Começou no dia da posse do presidente e sobe e desce de acordo com o nível de ameaça terrorista. É triste dizer, mas depois de dez anos lutando contra o terror islâmico, parece que me tornei um medidor ambulante de ameaça nacional.
— Em que nível estamos hoje?
— Você não ouviu falar? Nós abandonamos o antigo sistema de cores.
— O que sua pressão está dizendo?
— Vermelho — respondeu Carter secamente. — Vermelho vivo.
— Não é o que diz sua diretora de segurança interna. Ela diz que não há ameaças iminentes.
— Nem sempre ela escreve seus próprios discursos.
— Quem escreve?
— A Casa Branca. E o presidente não gosta de alarmar o povo norte-americano sem necessidade. Além do mais, aumentar o nível de ameaça entraria em conflito com a narrativa conveniente que ronda todas as conversas de Washington hoje em dia.
— Que narrativa é essa?
— A que diz que os Estados Unidos reagiram com sucesso ao 11 de Setembro. A que diz que a Al-Qaeda deixou de ser uma ameaça, principalmente para o país mais poderoso da face da terra. A que diz que chegou a hora de declarar vitória na guerra global ao terror e voltar a atenção para dentro. — Carter franziu a testa. — Meu Deus, eu odeio quando jornalistas usam a palavra "narrativa”. Houve uma época em que os romancistas escreviam narrativas e os jornalistas se contentavam em relatar os fatos. E os fatos são bastante simples. Existe no mundo atual uma força organizada que quer enfraquecer ou até destruir o Ocidente com atos de violência indiscriminada. Essa força e parte de um movimento radical mais abrangente para impor a lei da charia e restaurar o califado islâmico. E nenhum pensamento positivo vai eliminar esse fato.
Os dois se sentaram frente a frente numa mesa retangular. Carter pegou a ponta de um croissant murcho, os pensamentos claramente em outro lugar. Gabriel sabia que era melhor não apressar nada. Numa conversa, Carter acabava divagando um pouco. Chegaria ao essencial, mas haveria vários desvios e digressões ao longo do caminho, e todas se mostrariam úteis para Gabriel no futuro.
— Sob alguns aspectos, eu simpatizo com o desejo do presidente de virar a pagina da história — continuou Carter. — Ele acha que a guerra global ao terrorismo desvia a atenção de objetivos maiores. Pode ser difícil de acreditar, mas eu só o encontrei em duas ocasiões. Ele me chama de Andrew.
— Mas pelo menos ele nos deu esperança.
— Esperança não é uma estratégia aceitável quando vidas estão em risco. Foi a esperança que nos levou ao 11 de Setembro.
— Então quem está dando as cartas dentro do governo?
— James McKenna, consultor do presidente para segurança interna e contraterrorismo, também conhecido como o czar do terrorismo, o que é interessante, pois ele emitiu um decreto banindo a palavra “terrorismo” de todos os nossos pronunciamentos públicos. Chega a desencorajar até mesmo o uso no âmbito particular. E Deus nos livre se mencionarmos a palavra “islâmico” junto. Segundo James McKenna, não estamos engajados numa guerra contra terroristas islâmicos. Estamos engajados num esforço internacional contra um pequeno grupo de extremistas transnacionais. Esses extremistas, por um acaso também muçulmanos, são irritantes, mas não representam uma verdadeira ameaça contra nossa existência ou estilo de vida.
— Diga isso às famílias dos que morreram em Paris, Copenhague e Londres.
— Isso é uma resposta emocional — observou Carter com ironia. — E James McKenna não tolera emoções quando se fala de terrorismo.
— Você quer dizer extremismo — comentou Gabriel.
— Me perdoe — disse Carter. — McKenna é um animal político que se vê como um perito em inteligência. Trabalhou com o Comitê Seleto de Inteligência do Senado nos anos 1990 e veio para Langley logo depois da chegada dos gregos. Ficou só alguns meses, mas isso não o impede de se definir como um veterano da CIA. Ele diz ser um homem da Agência que, de coração, só quer o melhor para a instituição. A verdade é um tanto diferente. Ele odeia a Agência e todos os que trabalham ali. Acima de tudo, ele me detesta.
— Por quê?
— Parece que eu o deixei constrangido durante uma reunião de diretoria. Não me lembro do incidente, mas parece que McKenna nunca conseguiu superar. Além disso, me disseram que McKenna me considera um monstro que fez um mal irreparável para a imagem dos Estados Unidos no mundo. Nada o faria mais feliz do que me ver atrás das grades.
— É bom saber que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está funcionando bem outra vez.
— Na verdade, McKenna acha que está tudo bem agora que ele comanda o espetáculo. Conseguiu até se fazer nomear presidente do nosso Grupo de Interrogatório de Prisioneiros de Alto Valor. Se uma figura importante do terrorismo for capturada em qualquer parte do mundo, sob quaisquer circunstâncias, James McKenna será o encarregado de questioná-la. É muito poder para uma pessoa só, mesmo que essa pessoa seja competente. Mas, infelizmente, James McKenna não se enquadra nessa categoria. Ele é ambicioso, é bem-intencionado, mas não sabe o que está fazendo. E se não tomar cuidado, vai acabar nos matando.
— Parece encantador — observou Gabriel. — Quando vou conhecê-lo?
— Nunca.
— Então por que estou aqui, Adrian?
— Você está aqui por causa de Paris, Copenhague e Londres.
— Quem foi o responsável?
— Uma nova ramificação da Al-Qaeda. Mas receio que eles sejam apoiados por uma pessoa que ocupa um cargo sensível e poderoso na inteligência ocidental.
— Quem?
Carter não respondeu. Sua mão direita estava tremendo.












