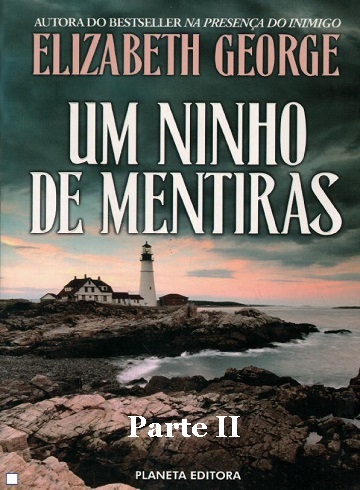Biblio "SEBO"




MONTECITO, CALIFÓRNIA
OS VENTOS DE SANTA ANA NÃO ERAM MUITO SIMPÁTICOS PARA OS FOTÓGRAFOS, mas tal comentário nunca poderia ser feito a um cliente egocêntrico, um arquitecto que acreditava que toda a sua reputação se baseava em captar hoje para a posteridade - e para a Architectural Digest - cerca de cinco mil metros quadrados de uma colina. Impossível dizer-lhe tal coisa. Porque, quando por fim se encontrava o local, depois de duas dezenas de tentativas, e já era tarde, ele estava furioso e o vento árido levantava tanta poeira que tudo o que apetecia era sair dali o mais depressa possível. Só que não seria possível discutir com ele se iria ou não tirar as fotografias. Assim, tiravam-se as fotografias apesar da poeira, apesar dos rolos de ervas secas que pareciam ter sido importados pela equipa dos efeitos especiais para dar a uma propriedade de vários milhões de dólares na Califórnia com vista para o mar a aparência de Barstow em Agosto. Não importava que as minúsculas partículas de poeira se introduzissem nas lentes de contacto e que o ar transformasse a pele em caroços de pêssego secos e o cabelo em palha. O trabalho era tudo, tudo mesmo. E como o trabalho era o ganha-pão de China River, ela executava-o.
Mas não se sentia feliz. Quando o completava, uma camada de sujidade colava-se-lhe à roupa e à pele, e a única coisa que desejava - para além de um enorme copo de água, o mais gelada possível, e de um demorado banho morno - era sair dali: sair da colina e descer até à praia. Por isso declarou:
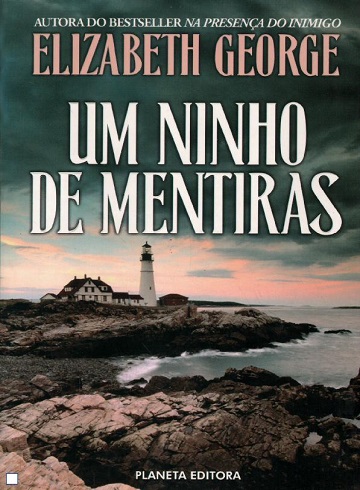
- Já está. Depois de amanhã as provas estarão prontas para que as possam escolher. À uma hora no vosso escritório? Muito bem. Lá estarei.
- E afastou-se sem dar ao homem a mínima possibilidade de replicar. Também não se importava com a reacção dele àquela sua abrupta partida.
Desceu a colina no seu velho Plymouth, por um caminho muito suave, já que os buracos tinham sido completamente banidos de Montecito. A estrada passava pelas casas dos ricos de Santa Barbara que viviam as suas vidas privilegiadas ocultas por portões electrónicos, nadando em elegantes piscinas e limpando-se depois em toalhas turcas tão fofas como a neve do Colorado. De vez em quando, travava para deixar passar os jardineiros mexicanos que transpiravam por detrás desses muros de protecção e as jovens que se passeavam a cavalo de calças de ganga apertados e T-shirts curtas. O cabelo balançava-lhes ao sol. Todas tinham cabeleiras compridas e lisas, brilhantes como se tivessem iluminação própria, uma pele impecável e dentes perfeitos. Nenhuma delas possuía um grama de gordura a mais. Mas também, qual era o espanto? O peso não teria a força moral de se agüentar nelas mais do que o tempo em que pisassem a balança, soltassem um grito histérico e corressem a seguir para a sanita.
Eram tão patéticas, pensou China. Todas elas mimadas e subalimentadas. E o pior para estas jovens era que as mães eram exactamente como elas, representando o seu papel para lhes servir de modelos numa vida cheia de personal trainers, cirurgia plástica, excursões às lojas, massagens diárias, manicuras e freqüentes sessões com um psiquiatra. Não havia nada melhor do que viver à custa de um idiota que apenas exigia da mulher uma aparência impecável.
Sempre que China tinha de ir a Montecito, desejava sair de lá o mais depressa possível e, naquele dia, passava-se o mesmo. Se possível, o vento e o calor ainda tornavam mais premente que o normal a pressa de ver aquele local pelas costas, como se alguma coisa lhe atormentasse o estado de espírito. E este já era mau. Desde que, nessa manhã, o despertador tocara que sentia um estranho desconforto.
Nada mais tocara. Era esse o problema. Depois de acordar, efectuara automaticamente um salto de três horas no tempo (são dez horas da manhã em Manhattan, então porque é que ele não telefona?) e enquanto as horas passavam até à uma, hora a que tinha de se dirigir ao seu compromisso em Montecito, que olhava para o telefone deixando-se ficar em banho-maria, o que fora muito fácil, já que estavam quase vinte e sete graus às nove horas da manhã.
Tentara ocupar-se. Regara todo o pátio da frente e fez o mesmo ao das traseiras, até à relva. Trocou algumas palavras por cima da sebe com Anita Garcia: "Miúda, este tempo não dá cabo de ti?" "Meu Deus, estou quase morta" - e mostrou-se solidária com a retenção de líquidos da vizinha, já no último mês de gravidez. Lavou o Plymouth e secou-ó, conseguindo adiantar-se à poeira que se queria colar a ele, transformando-se em lama. E saltou para dentro de casa quando o telefone tocou, para atender, por duas vezes, desagradáveis funcionários do telemarketing que queriam saber como lhe estava a correr o dia antes de a tentarem convencer a mudar de companhia telefônica, facto que certamente lhe mudaria também a vida. Por fim, teria de partir para Montecito. Mas não antes de pegar no telefone para ter a certeza de que funcionava e não antes de verificar duas vezes o atendedor de chamadas para se certificar de que não havia nenhuma mensagem.
Odiava-se constantemente por não ser capaz de o pôr de lado. Mas esse era o seu problema havia anos. Treze, meu Deus. Como odiava o amor.
Foi o seu telemóvel que, por fim, tocou já quando estava a chegar a casa, vinda da praia. Cinco minutos antes de chegar ao quadrado de passeio irregular diante da sua casa, China ouviu-o soar no banco ao lado do condutor e atendeu-o para ouvir a voz de Matt.
- Olá, beldade! - Parecia alegre.
- Olá para ti. - Detestou o alívio instantâneo que sentiu como se toda a sua ansiedade tivesse desaparecido. Nada mais disse.
Ele percebeu o que se passava.
- Estás irritada?
Ela continuou em silêncio. Ele que espere, pensou.
- Acho que desta vez exagerei.
- Onde estiveste? - perguntou ela. - Pensei que me ias telefonar esta manhã. Esperei em casa. Odeio que faças isso, Matt. Não percebes? Se não tencionas telefonar, diz logo e pronto, está bem? Porque não me telefonaste?
- Desculpa. Tencionava fazê-lo. Lembrei-me durante todo o dia.
- E então?
- Não te vai agradar, China.
- Diz lá.
- Lá vai. Imagina que passou uma frente fria ontem à noite e andei parte da manhã à procura de um casaco decente.
- Não podias ter ligado do telemóvel, enquanto estavas na rua?
- Esqueci-me dele. Desculpa. Lamento muito.
Ela ouvia os ruídos de fundo de Manhattan, os mesmos de que se apercebia sempre que ele telefonava de Nova Iorque. O toque das buzinas ecoando pelos desfiladeiros arquitectónicos, martelos hidráulicos disparando como armamento pesado contra o cimento. Mas se ele deixara o telemóvel no hotel, o que estava agora a fazer com ele na rua?
- vou jantar - disse-lhe ele. - Foi a última reunião. Do dia, claro. China estacionou num lugar vago junto ao passeio a cerca de trinta metros do caminho da sua casa. Detestava parar porque o ar condicionado era fraco de mais para fazer qualquer diferença no interior sufocante do carro e por isso estava desesperada para sair, mas a última frase de Matt tornara subitamente o calor pouco importante e muito menos evidente. Concentrou-se inteiramente no seu significado.
Pelo menos aprendera a manter a boca fechada quando ele soltara uma das suas habituais bombas incendiadas. Antigamente ela saltaria com uma afirmação daquelas: "Do dia, claro" e exigiria que ele especificasse as suas implicações. Mas os anos haviam-lhe ensinado que o silêncio também era tão útil como as exigências e as acusações. Também a punha numa posição vantajosa quando ele por fim admitia aquilo que evitava dizer-lhe.
- A situação é esta - disse de repente. - vou cá ficar mais uma semana. Tenho a possibilidade de falar com umas pessoas acerca de um patrocínio e tenho de me encontrar com elas.
- Essa é boa, Matt.
- Espera, querida. Escuta. O ano passado, estes fulanos gastaram uma fortuna com um realizador da Universidade de Nova Iorque. Andam à procura de um projecto. Ouviste? Andam mesmo à procura.
- Como sabes?
- Foi o que me disseram.
- Quem?
- Telefonei-lhes e consegui que me recebessem. Mas só na próxima sexta-feira. Por isso tenho de cá ficar.
- Então, adeus Cambria.
- Não. Nós vamos. Só que não pode ser na próxima semana.
- Claro. Então vamos quando?
- O problema é esse.
Do outro lado da linha os sons da rua intensificaram-se por uns momentos, como se ele se tivesse lançado no meio deles, obrigado a sair do passeio pelo congestionamento da cidade no final de um dia de trabalho.
- Matt? Matt? - chamou ela, sentindo por momentos um pânico irracional ao pensar que o tinha perdido. Malditos telefones e malditos sinais que apareciam e desapareciam.
Mas ele voltou e a linha estava mais nítida. Tinha entrado num restaurante.
- Em relação ao filme é pegar ou largar. China, este é capaz de ganhar festivais. Pelo menos o de Sundance, e tu bem sabes o que isso significa. Detesto abandonar-te assim, mas se não tento agarrar estas pessoas, nem sou digno de te levar a parte alguma. A Cambria, a Paris ou à Cochinchina. É isso.
- Está bem - disse-lhe ela, mas não estava, e ele devia percebê-lo pelo tom da sua voz.
Tinha passado um mês desde que ele conseguira arranjar dois dias de intervalo entre as suas reuniões em Los Angeles e as suas corridas em busca de financiamentos pelo resto do país e, antes disso, haviam passado seis semanas, durante as quais ela anulara compromissos com os seus potenciais clientes enquanto ele perseguia o seu sonho.
- Há momentos em que pergunto a mim própria se algum dia conseguirás, Matt.
- Bem sei. Pôr um filme a andar leva tempo. Sabes como é. São anos de preparação e depois... uaul... vem o sucesso de bilheteira! Mas eu quero fazer isto. Preciso de o fazer. Só lamento porque parecemos estar mais tempo longe um do outro do que juntos.
China ouviu tudo isto enquanto observava um menino que pedalava um triciclo no passeio, seguido pela mãe vigilante e por um pastor-alemão, ainda mais atento. A criança chegou a um local onde o cimento era irregular e estava levantado, devido à raiz de uma árvore, e meteu aí a roda. Tentou carregar no pedal, mas não conseguiu enquanto a mãe não chegou para o ajudar. Ao ver aquilo, China sentiu uma inexplicável tristeza.
Matt estava à espera da sua resposta. Ela tentou pensar numa nova variante de exprimir desapontamento, mas não se lembrou de nada. Por isso disse:
- Não me estava a referir a conseguires ou não realizar um filme, Matt.
- Oh - disse ele.
Depois, nada mais houve a discutir porque ela sabia que ele ficaria em Nova Iorque para manter o compromisso que tanto se esforçara por arranjar e ela teria de se arranjar sozinha. Tinha perdido mais uma ocasião, mais outra desilusão nos trabalhos do seu grande Projecto de Vida.
- Boa sorte para a tua reunião - disse ela.
- Depois falamos - afirmou ele. - Durante a semana, está bem? Não te importas, China?
- O que é que hei-de fazer? - perguntou-lhe e despediu-se. Odiou-se por terminar assim a conversa, mas tinha calor, estava triste,
desiludida, deprimida... ou fosse lá o que fosse. De qualquer modo não sabia que mais dizer.
Detestava a faceta da sua personalidade que não tinha certezas no futuro, mas conseguia quase sempre dominar essa sua característica. Quando ela lhe fugia ao controlo e se apoderava da sua vida como um guia confiante em direcção ao caos, nunca levava a nada de bom. Ficava reduzida a aderir a uma concepção da feminilidade que sempre a horrorizara, definida pela necessidade de ter um homem a qualquer preço, de o caçar e trazer para o casamento e de povoar a sua vida com filhos o mais depressa possível. Não há necessidade de seguir por essa via, repetia para consigo. Contudo, algures, desejava-o.
Assim sentia-se obrigada a colocar questões, a fazer exigências e a concentrar-se em nós e não em mim. Quando aquilo ocorria, o que surgia entre ela e o homem em questão - que tinha sempre sido Matt - eis uma repetição do debate que durava havia cinco anos. Uma polêmica circular sobre o casamento que, até ali, conseguira o mesmo resultado: a relutância óbvia da parte dele - como se ela tivesse necessidade de uma prova - as suas furiosas recriminações, seguindo-se uma ruptura iniciada por aquele que se sentia mais exasperado com as dificuldades que surgiam entre os dois.
Porém, essas mesmas diferenças continuavam a uni-los, já que carregavam a relação com um inegável entusiasmo que até ali nenhum deles encontrara noutra pessoa qualquer. China sabia que ele provavelmente tentara; mas ela não. Não precisava. Havia anos que sabia que Matthew Whitecomb era o homem certo para si.
China tinha chegado mais uma vez àquela conclusão, ao aproximar-se do seu bungalow, uma construção dos anos 20 que servira de casa de fim-de-semana a um habitante de Los Angeles. Encontrava-se entre outras casas semelhantes numa rua ladeada de palmeiras, suficientemente próxima da praia para beneficiar da brisa marítima e suficientemente afastada para ter um preço conveniente.
Não havia dúvidas de que se tratava de uma casa modesta, com cinco aposentos, contando com a casa de banho, e apenas nove janelas, um grande alpendre na parte da frente, um quadrado de relva à frente e outro atrás. Uma sebe de madeira, rodeava a propriedade, com as lascas de tinta branca a caírem para os canteiros e para o passeio. China dirigiu-se ao portão com o seu equipamento fotográfico, depois de ter posto termo à conversa com Matt.
O calor era intenso, ligeiramente menor do que na colina, mas o vento não era tão violento. As folhas das palmeiras entrechocavam-se nas árvores como ossos velhos. A lantana de alfazema, pendia ao sol brilhante encostada à sebe fronteira, com flores semelhantes a asteriscos de cor púrpura que cresciam de um solo completamente seco, apesar de ter sido regado naquela manhã.
China abriu o portão torto, com as máquinas fotográficas a pesarem-lhe no ombro e a intenção de se dirigir à mangueira do jardim para regar as pobres flores, mas esqueceu as suas intenções com a visão que a aguardava: um homem, de cuecas, estava deitado de bruços no meio do seu relvado, com a cabeça encostada ao que parecia ser uma bola feita com umas calças de ganga e uma T-shirt amarela desbotada. Não se viam os sapatos, as solas dos pés do visitante estavam completamente negras e os calcanhares tão calejados que a pele estava gretada. A julgar pelos tornozelos e cotovelos parecia ser uma pessoa que pouco apreciava lavar-se. Mas devia comer bem e fazer exercício, já que era bem constituído sem ser gordo e também não descuidava a sua hidratação, pois naquele momento tinha na mão direita uma garrafa de San Pellegrino coberta de gotas de água.
Tinha todo o aspecto de ser a sua Pellegrino. A água que desejava ansiosamente beber.
Voltou-se preguiçosamente e semicerrou os olhos para olhar para ela, descansando o peso do corpo no seu cotovelo sujo.
- A segurança da tua casa é uma porcaria, Chine - disse, bebendo um longo trago de água.
China lançou uma olhadela à varanda: a porta exterior estava aberta e a de entrada também.
- Maldito! - exclamou ela. - Arrombaste-me outra vez a porta? O irmão sentou-se e pôs a mão em pala diante dos olhos.
- Por que diabo estás assim vestida? Estão mais de trinta e cinco graus e parece que vais fazer esqui.
- E tu pareces um exibicionista à espera de ser preso. Meu Deus, Cherokee, tem juízo. Há miúdas na vizinhança. Uma delas pode passar por aqui e ver-te e temos um carro da polícia à porta em menos de quinze minutos. - Franziu a testa. - Puseste protector solar?
- Não respondeste à minha pergunta - comentou ele. - Para quê esse cabedal? É uma revolta tardia - sorriu. - Se a mãe visse essas calças...
- Uso-as porque gosto delas - interrompeu-o. - São confortáveis. E posso pagá-las, pensou. A verdadeira razão é que estava satisfeita
por poder possuir uma roupa luxuosa e inútil no Sul da Califórnia, porque tinha vontade disso, depois de uma infância e de uma adolescência passada na Goodwill à procura de roupas que simultaneamente lhe servissem e não fossem horrorosas e - para agradar às crenças da sua mãe - não tivessem qualquer bocado de pele de animal.
- Pois claro. - Ele pôs-se de pé com alguma dificuldade quando ela passou por ele e se dirigiu ao alpendre. - Couro no meio de Santa Ana. Realmente confortável. Faz todo o sentido.
- Era a minha última garrafa de Pellegrino. - Deixou cair as caixas das máquinas fotográficas dentro de casa. - Vim a pensar nela durante todo o caminho.
- De onde vieste?
Quando ela lhe disse, ele soltou uma gargalhada.
- Oh, percebo. Uma reportagem para um arquitecto. Podre de rico e sem saber o que fazer ao dinheiro? Espero que sim. Disponível? Fixe. bom, então deixa-me ver que tal estás.
Levou a garrafa à boca e, enquanto bebia, examinou-a. Quando ficou satisfeito, entregou-lhe a garrafa e disse:
- Podes beber o resto. O teu cabelo está uma porcaria. Porque não deixas de o aclarar? Não te fica bem e também não é bom para os lençóis freáticos, com todos esses produtos químicos a entrarem na canalização.
- Como se tu te ralasses com os lençóis freáticos.
- Tenho os meus padrões.
- É óbvio que um deles não é esperar que as pessoas cheguem, antes de lhes invadires a casa.
- Tiveste sorte em ser apenas eu - disse ele. - É completamente idiota sair e deixar as janelas abertas. As tuas portas exteriores são uma autêntica porcaria. Basta um canivete.
China percebeu o meio de acesso do irmão à sua casa pois, como era típico nele, nada fizera para esconder como conseguira entrar. Uma das duas janelas da sala não tinha a sua velha porta exterior, que fora bastante fácil de retirar para Cherokee, pois estivera segura ao parapeito apenas por um fecho de metal. Pelo menos o irmão fora suficientemente sensato para entrar por uma janela que não estava voltada para a rua, mas sim fora da vista dos vizinhos, qualquer dos quais teria, de boa vontade, chamado a polícia.
China atravessou a cozinha com a garrafa de Pellegrino na mão. Despejou num copo aquilo que restava da água mineral com uma rodela de limão. Fê-la rodar, bebeu-a e colocou depois o copo no lava-loiça, pouco satisfeita e aborrecida.
- Que fazes aqui? - perguntou ao irmão, - Como chegaste cá? Arranjaste o carro?
- Aquela lata velha? - dirigiu-se ao frigorífico, pisando ao de leve o oleado do chão, abriu-o e procurou por entre os sacos de plástico de fruta e legumes. Tirou lá de dentro um pimento vermelho que levou para o lava-loiça e lavou meticulosamente antes de ir buscar uma faca à gaveta para o cortar ao meio. Limpou as duas metades e entregou uma delas a China. - Tenho umas coisas em vistas, mas de qualquer forma não preciso de carro.
China fingiu não ter percebido o isco que o irmão lançara no comentário final. Era assim que ele costumava fazer. Poisou a metade do pimento na mesa da cozinha e dirigiu-se ao quarto para mudar de roupa. O couro era como vestir uma sauna com um tempo daqueles. Ficava uma maravilha, mas era muito incômodo.
- Toda a gente precisa de um carro. Espero que não tenhas cá vindo à espera que eu te emprestasse o meu - gritou do quarto. - Porque se é assim, a resposta é não. Pede o da mãe. Suponho que ainda o tem.
- Vais lá no Dia de Acção de Graças? - respondeu-lhe Cherokee.
- Quem te mandou perguntar?
- Adivinha.
- O telefone dela avariou-se de repente?
- Eu disse-lhe que cá vinha. Ela pediu-me para te perguntar. Vais ou não?
- vou falar com o Matt. - Pendurou as calças de couro no guarda-vestidos, fez o mesmo com o colete e atirou a blusa de seda para o cesto da roupa para a limpeza a seco. Enfiou um vestido havaiano e agarrou nas sandálias que se encontravam na prateleira. Depois foi ter com o irmão.
- Afinal, onde está o Matt? - Tinha acabado a sua metade do pimento e começara a comer a dela.
Ela tirou-lha da mão e deu-lhe uma dentada. Era fresco e doce, um modesto antídoto contra o calor e a sede.
- Está fora - respondeu. - Cherokee, por favor, importas-te de te vestir?
- Porquê? - Impeliu a pélvis para diante. - Achas que te excito?
- Não és o meu tipo.
- Está fora onde?
- Em Nova Iorque. A trabalhar. Vais-te vestir, ou não? Ele encolheu os ombros. Logo a seguir ela ouviu o bater da porta exterior quando o irmão foi lá fora buscar a roupa. China encontrou * uma garrafa de água de Calistoga por refrescar no armário que lhe servia de despensa. Pelo menos era gasosa, pensou. Foi buscar gelo e serviu-se de um copo.
- Não me perguntaste.
Ela deu meia volta. Cherokee vestira-se, tal como ela pedira, com a T-shirt amarrotada e desbotada por demasiadas lavagens e as calças de ganga descaídas nas ancas. As bainhas tocavam no oleado e, enquanto o observava, China pensou e não pela primeira vez, como o irmão estava deslocado no tempo. Os caracóis alourados, demasiado compridos, a roupa velha, os pés descalços e a postura, faziam-no parecer um refugiado do Verão do amor. Sem dúvida a mãe estaria orgulhosa dele, o pai dele estaria de acordo e o dela rir-se-ia. Mas China... bom... sentia-se aborrecida. Apesar da idade dele e da sua forma física, Cherokee continuava a parecer demasiado vulnerável para sair sozinho.
- Não me perguntaste - repetiu.
- Não te perguntei o quê?
- O que tenho em vista. Porque já não vou precisar de carro. A propósito, vim à boleia, o que é uma grande porcaria. Levei desde ontem à hora do almoço para cá chegar.
- E é por isso que precisas de um carro.
- Não para aquilo que tenho em vista.
- Já te disse que não te empresto o meu. Preciso dele para trabalhar. E porque não estás nas aulas? Desististe mais uma vez?
- Deixei-me disso. Preciso de mais tempo para tratar dos trabalhos. Só te digo que têm aumentado imenso. Nem imaginas o número de estudantes universitários inconscientes que existe hoje em dia, Chine. Se eu quisesse fazer disto uma carreira, provavelmente poderia reformar-me aos quarenta anos.
China revirou os olhos. Os trabalhos eram trabalhos de fim de período, ensaios para serem feitos em casa, de vez em quando uma tese de mestrado e, até ali, duas teses de doutoramento. Cherokee elaborava-os para estudantes universitários que tinham dinheiro e que não queriam incomodar-se a fazê-los. Aquilo havia muito que a obrigava a interrogar-se por que razão Cherokee - que nunca recebera menos de um bom por qualquer trabalho que escrevera e vendera - não tinha forças para se manter na universidade. Entrara e saíra na Universidade da Califórnia tantas vezes que a instituição tinha praticamente uma porta giratória com o seu nome. Mas Cherokee tinha uma explicação condescendente para a sua excepcionalmente grande carreira universitária: "Se o sistema da Universidade da Califórnia me pagasse para fazer o meu trabalho o mesmo que os estudantes me pagam para que eu faça o deles, eu fá-lo-ia.
- A mãe sabe que desististe outra vez? - perguntou ao irmão.
- Não lhe participei.
- Claro que não - China não tinha almoçado e começava a senti-lo. Do frigorífico tirou as coisas para fazer uma salada e do armário tirou um prato, uma subtileza que esperava que o irmão percebesse.
- Vá, pergunta-me. - Arrastou uma das cadeiras da mesa da cozinha e deixou-se cair nela. Pegou numa das maçãs que se encontrava numa cesta pintada no centro da mesa e levou-a à boca até se aperceber de que era artificial.
Ela desenrolou a alface e começou a desfolhá-la para o prato.
- Perguntar-te o quê?
- Bem sabes. Estás a evitar a pergunta. Muito bem, faço-a por ti. "Qual é o plano, Cherokee? O que tens em mente? Porque não precisas de um carro?" A resposta é, porque vou ter um barco. E o barco vai fornecer-me tudo. Transporte, rendimento e habitação.
- Só boas idéias, Butch - murmurou China, mais para consigo do que para com ele. Cherokee vivera durante grande parte dos seus trinta e três anos como um fora-da-lei do oeste. Tinha sempre um esquema para enriquecer, para conseguir alguma coisa em troca de nada, para ter uma boa vida.
- Não - disse ele. - Isto é certo. Já arranjei o barco. Está em Newport. É um barco de pesca. Agora leva turistas que pagam bem. Pescam bonitos. Geralmente são viagens de um dia, mas muito bem pagas, e quase sempre vão até Baja. Precisa de uns arranjos, mas eu vivo no barco enquanto trato dele. Compro o que preciso nos armazéns de artigos marítimos... não tenho falta de um carro para isso... e saio com clientes durante todo o ano.
- Que sabes tu de pesca? Que sabes tu de barcos? E assim como assim, onde vais buscar o dinheiro? - China pegou em parte de um pepino e começou a cortá-lo às rodelas para cima da alface. Reflectiu na pergunta juntamente com a súbita chegada do irmão e disse: - Cherokee, nem te atrevas a pensar nisso.
- Olha lá, por quem me tomas? Disse que tinha tudo tratado e tenho. Que diabo: pensei que ficarias feliz por mim. Nem sequer pedi dinheiro à mãe.
- Ela também não tem.
- Tem a casa. Podia-lhe ter pedido que a pusesse em meu nome para eu poder pedir uma segunda hipoteca. E ela iria na história. Sabes que sim.
Era verdade, pensou China. A mãe tinha ido em todas as histórias de Cherokee. Ele é asmático, fora a desculpa durante a infância. com o passar dos anos, tinha-se simplesmente transformado em ele é um homem.
Não restava senão China para financiar os projectos.
- Não penses em mim, está bem? Aquilo que eu tenho é para mim, para o Matt e para o futuro.
- Bela conversa. - Cherokee afastou-se da mesa. Dirigiu-se à porta da cozinha e abriu-a, poisando as mãos na ombreira e olhando para o pátio das traseiras ressequido pelo sol.
- Bela conversa, porquê?
- Esquece.
China lavou dois tomates e começou a parti-los. Lançou um olhar ao irmão e viu que ele franzia a testa e mordia a parte de dentro do lábio inferior. Conseguia ler Cherokee como um livro aberto. Estava a maquinar qualquer coisa.
- Claro que tenho dinheiro de parte. Não é grande coisa, mas tenho a hipótese de o aumentar para conseguir aquilo que quero.
- Dizes então que não vieste à boleia até aqui para me pedir uma contribuição? Passaste vinte e quatro horas na berma da estrada para me fazeres uma visita de cortesia? Para me contares os teus planos? Para me pedires que fosse passar o Dia de Acção de Graças com a mãe? Então para que servem os telefones, o correio electrónico, os telegramas, os sinais de fumo?
Ele deu meia volta e viu-a lavar a sujidade de quatro cogumelos.
- Sabes - disse por fim. - Tenho dois bilhetes de graça para ir à Europa e pensei que a minha irmãzinha pudesse querer acompanhar-me. É por isso que aqui estou. Para te convidar. Nunca lá estiveste, pois não? Faz de conta que é um presente de Natal antecipado.
China baixou a faca.
- Onde diabo arranjaste dois bilhetes grátis para a Europa?
- Serviço de correio.
E passou a explicar. Os correios, disse, transportavam materiais dos Estados Unidos para pontos do globo em cujos serviços postais o remetente não confiava, Federal Express, UPS ou qualquer outra transportadora, para que chegassem ao seu destino a tempo, em segurança e em boas condições. As empresas ou os indivíduos ofereciam o bilhete ao viajante em perspectiva para que chegasse ao seu destino, e, por vezes, também algum dinheiro. Uma vez que a encomenda fosse colocada nas mãos do destinatário, o correio estava livre para gozar o seu destino ou para seguir viagem a partir dali.
Neste caso, Cherokee vira um anúncio num placar na Universidade da Califórnia em Irvine que fora colocado por alguém - "Que afinal era um advogado de Tustin" - e procurava um correio para levar uma encomenda para o Reino Unido em troca de um pagamento e dois bilhetes de avião grátis. Cherokee candidatara-se e fora seleccionado na condição de arranjar roupa mais clássica e tratar do cabelo.
- Cinco mil dólares para fazer a entrega - concluiu Cherokee satisfeito. - É ou não um bom negócio?
- Mas que diabo! Cinco mil dólares? - China sabia que o que parecia demasiado bom para ser verdade, geralmente era. - Espera aí, Cherokee. O que está na encomenda?
- Plantas de arquitecto. Foi essa uma das razões porque pensei logo em ti para o segundo bilhete. Arquitectura. Tu percebes do assunto.
- Cherokee voltou para a mesa, virou a cadeira ao contrário e sentou-se nela com uma perna para cada lado.
- Porque é que o próprio arquitecto não leva as plantas? Porque não as manda pela Internet? Há um programa para isso e, se a outra pessoa não o tem do outro lado, porque não as manda num CD?
- Não sei nem quero saber. Cinco mil dólares e um bilhete de graça. Se quiserem até podem mandar as plantas de barco a remos.
China abanou a cabeça e voltou para a sua salada.
- Cheira-me a esturro. Vai sozinho.
- Então... Estou a falar-te da Europa do Big Ben. Da Torre Eiffel, da porcaria do Coliseu.
- Vais divertir-te muito, se não fores preso na alfândega com heroína.
- Estou a dizer-te que é um assunto limpo.
- Cinco mil dólares só para levar uma encomenda? Acho que não.
- Vá lá, China. Tens de vir.
Houve qualquer coisa na voz dele ao dizer aquelas palavras, um tom que parecia ser de avidez mas ao mesmo tempo era muito próximo do desespero.
- Que se passa? É melhor contares-me - disse China, cautelosa. Cherokee puxou o cordão de plástico das costas da cadeira.
- O problema é que... tenho de levar a minha mulher.
- O quê?
- O correio. Os bilhetes. São para um casal. A princípio eu não sabia de nada, mas quando o advogado me perguntou se eu era casado percebi que a resposta certa era sim e foi o que eu lhe disse.
- Porquê?
- Que diferença faz? Como é que alguém vai saber? Temos o mesmo apelido. Não somos parecidos. Podemos fingir...
- Estou a perguntar-te por que razão tem de ser um casal a levar a encomenda? Um casal com roupas clássicas? Um casal bem penteado? Uma coisa que os faça parecer inócuos, legítimos e acima de qualquer suspeita? Valha-me Deus, Cherokee. Pensa bem. É contrabando e vais acabar na cadeia.
- Não sejas paranóica. Já verifiquei tudo. Trata-se de um advogado.
- Oh! Sinto-me extremamente confiante. - Enfeitou a borda do prato com cenouras pequeninas e salpicou a salada com uma mão-cheia de sementes, temperou-a com sumo de limão e levou o prato para a mesa.
- Não vou nessa conversa. Precisas de encontrar outra pessoa que faça de senhora River.
- Não há mais ninguém. E mesmo que eu conseguisse encontrar outra pessoa assim tão depressa, o bilhete tem de dizer River e o passaporte tem de estar de acordo com ele e... Vá lá, China. - Parecia um rapazinho frustrado porque o seu plano não estava resultar. E Cherokee River era assim mesmo: tinha uma idéia e toda a terra tinha de concordar.
Mas China não concordava. Adorava o irmão. De facto, apesar de ele ser mais velho do que ela, passara parte da sua adolescência e quase toda a sua infância a servir-lhe de mãe. Mas independentemente da sua devoção a Cherokee não ia concordar com um esquema que podia muito bem conseguir-lhe dinheiro fácil, ao mesmo tempo que os poria a ambos em perigo.
- Nem penses - disse. - Esquece. Arranja um emprego. Mais tarde ou mais cedo tens de encarar a realidade.
- É exactamente o que eu estou a tentar fazer.
- Então arranja um emprego normal. Vais ter de o fazer. Pode ser já agora.
- Óptimo! - Ergueu-se repentinamente da cadeira. - Espectacular, China. Arranja um emprego normal. Encara a realidade. Estou a tentar fazê-lo. Tenho uma idéia para arranjar um emprego, uma casa e dinheiro, tudo ao mesmo tempo, mas parece que isso não serve para ti. Tem de ser a realidade e o emprego segundo o teu critério. - Dirigiu-se até à porta e saiu para o pátio.
China foi atrás dele. No centro do relvado sequioso havia um bebedouro para pássaros e Cherokee esvaziou-o, pegou numa escova de arame e começou a esfregar furiosamente a taça, retirando-lhe a película de algas. Dirigiu-se à casa, junto à qual a mangueira estava enrolada e ligou-a, puxando-a para encher de novo o bebedouro.
- Olha - disse China.
- Esquece - disse ele. - Parece-te estúpido. Eu pareço-te estúpido.
- Foi isso que eu disse?
- Não quero viver como o resto do mundo. Oito horas de trabalho e um ordenado no fim do mês. Mas tu não concordas. Pensas que há apenas uma maneira de viver e, se alguém tiver uma idéia diferente, é uma treta, é estúpido e eu provavelmente vou acabar na cadeia.
- De onde veio tudo isso?
- Segundo a tua idéia, eu devo trabalhar por uns míseros tostões, poupá-los e juntá-los para poder acabar casado, com uma hipoteca, filhos e uma mulher que talvez seja uma mulher e uma mãe melhor do que foi a nossa mãe, Mas esse é o teu projecto de vida, sabes? Não é o meu. Deixou cair a mangueira gorgolejante para o chão, de onde a água correu para o relvado poeirento.
- Isto não tem nada a ver com um projecto de vida. Trata-se simplesmente de bom senso. Vê bem o que me propões, por amor de Deus. Vê bem o que te propuseram.
- Dinheiro - respondeu ele. - Cinco mil dólares. Cinco mil dólares de que eu preciso imenso.
- Para comprares um barco que não sabes dirigir? Para levar turistas à pesca sabe Deus onde? Pensa bem nas coisas, nem que seja desta vez, está bem? Se não for o barco pensa pelo menos nessa idéia de seres correio.
- Eu? - Soltou uma gargalhada rouca. - Eu é que deveria pensar bem nas coisas? E tu? Quando é que o vais fazer?
- Eu? O quê...
- De facto, é espantoso. Sabes dizer-me como hei-de viver a minha vida enquanto a tua é uma contínua anedota e tu nem sequer sabes. E aqui estou eu, a dar-te uma hipótese decente de pela primeira vez saíres dela há quanto tempo... dez anos? Mais?... E tudo o que tu...
- O quê? Sair de quê?
- fazes é estragar-me tudo. Porque não gostas do modo como eu vivo. E nunca hás-de ver que o modo como tu vives é pior.
- Que sabes tu do modo como eu vivo? - Sentiu-se extremamente zangada. Odiava a maneira como o irmão mudava as conversas. Se alguém quisesse ter uma conversa com ele acerca das opções que tomara ou queria tomar, invariavelmente voltava os projectores para a outra pessoa. Esse projector transformava-se sempre num ataque do qual apenas os muitos espertos conseguiam escapar incólumes. - Há meses que não te vejo. Apareces-me aqui, entras-me em casa, dizes-me que precisas de ajuda para um negócio escuro e, como eu não colaboro como estavas à espera, tudo passa a ser culpa minha. Mas eu não vou entrar nesse jogo.
- Claro. Preferes entrar no do Matt.
- O que é que queres dizer com isso? - perguntou China. Mas ao ouvir falar de Matt não pôde evitar sentir o dedo esquelético do medo a tocar-lhe na espinha.
- Meu Deus, China. Pensas que eu sou estúpido, mas quando vais perceber as coisas?
- Perceber que coisas? De que estás tu a falar?
- Tudo isto acerca do Matt. Vives para o Matt. Poupas o teu dinheiro "para mim, para o Matt e para o futuro". É ridículo. Não. É patético como o caraças. Estás aqui na minha frente, tão completamente nas nuvens que nem te deste conta... - Deteve-se. De repente pareceu lembrar-se de onde estava, com quem estava e o que se passara antes de se encontrarem ambos naquele lugar. Inclinou-se e apanhou a mangueira, levou-a de novo para junto da casa e fechou a torneira. Enrolou a mangueira no chão com demasiado cuidado.
China observou-o. De súbito pareceu-lhe que toda a sua vida, o seu passado e o seu futuro, se tinha reduzido pelo fogo àquele momento. Sabendo e não sabendo, simultaneamente.
- Que sabes tu sobre o Matt? - perguntou ao irmão.
Já sabia parte da resposta. Os três tinham passado a adolescência naquele bairro degradado de uma cidade chamada Orange onde Matt era surfista, Cherokee o seu acólito e China uma sombra de ambos. Mas nunca conhecera o resto da resposta porque esta estivera oculta nas horas e nos dias que os dois rapazes tinham cavalgado sozinhos as ondas de Huntington Beach.
- Esquece. - Cherokee passou por ela e voltou para casa.
Ela seguiu-o. Mas ele não parou na cozinha nem no quarto. Atravessou a casa, abriu a porta exterior e saiu para o alpendre. Deteve-se aí, semicerrando os olhos devido ao brilho excessivo da rua e ao reflexo do sol nos carros estacionados. Um golpe de vento varreu as folhas secas do passeio.
- É melhor que me digas onde queres chegar com isto - disse China. - Começaste a conversa. Podes muito bem terminá-la.
- Esquece - respondeu ele.
- Disseste patética. Disseste ridícula. Disseste um jogo.
- Escapou-me - disse ele. - Estava furioso.
- Falas com o Matt, não é verdade? Ainda o deves encontrar quando vai a casa dos pais. O que sabes, Cherokee? Ele é... - Não sabia se o poderia realmente dizer, tanta relutância sentia em saber. Mas eram as suas demoradas ausências, as suas viagens a Nova Iorque, o cancelamento dos planos de ambos. Havia o facto de ele viver em Los Angeles quando não estava de viagem, mas quando estava em casa, mostrava-se sempre demasiado ocupado com o seu trabalho para poder passar um fim-de-semana com ela. Tentara convencer-se de que tudo aquilo nada significara colocado na balança em que pesava os anos que tinham passado juntos. Mas as suas dúvidas haviam aumentado e agora ali estavam, diante dela, pedindo para ser assumidas ou esquecidas.
- Matt tem outra mulher? - perguntou ao irmão.
Ele respirou fundo e abanou a cabeça. Mas aquilo parecia mais uma reacção ao facto de ela ter feito aquela pergunta do que uma resposta.
- Cinqüenta dólares e uma prancha de surf - disse ele à irmã. Foi o que eu pedi. Forneci o produto e uma boa garantia... Sé simpático para ela, disse eu, e ela colabora contigo... por isso ele esteve disposto a pagar.
China escutou as palavras mas, por um momento, o seu espírito recusou-se a assimilá-las. Depois recordou-se da prancha de surfe: Cherokee trouxera-a para casa e dissera com ar triunfante. "Matt ofereceu-ma!" e recordou-se do que se seguira: com dezassete anos, nunca tinha saído com um rapaz, muito menos sido beijada ou tocada e outras coisas mais e Matthew Whitecomb - alto e tímido, bom com a prancha de surfe, mas atrapalhado com as raparigas - indo lá a casa e gaguejando um pedido embaraçado para um encontro. Só que, daquela primeira vez, não era realmente embaraço, mas sim o desejo ansioso de cobrar o que pagara ao irmão para ter.
- Tu vendeste... - Não conseguiu completar a frase. Cherokee voltou-se para olhar para ela.
- Ele gosta de ir para a cama contigo, China. É só isso. E pronto. Nada mais.
- Não acredito em ti - disse China, mas sentia a boca seca, mais seca do que a sua pele naquele calor e com o vento que vinha do deserto, ainda mais seca do que a terra queimada e gretada onde as flores murchavam e se escondiam as lagartas.
Ela sentiu atrás de si o puxador enferrujado da velha porta exterior. Entrou em casa. Ouviu o irmão que a seguia, arrastando tristemente os pés.
- Não queria dizer-te - comentou. - Lamento. Nunca tive intenções de to dizer.
- Sai daqui - replicou ele. - Vai-te embora. Vai.
- Sabes que eu estou a dizer a verdade, não sabes? Sentes isso, como sentes o resto: que alguma coisa não está bem entre vocês e há muito tempo.
- Não sei nada disso - disse-lhe ela.
- Sabes, sim. É melhor saber. Podes separar-te dele agora. - Aproximou-se por trás e pôs-lhe a mão no ombro, num gesto para a consolar.
- Vem comigo para a Europa, China - disse em voz baixa. - É um bom lugar para começares a esquecer.
Ela sacudiu-lhe a mão e voltou-se para ele.
Contigo, nem sequer saía desta casa.
5 de Dezembro, 6h e 30m
ILHA DE GUERNSEY CANAL DA MANCHA
Ruth BROUARD ACORDOU SOBRESSALTADA. ALGUMA COISA NÃO ESTAVA bem dentro de casa. Deixou-se ficar imóvel na escuridão, como aprendera a fazer havia tantos anos, aguardando que o som se repetisse para saber se estava em segurança no seu esconderijo ou se deveria fugir. Era-lhe impossível identificar aquele som, mas sabia que não fazia parte dos barulhos nocturnos que estava habituada a ouvir - o estalar da casa, o bater de uma janela no seu caixilho, os suspiros do vento, o grito de uma gaivota acordada do sono - e o seu pulso acelerou ao mesmo tempo que esforçava os ouvidos e os olhos para distinguir entre os objectos do seu quarto, testando cada um deles, comparando a sua posição na penumbra com a que mantinham à luz do dia, quando nem fantasmas nem intrusos se atreveriam a perturbar a paz do antigo casarão em que vivia.
Não ouviu mais nada, por isso atribuiu o seu súbito acordar a um sonho de que não conseguia recordar-se. Atribuiu o nervoso à imaginação e à medicação que tomava, o mais forte analgésico que o médico arranjara para não lhe receitar a morfina de que o seu corpo necessitava.
Gemeu na cama, sentindo a dor percorrer-lhe os ombros e os braços. Pensou que os médicos eram guerreiros modernos, treinados para combater o inimigo interior, até que o último corpúsculo libertasse o fantasma. Estavam programados para o fazer e ela estava-lhes grata. Mas havia alturas em que o doente sabia mais do que o médico e ela apercebia-se de que tinha chegado a um desses momentos. Seis meses, pensou. Faltavam duas semanas para fazer sessenta e seis anos, mas nunca chegaria a fazer sessenta e sete. O diabo conduzira-lhe o mal dos seios até aos ossos, depois de uma remissão de vinte anos, durante os quais se tornara optimista.
Mudou de posição para ficar deitada de lado e o seu olhar caiu sobre os números vermelhos do relógio digital que tinha sobre a mesa-de-cabeceira. Era mais tarde do que pensava. A estação do ano tinha-a enganado. Concluíra que eram duas ou três da manhã porque estava escuro, mas eram seis e meia, faltando apenas um hora para se levantar, como era costume.
Ouviu um som vindo do quarto ao lado do seu, mas dessa vez não era um ruído deslocado, nascido do sonho ou da imaginação. Era sim o som da madeira a bater em madeira, como a porta de um guarda-roupa que se abria e fechava, e a mesma manobra na gaveta de uma cômoda. Qualquer coisa caiu no chão com um baque surdo e Ruth imaginou os tênis a caírem por acaso das mãos dele na sua pressa de os calçar.
Sem dúvida já teria executado algumas contorções para se enfiar no fato de banho - um insignificante triângulo de Hera azul-anil que ela considerava totalmente inadequado para um homem da idade dele - e o fato de treino que nessa altura já o cobriria. Dos preparativos que realizava no quarto, restava-lhe calçar os sapatos que usaria na sua caminhada até à baía e devia ser o que fazia naquele momento. O ranger da cadeira de baloiço disse-o a Ruth.
Sorriu ao escutar os movimentos do irmão. Guy era previsível como as estações do ano. Na noite anterior, dissera que tencionava ir nadar na manhã seguinte e assim faria, conforme era habitual. Atravessaria o terreno para chegar ao atalho exterior e depois, à laia de aquecimento, desceria rapidamente até à praia, pela estrada estreita, aos altos e baixos que abrira um túnel em ziguezague por baixo das árvores. Ruth admirava sobretudo a capacidade do irmão para seguir os seus planos e para os levar a bom termo.
Ouviu a porta do quarto fechar-se. Sabia exactamente o que se seguiria. No escuro, iria ao armário buscar uma toalha para levar consigo. Desse modo gastaria dez segundos, depois do que precisaria de cinco minutos para localizar os seus óculos de mergulho, que na manhã anterior tinha guardado na caixa das facas, lançado sobre a estante de música do escritório ou atirado, sem pensar, para o armário do canto encostado à parede da copa. Já com os óculos na sua posse, partiria para a cozinha para fazer o chá e quando o tivesse pronto - porque depois levava-o sempre consigo, como recompensa fumegante, de ginkgo e verde, para outro mergulho bem-sucedido numa água demasiado fria para a maioria dos mortais - sairia de casa e atravessaria o relvado em direcção aos castanheiros. Por trás deles ficava o caminho e, por trás deste, o muro que limitava a sua propriedade. Ruth sorriu pensando na previsibilidade do irmão. Não só era o que mais gostava nele, como o que tinha dado à sua vida uma sensação de segurança que esta, por direito, não deveria ter tido.
Viu os minutos mudarem no seu relógio digital enquanto o irmão fazia os seus preparativos. Deveria agora estar junto ao armário, depois a descer a escada, depois à procura dos óculos, insultando os lapsos de memória que se tornavam mais freqüentes à medida que se aproximava dos setenta anos. Agora devia estar na cozinha, pensou; talvez a comer alguma coisa antes de ir nadar.
No momento em que o ritual matutino de Guy o devia estar a conduzir à saída, Ruth levantou-se da cama e pôs o roupão pelos ombros. Descalça, dirigiu-se à janela e puxou para o lado as pesadas cortinas. Começou uma contagem decrescente a partir de vinte e, quando chegou a cinco, viu-o lá em baixo a sair da casa, tão fiável como as horas do dia, como o vento de Dezembro e a aragem salgada que vinha do canal da Mancha.
Estava vestido como sempre: um gorro vermelho de tricô, puxado para a testa para tapar as orelhas e o forte cabelo grisalho; o fato de treino azul-escuro, manchado nos cotovelos, nos punhos e nas pernas com a tinta branca que no ano passado usara na estufa; tênis sem meias - embora não o visse, conhecia o irmão e sabia o que ele usava. Levava o chá e tinha uma toalha em redor do pescoço. Calculava que os óculos estariam no bolso. - bom banho - disse para o vidro gelado. E acrescentou aquilo que ele lhe dizia sempre, aquilo que a mãe deles gritara havia muito tempo quando o barco de pesca se afastava da doca levando-os para longe de casa na noite escura como o breu: "Au revoir et adieu, mês chéris."
Lá em baixo ele fez o costume. Atravessou o relvado e dirigiu-se para as árvores e para o caminho por detrás delas.
Mas, naquela manhã, Ruth viu mais qualquer coisa. Quando Guy chegou aos ulmeiros, uma figura sombria saiu disfarçadamente debaixo deles e começou a seguir o irmão.
Lá adiante Guy Brouard viu que os Duffy já tinham as luzes acesas na sua casa de pedra, em parte construída dentro do muro que delimitava a propriedade. E com o seu telhado inclinado, a moradia que já fora uma fonte de renda para o primeiro dono do Lê Reposoir, servia agora de abrigo ao casal que ajudava Guy e a irmã a cuidar da propriedade: Kevin Duffy, no campo e a mulher, Valerie, dentro da casa grande.
As luzes indicavam que Valerie estava levantada e a tratar do pequeno-almoço de Kevin. Era mesmo dela; Valerie Duffy era uma esposa incomparável.
Guy pensava que se Valerie não existisse teria de ser inventada. Era a última da sua espécie, uma mulher do passado que considerava ser seu dever e privilégio cuidar do seu homem. Se o próprio Guy tivesse logo encontrado uma mulher daquelas, não se teria visto obrigado a fazer tentativas na esperança de dar com ela.
As suas duas esposas tinham sido ambas muito aborrecidas. Tivera um filho da primeira, dois da segunda, boas casas, belos carros, óptimas férias ao sol, amas e colégios internos... Não importara: "Trabalhas de mais. Nunca estás em casa. Gostas mais desse teu trabalho miserável do que de mim." Era uma variação infindável do velho tema. Não admirava que ele tivesse sido incapaz de se manter fiel.
Passados os ramos nus dos ulmeiros, Guy seguiu o caminho da casa em direcção ao atalho. Ainda estava tudo em silêncio, mas, quando chegou ao portão de ferro e abriu uma das partes, os primeiros pássaros agitaram-se dentro dos silvados, dos espinheiros e das trepadeiras que cresciam ao longo da estrada estreita e se agarravam ao muro coberto de líquenes que a ladeava.
Estava frio. Dezembro, o que se poderia esperar? Mas como era muito cedo, não havia vento, embora um leve sudoeste prometesse que, nesse dia, seria impossível nadar depois do meio-dia. Não que houvesse outra pessoa a fazê-lo em Dezembro. Era uma das vantagens de suportar bem o frio. Tinha a água só para si.
Era assim que Guy Brouard gostava. A hora que dedicava ao seu banho de mar era um tempo de reflexão e geralmente tinha muito em que pensar.
Naquele dia, não era diferente. com o muro da propriedade à sua direita e as sebes altas do terreno lavrado à sua esquerda, dirigiu-se para a curva depois da qual começaria a descer a encosta íngreme até à baía. Meditava sobre o que tinha feito da sua vida nos últimos meses, em parte voluntariamente e, em pleno conhecimento de causa, em parte como conseqüência de acontecimentos que ninguém pudera prever. Criara desilusões, confusão e traição entre os seus associados mais próximos. E, como ha muito que era um homem que só confiava em si próprio no que dizia respeito aos seus assuntos íntimos, nenhum deles fora capaz de compreender - muito menos de digerir - o facto de que as expectativas sobre si nunca tivessem sido atingidas. Durante quase uma década, fizera-os pensar que Guy Brouard era um benfeitor permanente, paternal na preocupação com os seus futuros, generoso no modo como garantia a segurança desses mesmos futuros. Nunca quisera induzi-los em erro. Muito pelo contrário, sempre desejara realizar o sonho de cada um deles.
Mas tudo isso acontecera antes de Ruth: conhecia o significado daquele esgar de dor quando pensava que ele não estava a ver. Claro que nunca se aperceberia se ela não se tivesse começado a escapar-se para passeios a que chamava "oportunidades para fazer exercício, frère" nos rochedos. Em Icart Point, dissera, buscava a inspiração para futuros bordados a partir dos cristais de feldspato do gneisse lameliforme. Em Jerbourg, afirmava, os padrões de xisto na pedra formavam tiras cinzentas irregulares que se podiam seguir, traçando o caminho que o tempo e a natureza usavam para colocar a mica e o sedimento na pedra antiga. Desenhava os tojos e descrevia com os seus lápis as armérias e as silenes marítimas cor-de-rosa e brancas. Colhia crisântemos dos prados, dispunha-os na superfície rugosa de um afloramento granítico e desenhava-os. Enquanto caminhava, cortava campânulas e giestas, urze e tojo, narcisos silvestres e lírios do campo, dependendo da estação do ano e das suas preferências. Mas as flores nunca chegavam a casa.
- Ficaram muito tempo no banco do carro, tive de as deitar fora - afirmava. - As flores do campo nunca duram, quando se colhem.
Assim fora, mês após mês. Mas Ruth não gostava de caminhar sobre os rochedos. Nem sequer de colher flores ou de estudar geologia. De modo que tudo aquilo levantara as suspeitas de Guy.
A princípio, fora suficientemente estúpido para pensar que a irmã tinha finalmente um homem na sua vida e que tinha vergonha de lho confessar. Porém, quando viu o carro dela junto ao Hospital Princess Elizabeth, mudou de idéias. Essa descoberta juntamente com o seu esgar de dor e as longas estadas no quarto haviam-no obrigado a aperceber-se daquilo que não queria enfrentar.
Ruth fora a única constante na sua vida, desde a noite em que tinham partido da costa de França, numa fuga já muito tardia, escondidos nas redes de um barco de pesca. Fora ela a razão para a sua sobrevivência, amadurecera, fizera planos e tivera êxito, porque ela precisara dele.
Mas aquilo? Nada podia contra aquilo. Contra aquilo de que a irmã sofria, já não haveria um barco de pesca na noite escura.
Por isso, a traição, confusão e desilusão que causara nos outros nada era comparada com a possibilidade de perder Ruth.
O banho era a sua libertação matinal da terrível ansiedade destas reflexões. Se não nadasse diariamente na baía, Guy sabia que seria consumido pela idéia da irmã, já para não falar na sua completa impotência para mudar o que lhe estava a acontecer.
A estrada que agora pisava no lado oriental da ilha, era íngreme e estreita, com muita vegetação. Ao abrigo dos raros ventos fortes vindos de França as árvores eram ali muito abundantes. À passagem de Guy, os sicómoros e castanheiros, freixos e faias, formavam um arco esquelético, um desenho cinzento na escuridão do céu antes do nascer do sol. As árvores erguiam-se nos flancos das colinas, retidas por muros de pedra. Na base destes, a água corria com força de uma nascente interior, cantando contra as pedras enquanto corria para o mar.
O caminho serpenteava, passando por uma azenha escura e por um chalé suíço pouco adequado à paisagem: era um hotel fechado durante o Inverno. Terminava num minúsculo parque de estacionamento, onde um snack-bar do tamanho do coração de um misantropo estava entaipado e aferrolhado e a rampa de granito que outrora fora usada para permitir o acesso de cavalos e carroças ao vraic, o fertilizante da ilha, encontrava-se agora cheia de algas e escorregadia.
O ar estava calmo, as gaivotas ainda não se mexiam nos seus abrigos nocturnos no alto dos rochedos. Na baía as águas mostravam-se tranqüilas, qual espelho de cinzas reflectindo a cor do céu da madrugada. Não havia ondas naquele local profundamente abrigado, apenas o bater da água nos seixos, um toque que parecia libertar das algas os cheiros contrastantes e activos de vida a nascer e de vida em decomposição.
Junto à bóia de salvação, presa num poste havia muito enfiado no lado de um rochedo, Guy poisou a toalha e o termo do chá sobre a pedra lisa. Tirou os sapatos e despiu as calças do fato de treino. Meteu a mão no bolso do blusão para retirar os óculos.
Contudo, a sua mão entrou em contacto com algo mais do que os óculos. Dentro da algibeira estava um objecto que retirou e observou na palma da mão.
Estava embrulhado em linho branco. Desenrolou-o e fez surgir uma pedra circular, com um buraco no meio, como se fosse uma roda, pois era uma roda que queria representar: énne rouelle dê faitot. Uma roda das fadas.
Guy sorriu ao ver o amuleto e as recordações que evocava em si. A ilha era um local de folclore. Para aqueles ali nascidos e criados, de pais e avós também ali nascidos e criados, levar de vez em quando consigo um talismã contra as bruxas, era uma coisa que poderia ser ridicularizada publicamente, mas que em privado não se negava. Também devias usar uma, sabes, Guy. É importante andar protegido.
Todavia aquela pedra, fosse ou não uma roda das fadas, não conseguira protegê-lo do único modo que ele sempre se julgara protegido. O inesperado acontecia sempre na vida de toda a gente, portanto não poderia considerar-se surpreendido quando ocorrera na sua.
Voltou a enrolar a pedra no pano de Unho e meteu-a no bolso. Despiu o blusão, tirou da cabeça o gorro de malha e pôs os óculos. Retomou o seu caminho pela praia estreita e, sem hesitar, entrou na água.
O frio chegou até ele como o fio de uma navalha. Mesmo em pleno Verão, o mar da Mancha não era tropical. Naquela tenebrosa manhã quase de Inverno, parecia glacial, perigoso e ameaçador.
Mas não pensou nisso. Pelo contrário, avançou resoluto e, assim que ganhou a profundidade suficiente para o fazer em segurança, deu um impulso e começou a nadar. Avançava vigorosamente afastando as manchas de algas.
Deste modo, nadou uma centena de metros até ao afloramento granítico em forma de sapo que assinalava o ponto em que a baía se juntava ao canal da Mancha. Deteve-se mesmo no centro, sobre uma acumulação de guano, presa numa fractura da rocha. Voltou-se para a praia e começou a andar dentro de água, a melhor maneira que conhecia de se manter em forma para a próxima época de esqui na Áustria. Conforme era seu hábito, retirou os óculos para limpar a vista por uns instantes. Inspeccionou vagamente os rochedos ao longe e a frondosa vegetação que os cobria. E foi assim que o seu olhar desceu numa viagem irregular, por cima dos pedregulhos e até à praia.
Perdeu a conta das passadas.
Estava alguém na praia. Uma figura quase toda na sombra, mas que obviamente o vigiava. De um lado da rampa de granito a silhueta estava vestida de escuro com uma mancha branca em redor do pescoço que fora o que sem dúvida lhe chamara a atenção. Quando Guy semicerrou os olhos para se aperceber melhor de quem se tratava, a pessoa afastou-se e atravessou a praia.
Não havia qualquer erro no seu destino. A figura deslizou na direcção das suas roupas e ajoelhou junto a elas para apanhar qualquer coisa: o blusão ou as calças, era difícil dizer àquela distância.
Mas Guy pôde ver o que a figura andava à procura e praguejou. Apercebeu-se de que devia ter esvaziado os bolsos antes de sair de casa. Nenhum ladrão vulgar estaria interessado na pequena pedra furada que Guy geralmente trazia consigo e também nenhum ladrão vulgar estaria à espera de encontrar os objectos de um banhista abandonados na praia numa madrugada de Dezembro. A pessoa sabia que ele estava a nadar na baía e ou procurava a pedra ou mexia-lhe na roupa para o obrigar a regressar a terra.
Pois bem, melhor para ele. Aquela era a sua hora de solidão. Não tencionava dividi-la fosse com quem fosse. Naquele momento apenas lhe importava a irmã e o modo como a irmã terminaria a vida.
Voltou a nadar. Atravessou duas vezes a baía a toda a largura. Quando olhou de novo para a praia, ficou satisfeito ao ver que quem lhe fora perturbar a paz tinha desaparecido.
Nadou para terra e chegou lá sem fôlego; tinha percorrido duas vezes a distância habitual naquela manhã. Saiu da água com dificuldade e esfregou imediatamente com a toalha o seu corpo transformado numa massa de pele de galinha.
O chá prometia ser um alívio ao frio de modo que se serviu de uma caneca do termo. Estava forte, amargo e muito quente e ele bebeu-o todo antes de despir aquele fato de banho e de se servir novamente. Desta vez bebeu mais lentamente enquanto se enxugava com a toalha, esfregando vigorosamente a pele para restituir algum calor aos seus membros. Vestiu as calças e agarrou no blusão. Colocou-o nos ombros e sentou-se numa rocha para secar os pés. Só depois de ter calçado os tênis é que meteu a mão no bolso. A pedra ainda lá estava.
Ficou a pensar naquilo. Ficou a pensar no que vira enquanto estava dentro de água. Esticou o pescoço e voltou a cabeça para o lado dos rochedos. Aparentemente nada se mexia por trás de si.
Perguntou a si próprio se não se teria enganado quanto ao que pensara ter visto na praia. Talvez que afinal não fosse uma pessoa, mas a manifestação de qualquer coisa na sua consciência. Por exemplo, uma incarnação da culpa.
Retirou a pedra do bolso. Desenrolou-a de novo e traçou com o dedo as iniciais nela gravadas.
Todos precisamos de protecção, pensou. O difícil era saber de quem e de quê.
Bebeu o resto do chá e serviu-se de outra caneca. Faltava menos de uma hora para o nascer do sol. Naquela manhã esperá-lo-ia ali.
15 de Dezembro, 22h e 15m
LONDRES
PODIAM FALAR DO TEMPO, O QUE ERA ÓPTIMO. UMA SEMANA DE CHUVA que praticamente não parara de cair por mais de uma hora era algo de notável, mesmo pelos terríveis padrões meteorológicos de Dezembro. Acrescentada à precipitação do mês anterior e ao facto de a maior parte do Somerset, East Anglia, Kent e Norfolk estarem debaixo de água - para não falar de três quartos das cidades de Iorque, Shrewsbury e Ipswich - transformou num fiasco a inauguração de uma exposição de fotografias a preto e branco numa galeria do Soho. Seria impossível conversar com a meia-dúzia de amigos e parentes que ali se tinham deslocado, enquanto, a dois passos de Londres/ as pessoas não tinham casa, milhares de animais andavam ao relento e muitos bens tinham sido destruídos. Não pensar no desastre natural seria certamente desumano.
Pelo menos era o que Simon St. James dizia repetidamente a si próprio.
Reconheceu a falácia inerente àquela linha de pensamento. Mesmo assim, insistiu na idéia. Ouviu o vento a fazer bater os vidros das janelas e agarrou-se àquele ruído como um afogado a um tronco meio submerso para encontrar a salvação.
- Porque não esperam por uma aberta? - perguntou aos seus convidados. - Vai ser terrível conduzir até casa. - Parecia-lhe que falava num tom solene e esperava poder atribuí-lo à preocupação pelo bem-estar dos amigos e não à sua cobardia. Não importava que Thomas Lynley e a mulher vivessem a menos de cinco quilômetros a nordeste de Chelsea. Ninguém deveria sair com aquele dilúvio.
Contudo, Lynley e Helen já tinham vestido os casacos. Estavam a três passos da porta de St. James. Lynley tinha na mão o guarda-chuva preto e a sua condição de seco provava que durante muito tempo tinham estado reunidos junto à lareira do escritório do rés-do-chão com St. James e a mulher. Ao mesmo tempo, o estado de Helen - atacada às onze horas da noite por aquilo que só eufemisticamente se poderiam chamar enjôos matinais no segundo mês de gravidez - sugeria partida eminente, com ou sem chuva. Mesmo assim St. James tinha esperanças.
- Ainda nem falámos do julgamento de Fleming - disse a Lynley, que era o agente da Scotland Yard encarregado da investigação do crime. Deves estar satisfeito porque o procurador o mandou imediatamente para o tribunal.
- Simon, pára com isso - disse calmamente Helen Lynley. Mas adoçou as suas palavras com um terno sorriso. - Não podes evitar as coisas indefinidamente. Fala com ela. Nem parece teu.
Infelizmente, parecia exactamente dele e, se a mulher de St. James tivesse ouvido o comentário de Helen Lynley teria sido a primeira a fazer aquela declaração. A vida com Deborah estava cheia de correntes traiçoeiras. Como um inexperiente barqueiro num rio desconhecido, St. James costumava afastar-se delas.
Olhou para trás para o escritório. Aí a lareira e as velas eram a única iluminação. Apercebeu-se de que deveria ter pensado em arranjar mais luz. A penumbra, que poderia ter parecido romântica noutras circunstâncias, naquelas assemelhava-se mais a um funeral.
Mas falta-nos o defunto, pensou. Isto não é uma morte. Apenas uma desilusão.
Para preparar aquela noite, a mulher trabalhara nas fotografias durante quase um ano. Acumulara uma bela quantidade de retratos tirados em toda a cidade de Londres: de vendedores de peixe às cinco da manhã em Billingsgate, até foliões mundanos à meia-noite, entrando aos tombos num clube nocturno de Mayfair. Capturara a diversidade cultural, étnica, social e econômica da capital e tivera esperança de que a inauguração, numa pequena mas distinta galeria de Little Newport Street, atraísse as atenções necessárias para lhe conseguirem uma menção numa das publicações que chegavam às mãos de coleccionadores em busca de novos artistas cujas obras se decidiam a comprar. Desejava apenas plantar a semente que era o seu nome no espírito das pessoas, dizia. A princípio não esperava vender muitas peças.
Mas não contara com o maldito tempo dos fins de Outono, princípios de Inverno. A chuva de Novembro não a preocupara muito. O tempo era geralmente mau naquela altura do ano mas, como as enormes chuvadas tinham continuado por Dezembro dentro, começou a ficar cheia de apreensões. Talvez devesse adiar a exposição até à Primavera. Talvez até ao Verão, quando as pessoas já tivessem começado a sair à noite?
St. James aconselhara-a a manter os seus planos. Dissera-lhe que o mau tempo nunca durava até ao fim de Dezembro. Já chovia havia muitas semanas e, estatisticamente falando, não poderia continuar por muito mais tempo.
Mas fora exactamente o que acontecera. Dia após dia, até que os parques da cidade se começaram a assemelhar a pântanos e o barro a crescer nos passeios. O solo saturado fazia cair as árvores e as caves das casas junto ao rio tinham-se transformado em piscinas de ondas.
Se a mãe e os irmãos de St. James não tivessem comparecido trazendo os cônjuges, companheiros e filhos, os únicos visitantes da abertura da exposição da mulher, teriam sido o pai de Deborah, alguns amigos pessoais cuja lealdade parecia sobrepor-se à prudência e cinco elementos do público. Para estes se dirigiram muitos olhares esperançosos até se tornar óbvio que três deles eram indivíduos que apenas procuravam abrigar-se da chuva, enquanto outros dois procuravam alívio do cansaço da fila de espera para arranjar mesa no restaurante Mr. Kong's.
Pela mulher, St. James tentara pôr cara alegre e o mesmo fizera o dono da galeria, um fulano chamado Hobart que falava inglês com o sotaque da moda, como se a letra não existisse no seu abecedário.
- Não se preocupe, querida - dissera a Deborah no seu peculiar modo de falar. - A exposição vai ficar aberta durante um mês e tem imensa qualidade. Já viu quantas obras vendeu?
- Já viu quantos parentes do meu marido aqui estão, senhor Hobart?
- respondeu Deborah com a sua habitual honestidade. - Se ele tivesse mais do que três irmãos já teríamos esgotado tudo.
Era verdade. A família de St. James fora generosa e apoiara-a muito. Mas aquilo que lhes vendera nunca teria o mesmo significado do que o que poderia ter vendido a um desconhecido.
- Sinto-me como se eles tivessem comprado por terem pena de mim - confidenciara no táxi para casa.
Fora principalmente por isso que, naquela hora, a companhia de Thomas Lynley e da mulher tinha sido tão bem recebida por St. James. Ia acabar por ter de defender o talento de Deborah em vista do desastre daquela noite e não se sentia capacitado para o fazer. Sabia que ela não iria acreditar numa única palavra, por muito que fossem verdadeiras as suas afirmações. Como tantos artistas, ela desejava uma espécie de aprovação exterior para o seu talento. Ele não provinha de fora, por isso não servia. Nem o pai, que, ao ir para a cama, lhe dera umas palmadinhas no ombro e dissera filosoficamente "Não se pode fazer nada contra este tempo, Deb." Mas Lynley e Helen serviam até certo ponto. Por isso, quando por fim tivesse de trazer à baila o assunto de Little Newport Street, St. James queria tê-los presentes.
Contudo, não seria assim. Via que Helen estava a cair de cansaço e Lynley parecia decidido a levar a mulher para casa.
- Conduz com cuidado - disse então St. James.
- Coragio, marido desalmado - disse Lynley com um sorriso.
St. James ficou a vê-los seguir debaixo da chuva torrencial, até Cheyne Row, onde tinham o carro. Quando viu que eles lá tinham chegado, fechou a porta e preparou-se para a conversa que o aguardava no escritório.
À parte o breve comentário que fizera ao senhor Hobart na galeria, Deborah mostrara uma coragem admirável até entrar no táxi para ir para casa. Conversara com os amigos, cumprimentara os sogros, com exclamações de júbilo e conduzira o fotógrafo Mel Doxon, seu mentor, de fotografia em fotografia para escutar os seus elogios e receber uma crítica perspicaz à sua obra. Apenas alguém que a conhecesse desde sempre - como o próprio St. James - poderia aperceber-se pela sua expressão de desânimo e pelos seus rápidos olhares em direcção à porta do quanto ela tinha tido esperanças numa aprovação do seu trabalho dada por desconhecidos, cuja opinião, de modo algum, teria sido importante noutras circunstâncias.
St. James encontrou Deborah onde a tinha deixado, quando acompanhara os Lyndleys à porta: ficara voltada para a parede onde ele mantinha sempre algumas das suas fotografias. Observava-as com as mãos atrás das costas.
- Desperdicei um ano da minha vida - declarou ela. - Podia ter estado a trabalhar num lado qualquer, a ganhar dinheiro. Podia ter tirado fotografias de casamentos ou qualquer coisa do gênero. De bailes de debutantes, de baptizados, bar nritzvahs, festas de aniversário. Retratos de homens egoístas com as suas esposas-troféu. Sabe-se lá que mais.
- De turistas por detrás dos recortes da Família Real? - arriscou ele. - Provavelmente ganharias umas libras se arranjasses um estaminé diante do Palácio de Buckingham.
- Simon, estou a falar a sério - disse ela e, pelo seu tom de voz, ele apercebeu-se de que a sua tentativa de fazer humor não os levaria a parte alguma, nem sequer ignorava que não conseguiria que a mulher percebesse que a desilusão de uma noite era na realidade apenas um atraso. St. James foi ter com ela e contemplou as fotografias. Ela deixava-o sempre escolher as suas preferidas de cada conjunto que produzia e, na sua opinião de leigo, aquele, em particular, estava entre os melhores que produzira: sete estudos a preto e branco feitos em Bermondsey, de madrugada, onde os comerciantes de toda a espécie, desde antigüidades a mercadoria roubada, expunham os seus artigos. Gostava da intemporalidade das cenas que ela capturara, da sensação de que Londres nunca mudava. Gostava dos rostos e do modo como eram iluminados pelos candeeiros da rua e distorcidos pelas sombras. Gostava da esperança que surgia num, da argúcia de outro, da cautela, do cansaço e da paciência do resto. Considerava a mulher mais do que uma pessoa meramente talentosa com a máquina fotográfica. Achava que ela tinha um dom com que muito poucos tinham sido fadados.
- Todos os que querem iniciar este tipo de carreira - disse - começam por baixo. Pensa no fotógrafo que mais admiras e verás que começou como assistente, um fulano que carregava os projectores e as lentes de
alguém que já tinha feito o mesmo. O mundo seria fantástico se, para ter êxito, bastasse apenas produzir belas fotografias e depois receber [elogios sem fazer mais nada. Mas não é assim. - Não quero elogios. Não é disso que se trata. - Pensas que derrapaste no gelo. Um ano e quantas fotografias depois...
[ - Dez mil trezentas e vinte e duas. Mais ou menos. - E não saíste do mesmo sítio?
- Não fiz quase nada. Nem dei um passo completo. Nem sei se... se vale a pena... gastar tempo com este tipo de vida. - Aquilo que me estás a dizer é que só a experiência não chega para ti. Estás a dizer a ti própria... e a mim, não que eu acredite, repara...
que o trabalho apenas conta se produzir o resultado que tu decidiste que desejas.
- Não é isso.
- Então o que é?
- Preciso acreditar, Simon.
- Em quê?
- Não posso passar outro ano assim. Quero ser mais do que a mulher artista de Simon St. James, de calças e botas de combate, carregando as suas máquinas fotográficas para dar uma volta por Londres. Quero contribuir para a nossa vida. E não o posso fazer se não acreditar.
- Então não deverias começar o processo por acreditar? Se olhasses para todos os fotógrafos cujas carreiras estudaste, não verias aqueles que começaram...
- Não é isso que estou a dizer! - voltou o rosto para ele. - Não preciso aprender a acreditar que se começa por baixo e se vai trabalhando até chegar ao topo. Não sou tão louca que pense que se fizer uma exposição uma noite, na manhã seguinte a National Portrait Gallery vem pedir amostras do meu trabalho. Não sou estúpida, Simon.
- Não estou a dizer que o sejas. Estou a tentar afirmar-te que o fracasso de uma única exposição das tuas fotografias, que, tanto quanto sei, não será de modo algum um fracasso, não mede seja o que for. É apenas uma experiência, Deborah. Nada mais, nada menos. O que te causa problemas é o teu modo de interpretar a experiência.
- Não devemos então interpretar as nossas experiências? Devemos apenas passar por elas e partir? Arrisca-se e nada se ganha? É isso que estás a dizer?
- Sabes bem que não. Estás a ficar perturbada e isso dificilmente nos trará proveito...
- A ficar perturbada? Já estou perturbada. Passei meses na rua. Meses na câmara escura. Uma fortuna em material. Não posso continuar a fazer isto sem acreditar que vale a pena.
- E quem define se vale ou não? As vendas? O êxito? Um artigo no Sunday Times Magazine?
- Não! Claro que não. Não se trata de nada disso e tu sabe-lo bem. Afastou-se dele a chorar. - Ora, porque será que me importo.
E teria saído da sala e subido as escadas a correr, deixando-o, como sempre, sem entender o caracter dos demônios que enfrentava periodicamente. Sempre fora assim entre eles: a natureza apaixonada e imprevisível dela, confrontada com a constituição fleumática dele. A terrível divergência no modo como cada um deles via o mundo era uma das qualidades que tornava tão boa a sua relação. Infelizmente, era também uma das qualidades que também a tornava negativa.
- Então diz-me - pediu ele. - Diz-me, Deborah.
Ela deteve-se no limiar. Parecia Medeia, toda ela fúria e intenção, com o cabelo comprido, encaracolado pela chuva a cair-lhe sobre os ombros e os olhos lançando reflexos metálicos.
- Preciso de acreditar em mim - disse ela, com simplicidade. Parecia desesperada com o esforço despendido ao falar; e foi assim que ele compreendeu que ela detestava não ser compreendida.
- Mas com certeza sabes que o teu trabalho é bom - disse ele. Como é possível ires a Bermondsey, captar assim as coisas - apontou para a parede - e não saberes que o teu trabalho é bom? Mais que bom. Meu Deus/ é brilhante.
- Porque o compreender tudo, passa-se aqui - replicou Deborah. A sua voz tomara-se estranhamente calma e a sua postura, tão rígida momentos antes, libertou a sua tensão, de modo que pareceu esvaziar-se diante dele. Apontou para a cabeça quando pronunciou a palavra aqui e poisou a mão por baixo do seio esquerdo quando disse: - Mas acreditar passa-se aqui. Até agora, ainda não consegui fazer a ponte entre os dois. E, se não for capaz, como posso vencer o que tenho de vencer para fazer qualquer coisa que prove a mim própria aquilo de que sou capaz?
Então era aquilo, pensou St. James. Deborah não acrescentara o resto e ele agradeceu-lho. Fora negada à sua mulher a possibilidade de provar a si própria que era capaz de ser mulher. Assim procurava qualquer coisa para definir a si própria quem era.
- Meu amor... - disse ele, mas não encontrou outras palavras. Porém essas mostraram conter mais bondade que a que ela podia suportar, pois o metal dos seus olhos tornou-se imediatamente líquido e ela ergueu a mão para o impedir de atravessar a sala e a vir consolá-la.
- Sempre, seja o que for que aconteça, há uma voz dentro de mim que me segreda que me estou a iludir.
- Não acontecerá o mesmo com todos os artistas? E aqueles que têm êxito não serão os que conseguem ignorar as suas dúvidas?
- Mas eu não consigo arranjar maneira de não ouvir esta voz. "Estás a brincar às fotografias", diz-me ela. "Estás só a fingir. Estás a perder tempo."
- Como podes pensar que te estás a iludir quando tiras fotografias como estas?
- Tu és meu marido - replicou ela. - Que mais poderias dizer? St. James sabia que, de facto, não havia maneira de contrapor aquela
afirmação. Como marido, queria a sua felicidade. Ambos o sabiam que, exceptuando o pai dela, seria a última pessoa a pronunciar uma palavra que a pudesse destruir. Ele sentiu-se derrotado e ela devia ter-lho lido no rosto pois disse:
- Não acabámos de ter a prova? Tu próprio viste. Quase ninguém apareceu.
Tinham voltado à mesma.
- Foi por causa do tempo.
- Parece-me que houve mais qualquer coisa para além do tempo. Discutir aquilo era um beco sem saída, tão amorfo e infundado se
tornara.
- Então que resultado esperavas? - perguntou St. James como bom cientista. - O que teria sido razoável para a tua primeira exposição em Londres?
Ela reflectiu sobre a pergunta, passando os dedos pela ombreira branca da porta, como se pudesse ler aí a resposta em Braille.
- Não sei - respondeu, por fim. - Penso que tenho medo de saber.
- Medo de quê?
- Vejo que as minhas expectativas eram demasiado irrealistas. Sei que mesmo que fosse outra Annie Leibovitz1 tudo levaria tempo. Mas, e se tudo em mim for como as minhas expectativas? E se tudo for também demasiado irrealista?
- Tudo o quê?
- Não estarei por exemplo a ser ridícula? E isso que tenho perguntado a mim própria. E se as pessoas me estiverem apenas a tentar encorajar? A tua família, os nossos amigos, o senhor Hobart. E se tiverem aceitado as minhas fotografias à falta de melhor? Muito bem, minha senhora, sim, exporno-las na galeria. Não vai fazer mal no mês de Dezembro, pois ninguém pensa em visitar exposições fotográficas no meio das compras de Natal e, além do mais, precisamos de alguma coisa para tapar as paredes durante o mês em que ninguém quer expor. E se for esse o caso?
- Estás a insultar toda a gente. A família, os amigos. Todos, Deborah, e a mim também.
Ao ouvir aquelas palavras Deborah não conseguiu conter as lágrimas. Levou a mão fechada à boca como se soubesse muito bem que a sua reacção ao que acontecera estava a ser infantil. Contudo não pudera conter-se. No fim do dia, Deborah era simplesmente Deborah.
1 Fotógrafa norte-americana nascida em 1949, conhecida pelas suas fotografias a várias celebridades, incluindo a última fotografia de John Lennon, tirada no próprio dia da morte do cantor. [N. da T. ]
"Ela é extremamente sensível, não é meu querido?", comentara uma vez a mãe dele, sugerindo que a proximidade da emoção de Deborah era semelhante ao contágio da tuberculose.
- Preciso disto, sabes - disse ela. - E se não o conseguir, quero sabê-lo porque preciso de qualquer coisa. Compreendes?
Ele atravessou a sala, dirigiu-se a ela e abraçou-a, sabendo que a razão das lágrimas da mulher pouco tinha a ver com o que se passara em Little Port Street. Queria dizer-lhe que nada daquilo importava, mas não lhe mentiria. Queria aliviá-la do seu combate interior, mas também tinha o seu. Queria tornar a sua vida em comum mais fácil para ambos, mas não tinha forças. Por isso puxou-lhe a cabeça para o ombro.
- Não tens nada que me provar - disse ele com a boca junto à sua cabeleira ruiva e encaracolada.
- Se ao menos fosse assim tão fácil - foi a resposta dela. Simon começou a dizer que era tão fácil como fazer com que cada dia fosse um dia importante em vez de tentarem projectar-se num futuro que nenhum dos dois poderia conhecer. Mal começara a falar quando a campainha da porta tocou com toda a força, como se alguém lá fora se tivesse encostado a ela.
Deborah afastou-se do marido, limpando as lágrimas enquanto olhava para a porta.
- O Tommy e a Helen devem ter-se esquecido... Deixaram aqui alguma coisa? - Olhou em redor do aposento.
- Julgo que não.
O toque da campainha continuou e despertou a cadela basset que dormitava. Enquanto se dirigiam à porta, Peach subiu as escadas, vinda da cozinha, ladrando como um verdadeiro cão de caça. Deborah pegou ao colo no animal que se debatia furiosamente.
St. James abriu a porta.
- Decidiram... - mas calou-se, pois não viu nem Thomas Lynley nem a mulher.
Viu sim, no primeiro degrau, tratava-se de um homem de casaco preto, com o cabelo forte encharcado da chuva e as calças de ganga coladas às pernas, oculto na sombra, encostado ao corrimão de ferro. Semicerrou os olhos ofuscado pela luz e disse para St. James:
- O senhor é... - E nada mais, ao olhar para o local onde Deborah se encontrava, com o cão ao colo, mesmo atrás do marido. - Graças a Deus - disse ele. - Já dei a volta umas dez vezes. Apanhei o metro em Victoria, mas enganei-me no caminho e não me apercebi senão quando...
Depois o mapa ficou encharcado. Depois voou com o vento. Depois perdi a morada. Mas agora, Graças a Deus...
E assim, ficou completamente iluminado e disse apenas:
- Debs. Que milagre. Estava a pensar que nunca mais te encontrava.
Debs. Deborah avançou, sem se atrever a acreditar. O tempo e o espaço surgiram imediatamente, tal como as pessoas desse tempo e desse espaço. Poisou Peach no chão e chegou-se mais ao marido para poder espreitar melhor pela porta.
- Simon! Deus do céu! Não acredito... - disse, mas, em vez de completar o seu pensamento, decidiu ver por si própria aquilo que lhe parecia muito real, apesar de completamente inesperado. Estendeu a mão ao homem que esperava nos degraus e puxou-o para dentro de casa. Cherokee? - O seu primeiro pensamento foi como poderia o irmão da sua velha amiga encontrar-se à sua porta. Depois, ao ver que era verdade, que ele realmente estava ali, exclamou: - Meu Deus, Simon. É o Cherokee River.
Confuso, Simon fechou a porta ao mesmo tempo que Peach avançava para farejar os sapatos do visitante. Parecendo não gostar do que ali tinha descoberto, afastou-se dele e começou a ladrar.
- Cala-te, Peach. É amigo - disse Deborah.
- Quem... - perguntou Simon, ao ouvir este comentário e pegando na cadela, acalmou-a.
- Cherokee River - repetiu Deborah. - És o Cherokee, não é verdade? - perguntou ao homem, pois embora tivesse a certeza absoluta tinham passado seis anos desde a última vez que o vira e mesmo durante o período da sua amizade talvez tivessem estado juntos meia-dúzia de vezes. Nem esperou pela resposta. - Vem para o escritório. Temos a lareira acesa. Oh, estás mesmo encharcado. Tens um corte na cabeça? O que estás aqui a fazer? - Conduziu-o à otomana diante do lume e insistiu para que ele tirasse o casaco que deveria ter sido impermeável mas que tinha repassado e deixava escorrer para o chão verdadeiros rios de chuva. Deborah deixou-o cair junto à lareira e Peach foi investigar.
- Cherokee River? - perguntou Simon pensativo.
- O irmão da China - respondeu Deborah.
Simon olhou para o homem que começara a tiritar.
- Da Califórnia?
- Sim, a China. De Santa Barbara. Cherokee, que diabo... Olha, senta-te. Por favor, senta-te ao pé do lume. Simon, arranjas um cobertor... uma toalha?
- vou buscar.
- Depressa! - exclamou Deborah, pois depois de ter despido o casaco, Cherokee começara a tiritar como quem está à beira de uma convulsão. Tinha a pele tão branca que quase parecia azulada e os dentes tinham feito um corte no lábio que começava a escorrer sangue para o queixo. Tudo isto acrescentado a um ferimento na testa que Deborah examinou dizendo:
- Isto precisa de um penso. Que te aconteceu, Cherokee? Foste assaltado? - E logo a seguir: - Não, não digas nada. Deixa-me aquecer-te primeiro.
Dirigiu-se apressadamente ao velho carrinho das bebidas que ficava por baixo da janela que dava para Cheyne Row. Encheu um copo de brandy e meteu-o na mão de Cherokee.
Este levou-o à boca, mas as suas mãos tremiam tanto que o copo lhe bateu de tal forma nos dentes e a maior parte do brandy se espalhou pela parte da frente da T-shirt preta tão molhada como todo ele.
- Merda! Desculpa, Debs - disse, e por causa da sua voz, do seu estado, ou do facto de ter entornado a bebida, Peach pareceu ficar desconcertada, deixou de farejar o casaco de Cherokee e voltou a ladrar-lhe.
Deborah mandou calar a basset que só sossegou quando ela a expulsou da sala e mandou para a cozinha.
- Pensa que é um doberman - disse Deborah em tom irônico. - Não há tornozelos que estejam a salvo.
Cherokee soltou uma gargalhada. Depois um terrível tremor apoderou-se-lhe do corpo e o brandy deu a volta dentro do copo. Deborah sentou-se ao lado dele e passou-lhe o braço pelos ombros.
- Desculpa - disse ele. - Fiquei mesmo assustado.
- Por favor, nada de desculpas.
- Tenho andado por aí à chuva. Esbarrei no ramo de uma árvore ao pé do rio. Pensei que já não deitasse sangue.
- Bebe o brandy - disse Deborah, aliviada por saber que ele não se metera em nenhum problema no meio da rua. - Depois vou tratar desse corte.
- Está muito mal?
- É só um corte, mas precisa de ser tratado. Pronto! - Tinha no bolso um lenço de papel e utilizou-o para limpar o sangue. - Que grande surpresa. Que estás a fazer em Londres?
A porta do escritório abriu-se e Simon regressou. Trazia uma toalha e um cobertor. Deborah pegou neles, cobriu os ombros de Cherokee com o cobertor e limpou-lhe o cabelo com a toalha. Usava-o mais curto do que nos tempos em que Deborah vivera com a irmã dele em Santa Barbara. Mas era extremamente encaracolado, muito diferente do de China, tal e qual com o rosto que era sensual, de olhos pestanudos e boca carnuda, do gênero daquelas que as mulheres pagam aos cirurgiões para conseguirem ter. Herdara todos os genes desejáveis, dissera muitas vezes China River acerca do irmão, enquanto ela acabara por se parecer com uma asceta do século IV.
- Primeiro telefonei-te - Cherokee agarrou-se ao cobertor com toda a força. - Mais ou menos às nove horas. China deu-me a tua morada e o teu número de telefone. Pensei que não precisava deles, mas o avião atrasou-se por causa do mau tempo. E, quando por fim houve uma aberta na tempestade, já era demasiado tarde para ir à embaixada. Por isso telefonei, mas não estava ninguém.
- Embaixada? - Simon pegou no copo de Cherokee e encheu-o com mais brandy. - O que foi que aconteceu exactamente?
Cherokee recebeu o copo e agradeceu com um gesto de cabeça. Tinha as mãos mais firmes. Emborcou a bebida mas começou a tossir.
- Tens de despir essa roupa - disse Deborah. - Espero que um banho dê resultado. vou encher a banheira e, enquanto o tomas, metemos a tua roupa no secador. Está bem?
- Não... Não posso. É... raios, que horas são?
- Não te preocupes com as horas. Simon, não te importas de o levar para o quarto dos hóspedes e de o ajudar a despir-se? Nada de discussões, Cherokee. Não é incômodo nenhum.
Deborah subiu as escadas à frente deles. Enquanto o marido ia à procura de roupa seca para o jovem vestir depois do banho, abriu as torneiras da banheira. Arranjou as toalhas e, quando Cherokee entrou na casa de banho com um velho roupão de Simon e um pijama no braço, ela limpou-lhe o corte da cabeça. Ele estremeceu com o ardor do álcool quando Deborah lhe tocou na pele. Ela segurou-lhe mais firmemente na cabeça.
- Cerra os dentes - disse.
- Não dás as balas para morder?
- Só quando faço operações. Isto não é nada! - Deitou fora o algodão e pegou num penso rápido. - Cherokee, de onde vieste esta noite? De certeza que não foi de Los Angeles. Porque não tens... Tens bagagem?
- Guernsey - disse. - Vim de Guernsey. Saí de lá esta manhã. Pensei que trataria de tudo hoje para poder voltar esta noite, por isso não trouxe nada comigo do hotel. Mas acabei por passar grande parte do dia no aeroporto à espera que o tempo melhorasse.
Deborah concentrou-se numa única palavra.
- Tudo? - Colocou o penso sobre o corte.
- Como?
- Pensaste que tratarias de tudo hoje. De tudo o quê? Cherokee desviou o olhar. Foi apenas um momento, mas durou o
suficiente para que Deborah se afligisse. Dissera que a irmã lhe dera a morada de Cheyne Row e Deborah concluíra que ela o fizera antes de ele ter saído dos Estados Unidos, como um daqueles gestos que uma pessoa faz quando outra por acaso menciona uma viagem. Vais passar por Londres durante as tuas férias? Podias fazer uma visita para cumprimentar por mim uns amigos que lá tenho. Mas quando pensou no assunto, Deborah teve de admitir que aquele cenário era pouco provável pois não tivera qualquer contacto com a irmã de Cherokee nos últimos cinco anos. Aquilo fê-la pensar que, se o próprio Cherokee não estava em sarilhos, mas se viera a correr de Guernsey para Londres com a morada deles e o objectivo explícito de se dirigir à embaixada americana...
- Cherokee, aconteceu alguma coisa à China? - perguntou. - É por isso que aqui estás?
Ele voltou o rosto pálido para ela.
- Foi presa - disse.
- Não lhe perguntei mais nada! - Deborah encontrara o marido na cozinha da cave, onde Simon já se antecipara, como era seu costume, e pusera sopa ao lume. Já tinha também pão na torradeira e a velha mesa da cozinha, onde o pai de Deborah preparara centenas de milhares de refeições durante todos aqueles anos, estava posta para uma pessoa.
- Pensei que depois de ele tomar banho... Pareceu-me melhor que recuperasse um pouco. Isto é, antes que nos conte... se nos quiser contar...
- Ela franziu a testa, passou a unha do polegar pela borda da mesa, onde uma pua de madeira parecia estar metida na sua consciência. Tentou dizer a si própria que não tinha razões para se sentir assim, que as amizades vão e vêm na vida e que é sempre assim. Mas fora ela a deixar de responder às cartas do outro lado do Atlântico. Porque China River fizera parte da vida de Deborah, uma parte que Deborah queria muito esquecer.
Simon, que junto ao fogão mexia uma sopa de tomate com uma colher de pau, lançou-lhe um olhar. Pareceu aperceber-se da preocupação que havia na relutância da mulher em falar.
- Pode ser uma coisa relativamente simples.
- Como diabos pode ser uma prisão relativamente simples?
- Não é o fim do mundo. Isto é, pode ser um acidente de trânsito. Um mal-entendido numa loja que possa ser tomado por roubo. Qualquer coisa assim.
- Ele não pode ter pensado em ir à embaixada americana por causa de um simples roubo numa loja. E de qualquer modo ela não é capaz de uma coisa dessas.
- Até que ponto é que realmente a conheces?
- Conheço-a bem - respondeu Deborah. Sentia a necessidade de o repetir continuamente. - Conheço perfeitamente China Rivers.
- E Cherokee, o irmão? Mas que nome tão estranho, não achas?
- Foi o que lhe deram quando nasceu.
- Os pais vêm do tempo do Sargent Peppper?
- A mãe era uma radical... uma espécie de hippie... Não, espera, era mais uma ambientalista. Isso. Foi antes de eu a conhecer. Subia às árvores.
Simon lançou-lhe um olhar estranho.
- Para impedir que as cortassem - disse Deborah com simplicidade.
- E o pai do Cherokee... têm pais diferentes... era também um ambientalista. Ele... - reflectiu, tentando recordar-se. - Penso que se deve ter deitado nos carris do comboio... talvez no deserto.
- Provavelmente para os proteger? Só Deus sabe como estão em vias de extinção.
Deborah sorriu. A torrada saltou e Peach ergueu-se do seu cesto na esperança de que caísse algum bocado, enquanto Deborah a preparava.
- Não conheço o Cherokee tão bem como conheço a China. Passei as férias com a família dela quando estava em Santa Barbara e foi assim que o conheci. Nos jantares do Natal, do Ano Novo, nos feriados, íamos de carro até... Onde morava a mãe dela? Era uma terra com o nome de
uma cor... - De uma cor?
- Vermelho, verde, amarelo. Ah! Cor de laranja. Vivia num sítio chamado Orange. Fazia tofu de peru para comermos nos feriados. com feijão preto, arroz integral e tarte de algas. Coisas horríveis. Tentávamos comê-las e depois arranjávamos uma desculpa para ir dar uma volta de carro e encontrar um restaurante aberto. Cherokee conhecia uns sítios i sempre muito duvidosos, mas baratos, onde podíamos ir comer. - É louvável.
- Era nessas alturas que eu o via. Estivemos juntos talvez dez vezes, Uma ocasião foi a Santa Barbara e passou umas noites no nosso sofá. Nessa altura ele e China tinham uma relação do tipo amor-ódio. Ele é mais velho mas nunca agiu desse modo, o que a irritava e por isso tinha a tendência de se comportar como uma mãe-galinha com ele, coisa que o exasperava. Quanto à mãe deles... bom, não se pode dizer que fosse realmente uma mãe, entendes?
- Estava demasiado preocupada com as árvores?
- E com outras coisas. Estava presente e não estava. Por isso era mais um... bom, um laço entre a China e eu. Isto é, para além da fotografia, entre outras coisas. Estou a falar dessa história da maternidade.
Simon apagou o bico por baixo da sopa e encostou-se calmamente ao fogão, observando a mulher. - Foram anos difíceis - disse ele em voz baixa.
- Sim... bom... - Deborah pestanejou e ofereceu-lhe um sorriso. Afinal todos passámos por eles, não é verdade?
- É - reconheceu Simon.
Peach ergueu o focinho, farejando o chão, com a cabeça inclinada e as orelhas espetadas. No parapeito da janela, sobre o lava-loiças, Alaska, o enorme gato cinzento - que observara com ar indolente o caminho das gotas de chuva nos vidros da janela -, ergueu-se, num lânguido alongamento felino, com os olhos fixos nos degraus da cave que desciam ao lado do antigo guarda-loiça onde passava freqüentemente os dias. Instantes depois, a porta lá em cima abriu-se e a cadela ladrou. Alaska saltou do parapeito da janela e desapareceu para ir dormitar para a despensa.
- Debs? - chamou Cherokee.
- Estou aqui em baixo - respondeu Deborah. - Fizemos-te sopa e uma tosta.
Cherokee foi ter com eles. Parecia muito melhor. Era um ou dois centímetros mais baixo do que Simon e mais atlético, mas o pijama e o roupão ficavam-lhe bem e as tremuras tinham desaparecido. Todavia estava descalço.
- Devia ter-me lembrado dos chinelos - disse Deborah.
- Estou bem assim - replicou Cherokee. - Vocês foram fantásticos. Obrigado aos dois. Devem ter apanhado um susto quando me viram aparecer assim. Estou muito grato por me terem recebido. - Fez um aceno a Simon que levava para a mesa a caçarola da sopa e a despejava para uma tigela.
- Tenho de te dizer que foi um dia muito complicado - comentou Deborah. - O Simon até abriu um pacote de sopa. Geralmente só abre as latas.
- Muito obrigado - replicou Simon.
Cherokee sorriu, mas parecia exausto. Como se aproveitasse os últimos vestígios de energia no fim de um dia terrível.
- Come a sopa - disse Deborah. - A propósito, ficas aqui esta noite.
- Não. Não posso pedir-te...
- Não sejas parvo. A tua roupa está no secador e, daqui a pouco, está pronta, mas de certeza que não esperas poder voltar para a rua para encontrares um hotel a esta hora da noite.
- A Deborah tem razão - concordou Simon. - Temos muito espaço. Pode ficar à vontade.
O rosto de Cherokee reflectiu alívio e gratidão, apesar do extremo cansaço.
- Obrigado. Sinto-me... - abanou a cabeça. - Sinto-me como um miúdo. Sabem como eles ficam? Como quando estão numa mercearia e só sabem que estão perdidos quando levantam os olhos daquilo que estão a fazer... a ler um livro de banda desenhada ou qualquer coisa do gênero... e não vêem a mãe e ficam aflitos. É assim que me sinto. Que me sentia.
- Agora estás em segurança - garantiu Deborah.
- Quando telefonei, não quis deixar uma mensagem no teu atendedor de chamadas - disse Cherokee. - Teria sido uma enorme chatice. Por isso resolvi tentar encontrar a casa. Fiquei totalmente baralhado na linha amarela do metro e acabei em Tower Hill antes de me aperceber de que me tinha enganado.
- Que horror - murmurou Deborah.
- Que azar - disse Simon.
Entre eles fez-se um silêncio apenas quebrado pelo ruído da chuva que batia nas lajes do lado de fora da porta da cozinha e que deslizava em intermináveis ribeiros pelo vidro da janela. Eram três pessoas - e um cão ansioso - à meia-noite, naquela cozinha. Mas não estavam sós. Acompanhava-os aquela pergunta que se acocorara entre eles como uma coisa palpável, respirando ruidosamente sem poder ser ignorada. Nem Deborah nem o marido a queriam fazer. Mas, afinal, não foi necessário que nenhum deles a fizesse.
Cherokee mergulhou a colher na tigela e levou-a à boca. Mas logo a seguir baixou-a sem provar a sopa. Ficou a olhar para a tigela durante uns instantes, erguer a cabeça e olhar primeiro para Deborah e depois para o marido dela.
- Eis o que aconteceu - disse.
Disse-lhes que fora o responsável por tudo. Se não tivesse sido por ele, China nunca teria ido a Guernsey. Mas ele precisava do dinheiro e quando lhe aparecera aquele trabalho para levar uma encomenda da Califórnia para o canal da Mancha, sendo pago para o fazer e ainda com os bilhetes de avião... bom, parecera-lhe demasiado bom para ser verdade.
Pedira a China para ir, porque os bilhetes eram dois e o contrato era para que um homem e uma mulher entregassem os dois juntos a encomenda. Então ele pensara: E porque não? Porque não pedir a China? Ela nunca ia a lado nenhum. Nunca saíra da Califórnia.
Fora difícil convencê-la. Levara alguns dias, mas ela acabara de se separar de Matt - Debs lembrava-se do namorado de China? O realizador que estava com ela havia uma eternidade? - E ela decidira que precisava de descansar. Por isso telefonara-lhe a dizer que queria ir e para ele tratar de tudo. Levaram a encomenda desde Tustin, a sul de Los Angeles, onde a foram buscar, até um local em Guernsey nos arredores de St. Peter Port.
- O que estava na encomenda? - Deborah imaginava uma detenção no aeroporto por tráfico de droga, com cães a farejar China e Cherokee encostados à parede como raposas em busca de abrigo.
Nada de ilegal, respondeu Cherokee. Fora contratado para levar plantas de um arquitecto de Tustin para uma ilha do canal e o advogado que o contratara...
- Um advogado? - inquiriu Simon. - Não era um arquitecto?
Não. Cherokee fora contratado por um advogado, o que parecera suspeito a China, ainda mais suspeito do que serem pagos para levarem uma encomenda para a Europa, bem como por terem os bilhetes de avião de graça. Então China insistiu para que abrissem a encomenda antes de concordarem em ir e tinham feito exactamente isso.
Era um tubo de tamanho considerável e, se China temera que estivesse cheio de drogas, armas, explosivos, ou qualquer outro tipo de contrabando que fizesse com que ambos fossem algemados, os seus receios apaziguaram-se quando o abriram. Lá dentro encontravam-se exactamente as plantas e ela ficara descansada. E ele também, admitiu Cherokee. Porque os receios de China tinham-no inquietado.
Assim partiram para Guernsey para entregar as plantas, tencionando seguir daí para Paris e depois para Roma. Não seria uma viagem longa: nenhum deles tinha dinheiro para isso, portanto passariam dois dias em cada lugar. Mas inesperadamente, em Guemsey, os seus planos tinham-se alterado. Tinham pensado que fariam uma rápida transacção no aeroporto: os papéis para receberem o dinheiro prometido e...
- De que quantia estamos a falar? - perguntou Simon.
Cinco mil dólares, disse-lhes Cherokee. Ao ver as suas expressões de incredulidade, apressou-se a dizer que sim, que era espantoso e que o elevado pagamento fora a razão principal para China insistir em abrir a encomenda, pois quem raio lhes ofereceria dois bilhetes para a Europa e cinco mil dólares, só para transportar uma coisa de Los Angeles até lá? Mas afinal essa história do transporte tratava-se da excentricidade de um milionário, que queria as plantas e que era mais rico do que Howard Hughes. Evidentemente que estava sempre a fazer excentricidades com o seu dinheiro.
Contudo, não foram recebidos no aeroporto por uma pessoa com um cheque, uma mala cheia de dinheiro ou qualquer outra coisa que remotamente se parecesse com o que esperavam. Pelo contrário. Esperava-os um homem quase mudo chamado Kevin qualquer coisa que se apressou a metê-los numa carrinha e os conduziu a uma bela propriedade a uns quilômetros de distância.
China ficou desconfiada com o rumo dos acontecimentos que, tinha de admitir, fora desconcertante. Ali estavam eles, fechados no carro, com um desconhecido que não pronunciara uma dezena de palavras. Era muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, era uma aventura e, Cherokee tinha de confessar que se sentia intrigado.
O destino acabara por ser uma casa senhorial situada numa enormíssima propriedade. O local era antigo - e estava perfeitamente restaurado, Debs - e China começou a pensar nas fotografias assim que pôs os olhos nela. Estava ali toda a Architectural Digest à espera de ser fotografada.
Nesse momento ela decidira que queria tirar as fotografias. Não só da casa, mas também de toda a propriedade que tudo continha, desde lagos de patos a coisas pré-históricas. China sabia que tinha diante de si uma oportunidade que talvez nunca mais surgisse e, mesmo que aquilo significasse trabalhar sem contrato, estava decidida a investir tempo, dinheiro e esforço, pois o sítio era sensacional.
Cherokee estava de acordo. Ela pensava que lhe bastariam apenas alguns dias e ele teria tempo para explorar a ilha. A única questão era se o dono concordaria com a idéia. Havia quem não gostasse que as suas propriedades aparecessem nas revistas, pois dava idéias a certo tipo de pessoas.
Afinal, o anfitrião, um homem chamado Guy Brouard, ficara encantado com a idéia. Insistiu para que Cherokee e China lá passassem a noite, ou talvez uns dias, ou o que fosse preciso para tirarem as fotografias. Disse-nos que ele e a irmã viviam sozinhos e que os visitantes eram sempre uma distracção para eles.
O filho dele também lá estava e, a princípio, Cherokee pensou que Guy Brouard pudesse ter esperanças que China e ele se pudessem entender. Mas quase nunca viam o fulano que só aparecia à hora das refeições e pouco mais. Contudo a irmã era simpática e Brouard também. Por isso, Cherokee e China sentiam-se perfeitamente.
Por seu lado, China deu-se muito bem com Guy. Partilhavam um interesse comum pela arquitectura: ela, porque fotografar edifícios era o seu trabalho, ele porque tinha o projecto de erguer um edifício na ilha. Guy chegou mesmo a levá-la ao local e mostrou-lhe outras estruturas que eram historicamente importantes. Segundo lhe disse, China tinha de fotografar toda a ilha de Guernsey. Deveria fazer um livro completo com as fotografias e não tirar apenas as suficientes para o artigo de uma revista. Isto porque um local tão pequeno estava impregnado de história e, desde a sua origem, todas as sociedades que a tinham habitado tinham deixado vestígios sob a forma de edifícios.
Havia muito tempo que estava marcada uma festa para a quarta e última noite que passariam com os Brouards. Era uma gala com smoking e vestidos de noite, com um enorme número de convidados. Nem China nem Cherokee sabiam de que se tratava antes da meia-noite, quando Guy Brouard reuniu toda a gente em seu redor e anunciou que a escolha final para a construção do seu edifício - um museu - tinha finalmente sido feita. Houve rufar de tambores, emoção, saltaram rolhas de champanhe e fogos-de-artifício, quando ele tornou público o nome do arquitecto cujos planos China e Cherokee tinham trazido da Califórnia. Depois surgiu num cavalete uma aguarela do local e os foliões soltaram várias exclamações de espanto e continuaram a beber o champanhe dos Brouards até cerca das três da manhã.
No dia seguinte, nem Cherokee, nem a irmã se surpreenderam quando ninguém se levantou. Às oito e meia dirigiram-se à cozinha e procuraram os cereais, o café e o leite. Concluíram que não haveria problema em fazerem eles próprios o pequeno-almoço, enquanto os Brouards curtiam a bebedeira da noite anterior. Comeram, telefonaram para mandar chamar um táxi e partiram para o aeroporto. Não viram vivalma na propriedade.
Partiram para Paris e passaram dois dias a ver aquilo que até aí apenas conheciam de fotografias. A seguir foram para Roma fazer o mesmo, mas quando passaram pela alfândega do aeroporto Da Vinci, a Interpol detivera-os.
A polícia devolvera-os a Guernsey. Disseram-lhes que tinham de os enviar para lá para serem interrogados. Quando perguntaram sobre o quê, responderam-lhes que "um grave incidente exigia a sua presença imediata na ilha".
Afinal a sua presença era exigida na esquadra da polícia de St. Peter Port. Foram detidos em celas separadas: Cherokee durante vinte e quatro horas muito desagradáveis e China durante três dias de pesadelo que terminaram na presença de um magistrado e numa posterior prisão preventiva, onde agora se encontrava.
Deborah estendeu o braço por cima da mesa e pegou na mão do rapaz.
- Acusada de quê, Cherokee?
- De assassínio - replicou com voz rouca. - É uma perfeita loucura. Acusam China de ter morto Guy Brouard.
Capítulo 2
DEBORAH AFASTOU OS COBERTORES DA CAMA E AFOFOU AS ALMOFADAS. Apercebeu-se de que raramente se sentira tão inútil. China estava sentada numa cela de prisão em Guernsey e ela andava ali pelo quarto de hóspedes, fechando as cortinas e afofando as almofadas - por amor de Deus - só porque não sabia que mais havia de fazer. Hesitava entre o desejo de apanhar o avião seguinte para as Ilhas do Canal, a vontade de mergulhar no coração de Cherokee para lhe acalmar a ansiedade e o empenho em delinear planos, dar instruções e levar a cabo uma acção imediata que desse a conhecer a ambos os River o facto de não estarem sozinhos no mundo. Por outro lado desejava que outra pessoa o fizesse porque não se sentia à altura de nada daquilo. Assim, afofava inutilmente as almofadas e abria a cama.
Depois, porque queria dizer qualquer coisa ao irmão de China, voltou-se para ele que estava encostado à cômoda sem saber o que fazer.
- Se precisares de alguma coisa esta noite, estamos lá em baixo. Cherokee acenou afirmativamente. Parecia triste e muito só.
- Não foi ela - disse. - Estás a ver a China a fazer mal a uma mosca?
- De modo algum.
- Estamos a falar de uma pessoa que costumava chamar-me para ir tirar as aranhas do quarto dela quando éramos miúdos. Punha-se em pé em cima da cama porque via uma na parede, eu entrava para a matar e nessa altura ela começava a gritar: "Não lhe faças mal! Não lhe faças mal!"
- Também era assim comigo.
- Meu Deus, se ao menos eu não lhe tivesse pedido que viesse. Tenho de fazer qualquer coisa e não sei o quê.
Os seus dedos enrolavam o cinto do roupão de Simon. Deborah recordou-se de que China sempre parecera a mais velha dos dois irmãos. Cherokee, o que vou fazer contigo, perguntava-lhe. Quando irás crescer?
Agora, pensou Deborah. com as circunstâncias a exigirem uma reacção adulta que não tinha a certeza que Cherokee conseguisse.
- Vai dormir - disse-lhe ela, porque era a única coisa que lhe poderia dizer. - Amanhã de manhã veremos o que há a fazer. - E deixou-o.
Sentia o coração pesado. China River tinha sido a sua melhor amiga durante os momentos mais difíceis da sua vida. Devia-lhe muito e pouco lhe tinha retribuído. Agora China estava em apuros e sozinha... Deborah compreendia perfeitamente a ansiedade de Cherokee a respeito da irmã.
Encontrou Simon no quarto de ambos, sentado na cadeira de espaldar direito que usava à noite para retirar o aparelho da perna. Descolava as tiras de velcro do meio, com as calças em redor dos tornozelos e as muletas junto à cadeira.
Como de costume, parecia infantil naquela postura vulnerável e Deborah sempre precisara utilizar de toda a sua autodisciplina para não correr em ajuda do marido quando o encontrava naquela posição. Para ela a sua incapacidade era a grande força niveladora entre eles. Ela detestava-a pelo que era, porque sabia que ele também a detestava, mas havia muito que aceitara o facto de que o acidente que o incapacitara com vinte e poucos anos também o tinha tomado acessível a ela. Se não tivesse ocorrido, ele ter-se-ia casado enquanto ela era uma simples adolescente, deixando-a para trás. O tempo que passara no hospital, depois a convalescença e os anos negros de depressão que se seguiram, tinham alterado a ordem natural das coisas.
Contudo, Simon não gostava de ser visto naquela posição difícil. Por isso Deborah dirigiu-se imediatamente para a cômoda, onde fingiu retirar a bijutaria que usava, enquanto esperava pelo ruído metálico do aparelho a bater no chão. Voltou-se depois de o ter ouvido, seguido do gemido habitual do marido quando se levantava. Tinha as canadianas presas nos pulsos, e olhava-a com uma expressão terna.
- Obrigado - disse.
- Desculpa. Fui sempre assim tão óbvia?
- Não. Foste sempre muito bondosa. Mas penso que nunca te agradeci como devia. É o que acontece a um casamento que é bom de mais: toma-se a amada como certa.
- Tomas-me então como certa?
- Intencionalmente, não. - Inclinou a cabeça para o lado e observou-a. - Francamente, não me dás oportunidade. - Atravessou o quarto para ir ter com ela e rodeou-lhe a cintura com os braços. Beijou-a suavemente e depois longamente, puxando-a para si, até ela sentir um desejo que os inquietava a ambos.
Deborah ergueu os olhos para ele.
- Estou muito feliz porque ainda me podes fazer sentir isto. Mas estou mais feliz ainda por to conseguir fazer sentir.
Ele tocou-lhe na face.
- Hum. Sim. Porém, bem vistas as coisas, provavelmente não será altura...
- Para quê?
- Para explorar algumas variações interessantes daquilo de que estavas a falar.
- Ah, isso - Deborah sorriu. - Pois bem, Simon, talvez seja altura. Talvez que aquilo que aprendemos todos os dias seja a rapidez com que a vida muda. Tudo o que é importante pode desaparecer num instante. Portanto é altura.
- Para explorar...
- Só se explorarmos juntos.
E foi isso que fizeram, à luz de um único candeeiro que dava uma cor dourada aos seus corpos, escurecia os olhos azul-acinzentados de Simon e pintava de carmesim os locais escondidos dos corpos pálidos de ambos, onde agora o sangue batia quente. Depois, deixaram-se ficar deitados sobre a colcha enrodilhada, que não se tinham incomodado em retirar da cama. As roupas de Deborah estavam espalhadas por onde o marido as atirara e a camisa de Simon pendia-lhe ainda de um dos braços como um ar indolente.
- Ainda bem que não foste para a cama - disse ela, encostada ao peito dele. - Pensei que poderias ter ido. Não me pareceu certo depositá-lo simplesmente no quarto dos hóspedes sem o acompanhar por uns momentos. Mas estavas com um ar tão cansado na cozinha que pensei que tinhas decidido ir dormir. Mas estou muito satisfeita por não teres ido. Obrigada, Simon.
Ele acariciou-lhe o cabelo forte como era seu hábito, até os seus dedos lhe tocarem no couro cabeludo. Massajou-lho carinhosamente e o corpo dela reagiu, descontraindo-se.
- Ele está bem? Há alguém a quem possamos telefonar, pelo sim, pelo não?
- Pelo sim, pelo não, como?
- Para o caso de ele amanhã não conseguir o que quer da embaixada. Suponho que já devem ter estado em contacto com a polícia de Guernsey. Se não mandaram lá ninguém... - Deborah sentiu que o marido encolhia os ombros. - Provavelmente não tencionam fazer nada.
Deborah endireitou-se.
- Não estás a pensar que a China cometeu esse crime, pois não?
- De modo algum. - Voltou a tomá-la nos braços. - Estou só a afirmar que ela está nas mãos de uma força policial estrangeira. Haverá protocolos e procedimentos a seguir e talvez a embaixada não se queira envolver para além disso. O Cherokee tem de se preparar para isso. Precisa também de ter alguém em quem se apoiar se for esse o caso. De facto, pode ter sido por isso mesmo que veio até cá.
Simon dissera-o em voz mais baixa do que o resto. Deborah levantou a cabeça para olhar de novo para ele.
- O que foi?
- Nada.
- Há mais alguma coisa, Simon. Percebe-se pelo teu tom de voz.
- Só isto. És a única pessoa que ele conhece em Londres?
- Provavelmente.
- Estou a ver.
- A ver? "'
- Pode bem ser que ele precise de ti, Deborah.
- E incomoda-te se precisar?
- Não me incomoda, não. Mas não há outros membros na família?
- Só a mãe.
- A mulher que toma conta das árvores. Sim. bom. Será melhor telefonar-lhe. E o pai? Disseste que o pai de China não era o mesmo que o de Cherokee."
Deborah estremeceu.
- O pai dela está numa prisão, amor. Ou pelo menos estava quando vivíamos juntas. - Quando viu no rosto de Simon uma expressão que parecia querer dizer "tal pai, tal filha", continuou. - Não foi nada grave, Isto é, não matou ninguém. China nunca falava muito dele, mas era qualquer coisa que tinha a ver com droga. Um laboratório ilegal, algures? Acho que era isso. No entanto não era como se passasse heroína
na rua.
- bom, já é alguma coisa.
- Ela não é como ele, Simon.
Ele emitiu um resmungo, que ela tomou por uma concordância hesitante. Deixaram-se ficar em silêncio, satisfeitos um com o outro, ela de novo com a cabeça sobre o peito de Simon que voltara a massajar-lhe a cabeça.
Em momentos como aquele, Deborah amava o marido de um modo diferente. Sentia-o mais como seu igual. A sensação vinha-lhe não só da conversa calma, mas também - o que era talvez mais importante para ela - daquilo que precedera aquela conversa. Do facto de o seu corpo lhe poder dar um prazer tal que parecia equilibrar sempre a balança entre eles e de ela poder ser testemunha desse prazer o que lhe permitia até sentir-se momentaneamente superior ao marido. Devido a isto, o seu próprio prazer fora durante muito tempo secundário, facto que Deborah sabia que as mulheres emancipadas do seu mundo considerariam horrível. Mas era assim mesmo.
- Reagi mal esta noite - murmurou por fim. - Desculpa, meu amor. Meti-te nisto.
Simon não teve dificuldades em lhe seguir a linha de pensamento.
- As expectativas destroem a nossa paz de espírito, não é verdade? São futuras desilusões planeadas antecipadamente.
- Tinha de facto tudo planeado antecipadamente. Dezenas de pessoas com copos de champanhe nas mãos, de pé, extasiadas, diante das minhas fotografias. "Meu Deus, ela é um gênio", comentariam. "Só a idéia de usar uma Polaroid... Sabias que podiam ser a preto e branco? E as dimensões... Céus. Tenho de ficar com uma imediatamente. Não. Espera. Pelo menos tenho de ficar com dez."
- "O nosso apartamento novo em Canary Wharf precisa delas" acrescentou Simon.
- "Para não falar na nossa casinha de campo em Cotswolds."
- "E na casa de praia perto de Bath."
Riram ambos. Depois ficaram em silêncio. Deborah mudou de posição para poder olhar para o marido.
- Ainda me dói - admitiu. - Já não é tanto. Nem pouco mais ou menos. Só um pouco. A dor ainda cá está.
- Sim - disse ele. - Não há uma panaceia rápida para este tipo de frustração. Queremos aquilo que queremos, e quando não o conseguimos, não significa que tivéssemos deixado de o querer. Sei muito bem. Acredita que sim. Que sei.
Ela desviou rapidamente o olhar, apercebendo-se de que aquilo de que ele falava incluía uma distância muito maior do que a abrangida pela breve viagem da sua desilusão daquela noite. Sentia-se grata pela compreensão dele, por ele sempre a ter compreendido por mais supremamente racionais, lógicos, calmos e incisivos que fossem os comentários dele sobre a sua vida. Tinha os olhos marejados de lágrimas mas não permitiria que ele as visse. Queria oferecer-lhe o presente momentâneo da sua tranqüila aceitação da iniqüidade. Quando conseguiu substituir o desgosto com aquilo que tinha esperança que parecesse determinação, voltou-se para ele. - vou arranjar um rumo para mim própria - disse. - Posso mesmo partir numa direcção totalmente diferente.
Ele observou-a do seu modo habitual, com o seu olhar fixo que geralmente enervava os advogados quando testemunhava em tribunal e obrigava os estudantes universitários a balbuciar desesperadamente. Mas para ela o olhar era suavizado pelos lábios que se curvavam num sorriso e pelas mãos que, de novo, se estendiam para ela.
- Que maravilha - disse ele, puxando-a para si. - Gostaria de fazer já algumas sugestões.
Deborah levantou-se antes de o Sol nascer. Passara várias horas acordada antes de adormecer e, quando finalmente o conseguira, agitara-se por entre uma série de sonhos incompreensíveis. Neles voltara a Santa Barbara, não como jovem estudante do Brooks Institute of Photography, mas como uma pessoa inteiramente diferente: uma espécie de motorista de ambulâncias, cuja responsabilidade parecia ser ir buscar um coração humano, recentemente colhido para um transplante a um hospital que não sabia onde ficava. Sem essa entrega, o doente, que por qualquer razão se encontrava não numa sala de operações, mas na zona das reparações da bomba de gasolina, atrás da qual ela e China haviam vivido, morreria dentro de uma hora, pois já lhe tinham retirado o coração, deixando-lhe um enorme buraco aberto no peito. Ou podia ser o coração dela em vez do dele. Deborah não o podia dizer a partir da forma parcialmente coberta que se erguia no elevador hidráulico da área das reparações.
No seu sonho, conduzia desesperadamente pelas ruas ladeadas de palmeiras, sem qualquer proveito. Não se recordava de nada acerca de Santa Bárbara e ninguém a ajudava dando-lhe indicações. Quando acordou descobriu que tinha afastado as cobertas e estava tão molhada de transpiração que tiritava. Olhou para o relógio e saiu da cama para se dirigir à casa de banho onde lavou o pior do pesadelo. Quando regressou ao quarto, encontrou Simon já acordado e ouviu-o pronunciar no escuro o nome dela.
- Que horas são? Que estás a fazer? - perguntou também.
- Tive um sonho terrível - respondeu ela.
- Havia coleccionadores de arte a acenarem-te com os livros de cheques?
- Infelizmente, não. Os coleccionadores de arte acenavam-me com as suas Annie Leibovitzes.
- Ah, bom, podia ter sido pior.
- Ah, sim? E como?
- Podiam ter sido as Karsch1.
Ela riu-se e disse-lhe que voltasse a dormir. Ainda era cedo, cedo de mais para que o pai já estivesse levantado, e ela de certeza não subiria as escadas com o chá da manhã de Simon, como o pai fazia.
- A propósito, o meu pai estraga-te com mimos - informou o marido.
- Considero o facto um pequeno pagamento por tê-lo livrado da tua pessoa.
Deborah ouviu o ruído das roupas da cama quando ele mudou de posição. Simon suspirou profundamente, satisfeito por poder voltar ao sono. Ela saiu.
Lá em baixo, fez uma chávena de café para si, na cozinha, onde Peach olhou para ela, do seu cesto, junto ao fogão e Alaska saiu da despensa, onde pelo seu ar polvilhado de branco, passara sem dúvida a noite debaixo de um saco roto de farinha. Os dois animais vieram ter com Deborah, pisando os ladrilhos vermelhos. Esta estava encostada ao escorredor da loiça, por baixo da janela da cave enquanto a água fervia na cafeteira eléctrica. Escutava a chuva a cair nas lajes junto à porta das traseiras. Houvera apenas um breve abrandamento um pouco depois das três e ela ficara deitada a ouvir não só o vento e as ondas de chuva que batiam nas janelas, mas também o comitê que na sua cabeça a aconselhava ruidosamente daquilo que havia de fazer: com o seu dia, com a sua vida, com a sua carreira e, sobretudo, com Cherokee River.
1 Joshua Karsh: fotógrafo armênio nascido em 1908 e estabelecido no Canadá. Produziu fotografias de grandes figuras do século xx como Churchill, Picasso, Bill Clinton e Nelson Mandela entre outros. [N. da T.]
Observou Peach, enquanto Alaska passeava para trás e para diante por entre as suas pernas. A cadela odiava sair à chuva - os passeios tinham de ser ao colo, quando havia a mínima suspeita de precipitação, por isso ir lá fora estava fora de questão. Mas uma corrida rápida ao quintal, nas traseiras, para fazer as necessidades era perfeitamente necessária. Porém Peach pareceu ler as idéias de Deborah. A basset voltou a correr para o seu cesto e Alaska começou a miar.
- Não penses que vais ficar aí deitada - disse Deborah à cadela, que a olhava tristemente, com olhos em forma de diamante, coisa que conseguia sempre que queria fazer uma expressão especialmente patética.
- Se não saíres imediatamente comigo, o meu pai obriga-te a fazeres uma marcha até ao rio. Sabes, não sabes?
Peach parecia disposta a arriscar. Baixou deliberadamente a cabeça e colocou-a entre as patas, fechando os olhos.
- Muito bem - disse Deborah e despejou a ração do gato, colocando cuidadosamente o recipiente fora do alcance da cadela que, conforme sabia, se apropriaria dela no momento em que a dona voltasse as costas, fingindo, mesmo assim, estar a dormir. Fez o chá e levou-o para cima tacteando o caminho no escuro.
O escritório estava gelado. Fechou a porta e ligou o aquecedor a gás. Numa pasta que guardava na estante, reunia um conjunto de pequenas polaroids que representavam aquilo que desejava fotografar a seguir. Levou-a para a secretária, sentou-se na velha cadeira de couro de Simon e começou a passar as fotografias.
Pensou em Dorothea Lange1 e perguntou a si própria se ela, tal como a famosa fotógrafa, teria a capacidade de escolher um único rosto que fosse o rosto certo para representar a imagem inesquecível que definisse uma época. Contudo Deborah não tinha a América árida dos anos 30, cujo desespero era marcante no semblante do país. E sabia que, para conseguir captar a imagem da sua época era necessário que a sua imaginação se projectasse para além do ícone que fora, havia muito, definido pelo rosto árido de uma mulher acompanhada pelos filhos e por uma geração de desespero. Sentia-se capaz de fazer a primeira parte do trabalho: a concepção. Mas perguntava a si própria se o resto seria aquilo que desejava: passar mais doze meses na rua, tirar mais dez mil ou doze mil fotografias, sempre tentando ver para lá de um mundo dominado pela velocidade
1 Fotógrafa americana do tempo da Grande Depressão. [N. da T. ]
e pelo telemóvel que distorcia a verdade do que realmente se passava. E mesmo que o conseguisse, o que ganharia com isso, afinal? Naquele momento não sabia.
Suspirou e poisou as fotografias sobre a secretária. Perguntou a si própria, e já não era a primeira vez, se China teria escolhido o caminho mais sensato. As fotografias comerciais pagavam a renda, a comida e a roupa. Não eram necessariamente um trabalho sem alma. E, apesar de Deborah se encontrar na afortunada posição de não ter de pagar renda, comprar comida ou vestir fosse quem fosse, só esse facto a fazia desejar poder contribuir algures. Se não precisava de se preocupar com a sua situação econômica, podia pelo menos usar o seu talento contribuindo para a sociedade em que viviam.
Mas poderia fazê-lo se enveredasse pela fotografia comercial? E que tipo de trabalhos executaria? Pelo menos as fotografias de China reflectiam o seu interesse pela arquitectura. Dispusera-se a ser fotógrafa de edifícios e, nessas condições, fazer disso uma profissão não era de modo algum vender-se conforme o seria para Deborah se enveredasse pelo ramo comercial. E se o fizesse, o que poderia fotografar? Festas de aniversários de crianças pequenas? Estrelas rock a serem libertadas da cadeia?
Cadeia... meu Deus, gemeu Deborah. Poisou a testa nas mãos e fechou os olhos. Que importância teria tudo aquilo comparado com a situação de China? China que estivera com ela em Santa Barbara e fora uma presença amiga quando ela mais precisara. Vi-vos juntos, Debs. Se lhe disseres a verdade ele apanha o próximo avião e volta. Casa contigo. Já o deseja. Mas assim, não, dissera-lhe Deborah. Assim não o posso aceitar.
Por isso China tomara as previdências necessárias. Levara-a à clínica adequada. Depois sentara-se junto à cama dela para que, quando Deborah abrisse os olhos fosse a primeira pessoa que visse, à sua espera. Depois dissera-lhe "Olá, menina" com uma expressão tão bondosa que Deborah pensara que, no decorrer da sua vida, nunca teria outra amiga assim.
Aquela amizade era uma chamada de atenção que lhe dizia que devia agir. Não podia permitir que China pensasse, mais do que era possível, que estava sozinha. Mas a questão era o que fazer porque...
O soalho rangeu algures no corredor, junto à porta do escritório. Deborah ergue a cabeça. Outra tábua rangeu. Ela levantou-se, atravessou a sala e abriu a porta.
À luz difusa que vinha do candeeiro ainda aceso na rua, Cherokee River retirava o casaco de cima do radiador, onde Deborah o tinha posto a secar na noite anterior. A sua intenção parecia evidente.
- Não estás a pensar ir-te embora - disse Deborah, incrédula. Cherokee deu meia volta.
- Jesus. Pregaste-me um susto de morte. De onde apareceste? Deborah apontou para a porta do escritório, onde, por trás dela,
o candeeiro iluminava a secretária de Simon e o aquecedor a gás lançava um brilho tremeluzente e suave no tecto alto.
- Levantei-me cedo. Estava a escolher umas fotografias antigas. Mas o que estás a fazer? Onde vais?
Ele passou o peso de um pé para o outro, penteou o cabelo com os dedos num gesto muito seu. Apontou para as escadas e para os andares superiores.
- Não conseguia dormir. Juro que nunca mais vou conseguir... em parte nenhuma... enquanto não mandar alguém a Guernsey. Por isso imaginei que a embaixada...
- Que horas são? - Deborah olhou para o pulso e descobriu que não tinha posto o relógio. Não olhara para o do escritório, mas da luz que vinha da rua - mesmo exacerbada pela chuva insuportável - sabia que não podia passar muito das seis. - A embaixada só abre daqui a horas.
- Pensei que pudesse haver uma fila, ou qualquer coisa do gênero. Quero ser o primeiro.
- E podes ser da mesma maneira, mesmo se beberes uma chávena de chá. Ou de café, se preferires, e se comeres qualquer coisa.
- Não. Já fizeste que baste. Não me deixaste cá ficar esta noite? Não me recebeste? Não me deixaste tomar banho e não me deste de comer? Não me acudiste?
- Ainda bem. Mas não te quero ouvir dizer que te vais embora. Nem penses. Eu própria te levo lá e continuas a poder ser o primeiro da fila, se é isso que queres.
- Não quero que tu...
- Não tens de querer nada - disse firmemente Deborah. - Não é uma oferta. Insisto. Deixa o casaco aí e vem comigo.
Cherokee pareceu reflectir por momentos: olhou para a porta que deixava passar a luz através dos seus três painéis de vidro. Ouviam ambos a chuva cair insistente, como se quisesse acentuar o desagradável que seria se se atrevesse a sair, as rajadas de vento vindas do Tâmisa, que o atingiriam como socos de pugilistas, depois de fazerem estalar ruidosamente os ramos do sicómoro ao longo da rua.
- Está bem, obrigado - aceitou, por fim, com relutância. Deborah levou-o para a cozinha. Do seu cesto, Peach ergueu os olhos e rosnou. Alaska, que tinha tomado já a sua posição diurna, olhou em volta, pestanejou e voltou a espreitar os desenhos da chuva nos vidros.
- Porta-te bem - disse Deborah à cadela enquanto instalava Cherokee à mesa, onde ele ficou a observar as cicatrizes dos golpes das facas na madeira e os círculos das queimaduras deixadas pelo assalto de tachos demasiado quentes. Deborah ligou uma vez mais a cafeteira eléctrica e foi buscar um bule ao velho aparador.
- vou também arranjar-te de comer. Quando foi que o fizeste decentemente? - olhou-o. - Espero que não tenha sido ontem.
- Comi a sopa.
Deborah soltou um suspiro de reprovação.
- Não vais ajudar a China se te fores abaixo. - Foi ao frigorífico buscar ovos e bacon; pegou nuns tomates que se encontravam no cesto, por baixo do lava-loiça. Depois foi atrás da porta buscar cogumelos que o pai guardava num canto escuro, dentro de um saco pendurado num gancho entre os impermeáveis da casa.
Cherokee levantou-se para ir até à janela que ficava por cima do lava-loiça e aí estendeu a mão a Alaska. O gato cheirou-lhe os dedos e baixou aristocraticamente a cabeça para permitir que ele o cocasse por trás das orelhas. Deborah viu que Cherokee observava a cozinha como se quisesse absorver todos os pormenores. Seguiu-lhe o olhar para o ver registar aquilo que para ela era evidente: desde as ervas secas que o pai mantinha em ramos bem arranjados, até aos tachos e panelas de cobre que se alinhavam na parede, ao alcance da mão, sob uma prateleira. Desde os velhos azulejos do chão ao armário que tudo guardava desde os pratos e travessas até às fotografias dos sobrinhos e sobrinhas de Simon.
- É uma casa muito fixe, Debs - murmurou Cherokee.
Para Deborah era apenas a casa em que vivera desde criança, primeiro como filha sem mãe do indispensável braço direito de Simon, depois durante um breve tempo como namorada de Simon, antes de se tornar sua mulher. Conhecia-lhe as correntes de ar, os problemas da canalização e a sua exasperante falta de electrodomésticos. Para ela era simplesmente o lar.
- É velha, cheia de correntes de ar e dá-nos quase sempre cabo da cabeça.
- Ah, sim? Pois a mim parece-me mais uma mansão.
- Não me digas. - Espetou com o garfo nove fatias de bacon e meteu-as numa frigideira que colocou por baixo do grelhador. - Pertence a toda a família de Simon. Quando tomámos conta dela era um autêntico desastre. Havia ratos nas paredes e raposas na cozinha. Ele e o meu pai passaram quase dois anos a torná-la habitável. Suponho que os irmãos e a irmã dele poderiam mudar-se para cá se quisessem, já que a casa também é deles. Mas não o fariam. Sabem que foi ele e o meu pai que trataram de tudo.
- Então o Simon tem irmãos e irmãs - comentou Cherokee.
- Tem dois irmãos em Southampton... onde está o negócio da família... os barcos... Mas a irmã está em Londres. Era modelo mas agora anda a fazer campanha para ser entrevistadora de celebridades obscuras de um canal de televisão por cabo ainda mais obscuro, e que ninguém vê. Deborah sorriu. - A Sidney, a irmã do Simon, é muito bem apanhada. Dá com a mãe em doida porque não quer assentar. Tem dezenas de namorados. Nas férias conhecemo-los sempre e cada um deles é, por fim, por fim, o homem dos seus sonhos.
- É uma sorte ter uma família assim - disse Cherokee.
O tom melancólico da sua voz fez com que Deborah se voltasse do fogão.
- Queres telefonar à vossa? - perguntou. - Quero dizer, à vossa mãe? Podes usar o telefone que está no aparador. Ou o do escritório, se quiseres ter mais privacidade... - Olhou para o relógio de parede e fez as contas. - Na Califórnia são só dez e um quarto de ontem à noite.
- Não posso fazê-lo. - Cherokee voltou para a mesa e deixou-se cair na cadeira. - Prometi à China.
- Mas ela não tem o direito...
- A China e a mãe? - interrompeu Cherokee. - Elas não... bom, a mãe nunca foi muito mãe, nunca foi como as outras mães, e a China não quer que ela saiba disto, acho que é porque... sabes... as outras mães apanhariam imediatamente um avião... mas a nossa? Nem penses. Pode ter de salvar uma espécie em vias de extinção. Então para quê dizer-lhe? Pelo menos é essa a opinião da China.
- E o pai dela? Ele... - Deborah hesitou. O pai de China sempre fora considerado um assunto muito delicado.
Cherokee ergueu as sobrancelhas.
- Engavetado? Claro. Foi de novo dentro. Portanto não posso chamar ninguém.
Soaram passos nas escadas da cozinha. Deborah pôs os pratos na mesa e escutou o ruído irregular de uma cautelosa descida.
- Deve ser o Simon - disse.
Levantara-se mais cedo do que de costume, muito antes do pai dela, facto que não agradaria a Joseph Cotter. Cuidara de Simon durante a sua longa convalescença após o acidente com um condutor alcoolizado que o incapacitara e não gostaria que Simon lhe negasse a possibilidade de o superproteger.
- Felizmente fiz o suficiente para os três - disse Deborah quando o marido chegou.
Simon olhou primeiro para o fogão e depois para a mesa onde ela tinha posto a loiça.
- Espero que o coração do teu pai tenha forças para agüentar o golpe - disse ele.
- Que engraçado.
Simon beijou-a e acenou com a cabeça a Cherokee.
- Tem muito melhor aspecto esta manhã. Como vai a sua cabeça? Cherokee tocou no adesivo junto à linha do nascimento do cabelo.
- Melhor. Tive uma óptima enfermeira.
- Ela sabe o que faz - disse Simon.
Deborah despejou os ovos para a frigideira e começou a mexê-los com toda a eficiência.
- Não há dúvida de que ele hoje está mais seco - comentou. Disse-lhe que depois de comermos eu levava-o à embaixada dos Estados Unidos.
- Ah, percebo. - Simon olhou para Cherokee. - A polícia de Guernsey não notificou a embaixada? Não é muito vulgar.
- Notificou - respondeu Cherokee. - Mas a embaixada não enviou ninguém. Limitaram-se a telefonar para se assegurarem de que ela tinha um advogado que a representasse em tribunal. E depois disse, "muito bem, já tem um representante. Telefone-nos se precisar de mais alguma coisa". Eu respondi: "Preciso. Preciso que venham cá. Nem sequer estávamos na ilha quando isto aconteceu." Mas disseram que a polícia tinha as suas provas e que não podiam fazer mais nada até ao apito final. Foi que disseram. O apito final, como se se tratasse de um jogo de basquetebol ou coisa parecida. - Afastou-se abruptamente da mesa. - Preciso de alguém da embaixada aqui. Isto foi tudo montado e se eu não fizer alguma coisa para impedir que aconteça, vai haver um julgamento e uma sentença antes do fim do mês.
- A embaixada pode fazer alguma coisa? - Deborah poisou o pequeno-almoço na mesa. - Sabes, Simon?
O marido reflectiu sobre a pergunta. Não costumava trabalhar com as embaixadas. Fazia-o mais com a Procuradoria ou para advogados que organizavam a defesa de um crime em tribunal e necessitavam de uma pessoa isenta para confirmar o testemunho de um ou outro laboratório da polícia. Contudo, sabia o suficiente para poder explicar o que a embaixada americana sem dúvida ofereceria a Cherokee, quando este aparecesse em Grosvenor Square.
- A embaixada garante um processo justo - disse. - Mais nada. Assegurar-se-ão de que as leis do país serão cumpridas no caso da China.
- É tudo o que podem fazer?
- Receio que sim. - Simon parecia lamentá-lo, mas prosseguiu num tom mais tranquilizador. - Espero que verifiquem se ela está bem representada. Confirmarão as credenciais do advogado e que este seja um profissional com experiência. E informarão toda a gente que a China deseje informar nos Estados Unidos. Enviar-lhe-ão o correio a tempo e espero que a visitem regularmente. Farão todos os possíveis. - Observou Cherokee por uns instantes e depois acrescentou com simpatia. - Sabe que ainda é muito cedo.
- Nem sequer lá estávamos quando aquilo aconteceu - disse Cherokee entorpecido. - Fartei-me de lhes dizer mas não me acreditaram. Devem ter os registos do aeroporto, não é verdade? Registos da nossa partida. Têm de ter.
- Claro - disse Simon. - Se o dia e a hora da morte entrarem em conflito com a vossa partida, depressa se descobrirá. - Brincou com a faca, batendo com ela na borda do prato.
- O que foi, Simon? O que foi? - perguntou Deborah.
Ele olhou para Cherokee e depois ergueu os olhos para a janela da cozinha, onde Alaska estava sentado interrompendo de vez em quando a sua lavagem para encostar a pata aos riscos de chuva no vidro, como se quisesse impedi-los de descer.
- Tem de reflectir com calma - disse cauteloso. - Não estamos a falar de um país do terceiro mundo, nem de um estado totalitário. A polícia de Guemsey não faria uma prisão sem provas. Por isso - pôs a faca de lado -, esta é a realidade: alguma coisa de definitivo os obrigou a acreditar que encontraram o assassino. - Olhou para Cherokee e depois observou-lhe o rosto com a sua habitual expressão imparcial de cientista, como que em busca da certeza de que o outro seria capaz de agüentar aquilo que ele acabara de concluir. - Tem de se preparar.
- Para quê? - Cherokee estendeu inconscientemente a mão para a borda da mesa.
- Para o que quer que a sua irmã possa ter feito. Receio que sem o seu conhecimento.
Capítulo 3
SUmO DE BIGORNA, FRANKIE. É O QUE LHE CHAMÁVAMOS. NUNCA TE disse, pois não? Nunca falei das imundices que tivemos de comer,
pois não, filho? Não gosto muito de pensar nesses tempos. ILr Boches de merda... O que fizeram aqui na ilha...
Frank Ouseley meteu delicadamente as mãos por baixo das axilas do pai, enquanto o velho tagarelava. Ergueu-o da cadeira de plástico de dentro da banheira e guiou-lhe o pé esquerdo para o velho tapete que cobria o linóleo frio. Naquela manhã ligara o radiador no máximo, mesmo assim, a casa de banho parecia-lhe gelada. Por isso, com uma mão no braço do pai para o firmar, retirou a toalha do toalheiro e sacudiu-a. Aconchegou-lha em redor dos ombros, tão engelhados como o resto do seu velho corpo. A carne de Graham Ouseley tinha noventa e dois anos e pendia-lhe dos ossos como farripas de massa de pão.
- Naqueles tempos deitava-se tudo para dentro da panela - prosseguiu Graham encostando o seu corpo esquelético aos ombros bem desenvolvidos de Frank. - Esmagávamos nabos, rapaz, quando conseguíamos arranjá-los. Cozíamo-los primeiro, claro. E também folhas de camélia, flores de limoeiro e bálsamo de limão. Depois atirávamos lá para dentro bicarbonato para fortalecer as folhas, filho. Chamávamos-lhe sumo de bigoma. Ora, não podíamos chamar-lhe simplesmente chá. - Soltou uma gargalhada que fez estremecer os seus frágeis ombros. A gargalhada transformou-se em tosse. A tosse transformou-se em falta de ar. Frank agarrou no pai para o manter direito.
- Aguente-se, pai. - Agarrou firmemente o corpo frágil, apesar do medo que um dia o facto de o agarrar para que não caísse, fosse fazer mais danos do que qualquer queda que o pai pudesse vir a dar, partindo-lhe os ossos como pernas de um passarinho. - Vá, vamos à sanita.
- Não quero fazer chichi, rapaz - protestou Graham, tentando libertar-se. - Que se passa contigo? Não estás bom da cabeça, ou quê? Fiz antes de tomar banho.
- Sim, bem sei. Só quero que se sente.
- Não tenho nada nas pernas. Posso ficar de pé como toda a gente. Era o que tinha de fazer quando os boches cá estavam. Ficar de pé e parecer que estava na bicha para a carne. Não a passar as notícias, não senhor. Nada de receptor de rádio no monte de estrume. Tinha de parecer que preferia dizer heil ao Bigodes a God Save the King e não nos incomodavam. Assim, podia fazer o que quisesse, desde que tivesse cuidado.
- Eu lembro-me, pai - disse Frank com paciência. - Lembro-me que o pai me contava essas coisas. - Mau grado os protestos do pai sentou-o, no assento da sanita e começou a secá-lo. Enquanto o fazia escutava com alguma preocupação a respiração de Graham, aguardando que regressasse ao normal. Insuficiência cardíaca congestiva, dissera o médico. Claro que existe medicação e vamos dar-lha. Mas, verdade seja dita, na sua idade avançada, é apenas questão de tempo. É um milagre que ainda esteja vivo.
Quando recebera aquelas notícias, Frank pensara. Não, agora não. Ainda não, já não. Mas agora estava preparado para deixar partir o pai. Havia muito que se apercebera da sorte que tivera em tê-lo consigo até à sua sexta década de vida, e enquanto desejava manter Graham Ouseley vivo, mais dezoito meses, acabara por compreender - com um desgosto que caíra como uma rede da qual nunca poderia escapar - que não seria assim.
- Ah sim? - perguntou Graham, enrugando o rosto, enquanto buscava na memória. - Já te contei, filho? Quando?
Duzentas ou trezentas vezes, pensou Frank. Ouvira o pai contar histórias da Segunda Guerra Mundial desde a infância e conseguia repetir a maioria de cor. Os alemães tinham ocupado Guernsey durante cinco anos, preparando o seu plano falhado para invadirem a Inglaterra, e as Privações que a população sofrera - já para não falar nas mil e uma maneiras de contrariar os objectivos alemães na ilha haviam constituído essencial das conversas paternas. Enquanto a maioria das crianças mamava no seio da mãe, Frank havia muito que o fazia na teta das reminiscências de Graham. Nunca esqueças isto, Frankie. Seja o que for
que acontecer na tua vida, meu rapaz, nunca deves esquecer.
Não o fizera e, ao contrário de tantas crianças que se cansam das histórias que os pais contavam no Remembrance Day, Frank Ouseley bebera-lhes as palavras, desejando ter podido nascer uma década antes, para que, mesmo em criança, tivesse tomado parte desse tempo conturbado e heróico.
Agora, nada havia que se lhe assemelhasse. Nem a Guerra das Malvinas, nem a do Golfo - esses pequenos conflitos, abreviados e incômodos levados a cabo quase sem razão, que tinham conduzido e estimulado a populaça a um patriótico acenar de bandeiras - e muito menos na Irlanda do Norte onde ele próprio tinha servido, escondendo-se do fogo dos snipers, perguntando a si próprio que diabo estaria a fazer no meio de uma luta sectária promovida por brutamontes que faziam tiro ao alvo uns aos outros desde o princípio do século passado. Não havia qualquer heroísmo naquilo, já que não havia qualquer inimigo que pudesse identificar e contra cuja imagem uma pessoa se pudesse lançar e morrer. Não era como na Segunda Guerra Mundial.
Firmou o pai no assento da sanita e estendeu a mão para apanhar as roupas que estavam bem dobradas na borda do lavatório. Era ele que as lavava, por isso as cuecas e a camisola interior talvez não estivessem tão brancas como deviam mas como a vista do pai piorava dia a dia, Frank tinha a certeza de que ele não reparava.
Vestia o pai, por rotina, metendo-o nas peças de roupa exactamente pela mesma ordem. Para ele era um ritual tranquilizador que dava uma igualdade aos seus dias com Graham, uma espécie de promessa, embora falsa, de que esses dias continuariam indefinidamente. Todavia observava cautelosamente o pai perguntando a si próprio se a sua dificuldade em respirar e a cor de cera da sua pele não seriam um presságio do tempo que ainda passariam juntos, um tempo que já excedera os cinqüenta anos. Dois anos antes teria perdido o ânimo só de pensar em tal. Dois meses antes tudo o que desejava era criar o Museu da Guerra Graham Ouseley para que o pai pudesse cortar orgulhosamente a fita na manhã da almejada inauguração. Porém, o decorrer de sessenta dias tinha tornado tudo irreconhecível, o que era uma pena, porque juntar cada recordação que representava os anos da ocupação alemã na ilha, havia sido desde sempre o cimentar da relação de Frank com o pai. Era a sua paixão mútua e o trabalho conjunto das suas vidas, feito por amor à história e à crença de que as populações presentes e futuras de Guernsey fossem educadas sabendo aquilo que os seus antepassados tinham sofrido.
Frank não queria que o pai soubesse ainda que os seus planos tinham vindo praticamente por água abaixo. Desde que os dias de Graham estavam contados, não parecia fazer sentido em prosseguir um sonho que, afinal ele nunca teria tido, se Guy Brouard não tivesse entrado nas suas vidas.
- Que vamos fazer hoje? - perguntou Graham ao filho, enquanto este lhe puxava as calças do fato de treino sobre o traseiro engelhado. - Já é altura de irmos ver o sítio da obra, não achas? Um dia destes começam a escavar, não é verdade, Frankie? Vais lá estar para isso não vais, filho? A pazada cerimonial? Ou o Guy quer ser ele a fazê-lo.
Frank evitou todo o conjunto de perguntas e todo o assunto de Guy Brouard. Até ali tinha conseguido manter o pai longe das notícias da morte macabra do seu amigo e benfeitor. POIS ainda não
Decidira se a informação seria pesada de mais para a saúde dele. Além do mais pouco importava, pois estavam num compasso de espera. Ninguém sabia como a propriedade de Guy iria ser dividida.
- Pensei em dar uma vista de olhos aos uniformes esta manhã disse Frank ao pai. - Pareceu-me que tinham bolor.
Era mentira. Os dez uniformes que possuíam - desde os sobretudos de gola escura usados pela Wehrmacht, aos macacões puidos usados pelas tripulações das antiaéreas da Luftwafr - estavam todos bem conservados, com coberturas de tecido sem ácido, às quais tinha sido retirado o ar à espera do dia em que fossem colocados em redomas de vidro para serem conservados para sempre.
- Não me parece que possa ter acontecido, mas tu ou eu' Precisamos de remediar o caso antes que comecem a apodrecer.
- Tens toda a razão - concordou o pai. - Tem cuidado, Frankie. é preciso guardar essa roupa toda como nova.
- Claro que sim, pai - respondeu Frankie, mecanicamente
O pai pareceu ficar satisfeito com aquilo. Deixou que ele lhe penteasse o cabelo ralo e que o ajudasse a chegar à sala. Aí Frank aconchegou-o na sua cadeira favorita e entregou-lhe o comando da televisão. Não se preocupou com a possibilidade de o pai ligar para um dos canais da ilha e ouvir as notícias acerca de Guy Brouard que tentava esconder-lhe. Os únicos programas a que Graham Ouseley assistia eram os de culinária e as novelas. Tirava apontamentos dos primeiros, por razões que o filho nunca entendera, via os segundos com enorme concentração e passava a hora do almoço a discutir as suas conturbadas personagens como se se tratasse dos seus vizinhos do lado.
Estes não existiam no sítio onde os Ouseley viviam. Anos atrás sim: duas famílias viviam na fila de casinhas que havia crescido como um apêndice, a partir de uma velha azenha chamada Moulin dês Niaux. Porém, tempos depois, quando essas habitações foram postas à venda, Frank e o pai tinham conseguido comprá-las. Abrigavam agora a vasta colecção que deveria encher o museu da guerra.
Frank pegou nas chaves e, depois de verificar a temperatura do radiador da sala e de ligar a lareira eléctrica, pois não ficara satisfeito com o modesto calor dos velhos canos, dirigiu-se à pequena casa ao lado da qual ele e o pai sempre tinham vivido. Estavam todas ligadas pelo mesmo pátio e os Ouseley viviam na que ficava mais afastada da azenha, cuja antiga nora rangia e gemia de noite quando o vento assobiava por Talbot Valley, o vale cortado por um ribeiro.
A porta emperrou quando Frank tentou abri-la, pois o velho chão de pedra era irregular e nem Frank nem o pai tinham alguma vez pensado em solucionar o problema desde que haviam comprado o lugar. Usavam-na principalmente como armazém e uma porta emperrada sempre parecera um pequeno problema comparado com outros que um velho edifício apresentava a quem o queria utilizar para armazenar coisas. Era mais importante que o telhado não deixasse entrar a água e que as janelas estivessem livres das correntes de ar. Se o sistema de aquecimento funcionasse e fosse possível manter o equilíbrio entre o ar seco e a humidade, o facto de a porta emperrar poderia ser facilmente esquecido.
Contudo Guy Brouard não o fizera. A porta fora a primeira coisa que mencionara quando fizera a primeira visita aos Ouseley.
- A madeira está inchada - dissera. - Significa humidade, Frank. Está a precaver-se contra ela?
- É o chão, sabe? - Frank apontara para lá. - Não é humidade, embora ela também exista. Tentamos manter o calor constante, mas no Inverno... Julgo que seja a proximidade do ribeiro.
- Precisam de um chão mais alto.
- Não é fácil encontrar aqui na ilha.
Guy não discordara. Não havia grandes elevações em Guernsey, excepto talvez os rochedos na ponta sul da ilha, que se precipitavam para o canal. Mas a própria presença da Mancha com o seu ar carregado de sal transformava os rochedos num local inacessível para guardar a colecção... se por acaso lá conseguissem encontrar um edifício, o que lhes parecia uma perspectiva pouco provável.
Guy não sugerira imediatamente o museu. A princípio não abarcara o tamanho da colecção dos Ouseley. A sua vinda ao Talbot Valley resultara de um convite feito por Frank no lanche de apresentação da sociedade histórica. Tinham-se reunido no largo do mercado de St. Peter Fort, numa antiga sala de reuniões usurpada, havia muito, por uma extensão da biblioteca de Guille-Alles. Aí se juntaram para uma conferência sobre a investigação aliada de 1945 sobre Herman Gõring e que acabara por ser uma seca recitação dos factos compilados de uma coisa chamada o Relatório da Consolidação de Interrogatórios. A maioria dos membros cabeceava dez minutos depois do começo da conferência, mas Guy Brouard parecia atento a cada palavra do orador. Aquilo mostrou a Frank que poderia valer a pena tê-lo como associado. Tão poucas pessoas já se preocupavam com os acontecimentos do século anterior. Assim, abordara-o no final da conferência, sem saber a princípio quem ele era e descobrindo espantado que se tratava do cavalheiro que ficara com as ruínas da Thibeault Manor entre St. Martin e St. Peter Port para tratar do seu restauro como Lê Reposoir.
Se Guy Brouard não tivesse sido um homem fácil de conhecer, nessa noite Frank poderia ter trocado com ele algumas amenidades e seguido o seu caminho. Contudo, Guy tinha na verdade mostrado um interesse muito lisonjeiro pela vocação de Frank. Por isso ele estendera o convite a uma visita até ao Moulin dês Niaux.
Guy acabara, sem dúvida, por pensar que o convite era uma espécie de gesto educado que um diletante faz a alguém que evidencia um grau suficiente de curiosidade sobre a sua área de interesse. Contudo, depois de ter visto a primeira sala cheia de caixotes, de caixas de sapatos repletas de balas e medalhas, de armamento com meio século de existência, de baionetas, navalhas, máscaras de gás e equipamento de sinalização, soltara um breve assobio de apreciação e sentara-se para uma longa pesquisa.
Essa pesquisa levara mais de um dia. Levara mesmo mais de uma semana. Guy Brouard aparecera no Moulin dês Niaux durante dois meses para vasculhar o conteúdo das duas outras casas. Quando disse, "Precisa de um museu para guardar tudo isto", plantou a semente no espírito de Frank.
Naquele momento tudo parecera um sonho. Como era estranho chegar à conclusão de que um sonho assim se transformaria lentamente num pesadelo?
Dentro da casa, Frank dirigiu-se ao arquivo metálico no qual ele e o pai iam guardando alguns documentos relevantes do tempo da guerra, à medida que os encontravam. Possuíam dezenas de velhos bilhetes de identidade, cartões de racionamento e cartas de condução. Tinham declarações de condenações à morte por infracções graves, tais como soltar pombos-correios e declarações alemãs de todos os tópicos possíveis para controlar a existência dos habitantes da ilha. Os seus objectos mais estimados eram meia dúzia de exemplares do G. I. F. T. o jornal diário da resistência que fora impresso à custa da vida de três habitantes de Guernsey.
Eram esses que Frank retirava agora do arquivo. Dirigiu-se a uma cadeira de verga apodrecida e sentou-se, colocando-os desajeitadamente no colo. Eram folhas simples, dactilografadas sobre papel cebola, com muitos químicos por baixo, tantos quantos os que poderiam caber no rolo de uma máquina. Eram tão frágeis que parecia milagre terem sobrevivido um mês, quanto mais meio século, sendo cada um deles uma afirmação micromilimétrica da coragem dos homens que não se deixavam acobardar pelas proclamações e ameaças nazis.
Se Frank não tivesse recebido durante toda a vida lições sobre a importância da história, se não tivesse passado todos os seus anos de adolescência até à sua solitária idade adulta a aprender o inestimável valor de tudo o que estava remotamente ligado ao tempo das provações de Guemsey, poderia ter pensado que bastaria uma daquelas frágeis páginas para representar a resistência das pessoas. Mas só uma nunca seria suficiente para um coleccionador apaixonado e, quando a paixão desse coleccionador fosse proteger a recordação e expor a verdade para que esse nunca mais obtivesse um significado que resistisse à passagem do tempo, o facto de se ter demasiado ou demasiados objectos não tinha a mínima importância.
Um ruído na rua obrigou Frank a dirigir-se ao vidro sujo da janela. Viu que um jovem ciclista acabara de parar, desmontava já e colocava o apoio da bicicleta. Vinha acompanhado pelo cão felpudo que nunca o abandonava.
Eram o jovem Paul Fielder e Taboo.
Frank franziu a testa ao vê-los, perguntando a si próprio o que fariam ali, tão longe de Bouet onde Paul morava com a sua família de má reputação, numa das casas sombrias que a Douzaine da freguesia decidira construir no lado oriental da ilha para acomodar aqueles cujos rendimentos nunca estavam de acordo com a sua capacidade de procriar.
Paul Fielder fora o projecto especial de Guy Brouard e vinha muitas vezes com ele ao Moulin dês Niaux para se acocorar junto às caixas armazenadas nas pequenas casas e examinar o seu conteúdo com os dois homens. Mas nunca antes viera sozinho a Talbot Valley e Frank sentiu um aperto no estômago ao avistar o rapaz.
Paul encaminhava-se para a casa dos Ouseley, compondo a mochila esverdeada que trazia às costas como uma corcova, Frank afastou-se para um lado da janela de modo a não ser visto. Se Paul batesse à porta, Graham não a abriria. Àquela hora da manhã deveria estar fascinado pela primeira das telenovelas e abstrair-se-ia de tudo, excepto da televisão. Se não obtivesse resposta, Paul Fielder partiria. Frank contava com isso.
Mas o rafeiro tinha outros planos. Enquanto Paul caminhava timidamente na direcção da última casa, Taboo dirigiu-se imediatamente para a porta atrás da qual Frank se escondia como um gatuno pouco inteligente. O cão farejou a parte de baixo da porta e depois ladrou, o que fez com que Paul mudasse o seu caminho.
Como Taboo ganisse e arranhasse a porta, Paul bateu. Foi uma pancada hesitante, tão irritante como o próprio rapaz.
Frank voltou a guardar os exemplares do G. I. F. na capa e meteu-os de novo no arquivo. Fechou o armário, limpou as palmas das mãos às calças e abriu a porta de casa de para em par.
- Paul! - exclamou animado e olhou para a bicicleta com uma expressão de fingida surpresa. - Valha-me Deus, vieste a pedalar todo este caminho? - Claro que, a direito, não era grande a distância de Bouet a Talbot Valley. A direito nada ficava a grande distância na ilha de Guernsey. Mas se se tomassem as estreitas estradas serpenteantes, a viagem seria consideravelmente maior. Frank nunca o fizera e apostaria que, de qualquer modo, o rapaz nunca conseguiria chegar sozinho ao vale, já que não devia muito à inteligência.
Paul pestanejou. Era baixo para os seus dezasseis anos e tinha uma aparência notoriamente feminina. Era exactamente o tipo de jovem que faria sucesso no palco durante a época isabelina, quando havia uma enorme procura de rapazinhos que pudessem passar por mulheres. Mas na época actual as coisas eram bem diferentes. Quando Frank conhecera o rapaz, imaginara que teria uma vida difícil, especialmente na escola, onde uma pele de pêssego, uma cabeleira arruivada e ondulada, e pestanas da cor do trigo não seriam qualidades que o protegessem dos colegas mais violentos.
Paul não correspondeu ao falso esforço de Frank para o receber amavelmente. Pelo contrário, os seus leitosos olhos cinzentos encheram-se de lágrimas, que tentou apressadamente limpar, erguendo o braço e passando pelo rosto a manga da velha camisa de flanela. Não trazia casaco, o que com aquele tempo era praticamente uma insanidade e os pulsos saíam-lhe da camisa como parênteses brancos a terminarem-lhe os braços do tamanho de ramos de um pequeno arbusto. Tentou dizer qualquer coisa, mas saiu-lhe apenas um soluço estrangulado. Taboo aproveitou a oportunidade para entrar em casa sem ser convidado.
Não havia nada a fazer senão convidar o rapaz a entrar. Foi o que Frank fez, obrigando-o a sentar-se na cadeira de verga e fechando com força a porta contra o frio de Dezembro. Mas quando se voltou, viu que Paul estava de pé. Deixara a mochila como se fosse um peso que desejava que alguém lhe tirasse dos ombros e curvou-se para uma pilha de caixas de cartão na atitude de quem deseja abraçar o seu conteúdo ou expor as costas para serem fustigadas.
Frank pensou que seria um pouco de ambas as coisas. As caixas representavam um dos laços que Paul Fielder tinha com Guy Brouard ao mesmo tempo que lhe serviam para recordar que este tinha partido para sempre.
O jovem estaria sem dúvida arrasado com a morte de Guy, independentemente daquilo que sabia ou não do modo como fora morto. Vivendo como provavelmente vivia nas circunstâncias de muitos outros com pais inadequados para qualquer actividade que não fosse sexo ou bebida, tinha florescido sob as atenções de Guy Brouard. Na verdade, o próprio Frank nunca vira provas desses progressos nos momentos em que Paul visitara Guy no Moulin dês Niaux, mas também não conhecera o jovem taciturno anteriormente ao advento de Guy na sua vida. A vigilância quase silenciosa que parecera ser a marca do caracter de Paul sempre que os três vasculhavam os objectos do tempo da guerra existentes nas pequenas casas, fora de facto uma transformação espantosa a partir de um inicial mutismo anormal e absoluto.
Os ombros magros de Paul estremeciam e o seu pescoço, junto ao qual o cabelo fino se encaracolava como as madeixas de um putto renascentista, parecia demasiado delicado para lhe agüentar a cabeça. Deixara-se cair para a frente e encostara-a à primeira caixa do monte. O seu corpo subia e descia. Engoliu convulsivamente.
Sentindo-se ultrapassado pelos acontecimentos, Frank aproximou-se do rapazinho e poisou-lhe a mão no ombro.
- Vá lá, vá lá - disse, interrogando-se como reagiria se o rapaz lhe respondesse: "Onde, onde?"
Mas Paul nada disse e manteve-se na mesma posição. Taboo veio sentar-se-lhe aos pés a olhar para ele.
Frank queria dizer que o acompanhava no desgosto pelo falecimento de Guy Brouard mas, apesar do seu desejo de confortar o rapaz, sabia que seria pouco provável que alguém naquela ilha, excepto a própria irmã do finado, sentisse um desgosto igual ao de Paul. Poderia assim oferecer-lhe uma de duas coisas: palavras de conforto completamente inadequadas ou a oportunidade de prosseguir o trabalho em que ele, Guy e o próprio rapaz tinham estado envolvidos até ali. Frank sabia que nunca levaria a cabo a primeira hipótese. Quanto à segunda, não podia suportar a idéia. A única opção seria mandar embora o adolescente.
- Olha, Paul - disse Frank. - Lamento que estejas tão perturbado. Mas não deverias estar na escola? O período ainda não acabou, pois não?
Paul ergueu o rosto afogueado para Frank. Tinha o nariz a pingar e limpou-o com as costas da mão. Parecia ao mesmo tempo tão patético e tão esperançoso que Frank percebeu imediatamente por que razão o rapaz viera vê-lo.
Valha-me Deus, anda à procura de um substituto, de um outro Guy Brouard que mostre interesse por ele, que lhe dê uma razão para... para o quê? Sonhar os seus sonhos? Perseverar no seu objectivo comum? O que teria Guy Brouard prometido àquele desgraçado rapaz? Decerto nada que Frank Ouseley - eternamente sem filhos - o pudesse ajudar a adquirir. Não com um pai de noventa e dois anos a seu cargo. E não com os pesos que ele próprio tentava suportar, de esperanças que se tinham gorado diante de uma realidade incompreensível.
Como que para confirmar as suspeitas de Frank, Paul fungou e acalmou o peito espasmódico. Limpou pela última vez o nariz à manga da camisa de flanela e olhou em seu redor como se só nesse momento tivesse tido consciência do local em que se encontrava. Mordeu o lábio e puxou a fralda da camisa. Dirigiu-se depois ao local onde se encontravam empilhadas as caixas que tinham escrito a caneta de feltro preta na tampa e dos lados para separar.
Frank sentiu-se desanimado. Era o que ele pensara. O rapaz estava ali para se tornar seu amigo e completar o trabalho como sinal dessa amizade. Aquilo não servia.
Paul retirou do monte a primeira caixa e poisou-a desajeitadamente no chão, enquanto Taboo se aproximava. Acocorou-se junto da caixa e, logo que o cão tomou a sua postura habitual, com a cabeça de pêlo hirsuto sobre as patas e os olhos fixos no dono, Paul abriu-a cuidadosamente como vira Frank e Paul fazerem uma centena de vezes. O conteúdo era uma mistura de medalhas do tempo da guerra, de velhas fivelas de cintos, botas, bonés da Luftwaffe e da Wehrmacht e outras peças de vestuário usadas pelas tropas inimigas nos tempos idos. Fez o mesmo que Guy e Frank tinham feito: abriu um plástico no chão de pedra e começou a espalhar os objectos sobre ele, preparando-se para os catalogar no caderno de apontamentos de três argolas que estavam a usar.
Ergueu-se para retirar o caderno de apontamentos do lugar onde estava guardado, na parte de trás da gaveta do arquivo de onde Frank apenas momentos antes havia retirado os exemplares do G. I. F. T. Frank viu aí a sua oportunidade.
- Olha lá, menino! - exclamou e atravessou a sala a toda a pressa para fechar com força a gaveta do arquivo que o rapaz abria. Os seus movimentos e o seu tom de voz foram tão bruscos que Taboo deu um salto e começou a ladrar.
Frank aproveitou a oportunidade.
- Mas que diabo estás a fazer? - perguntou. - Eu estou a trabalhar. Não podes aqui entrar e mexer assim em tudo. Estes objectos são valiosos, são frágeis e, Se os Destruíres, desaparecem, percebeste?
Os olhos de Paul abriram-se muito. Abriu a boca para falar, mas dela não saiu qualquer som. Taboo continuou a ladrar.
- E tira-me este rafeiro daqui, que raio! - continuou Frank. - Tens menos juízo que um macaco, rapaz. Traze-lo para aqui sabendo que ele pode... Olha para ele, parece uma ferazinha destruidora.
Por seu lado, Taboo mostrou-se mais agressivo e Frank também utilizou esse facto. Ergueu a voz um tom acima para lhe gritar:
- Leva-o daqui, rapaz, antes que eu o ponha lá fora. - Quando Paul se encolheu ainda mais, mas sem fazer o mínimo movimento para sair, Frank olhou freneticamente à sua volta em busca de alguma coisa que o fizesse reagir: os olhos iluminaram-se ao ver a mochila e agarrou nela, balançou-a ameaçadoramente na direcção de Taboo, que recuou a ladrar.
Foi a ameaça ao cão que resultou. Paul soltou um grito estrangulado, desconexo e correu para a porta seguido de Taboo. Fez apenas uma leve pausa para arrancar a mochila a Frank. Pô-la ao ombro e fugiu.
Pela janela, Frank viu-o partir com o coração descompassado. A bicicleta do rapaz era uma relíquia que rangia e que, no melhor, apenas ultrapassava a velocidade do passo de um homem. Todavia o rapaz pedalava furiosamente de modo que, em tempo recorde, ele e o cão desapareceram atrás da azenha e, passando por baixo do velho dique coberto de limos tomavam a direcção da estrada.
Só depois de ter a certeza que tinham partido, Frank se sentiu capaz de respirar. Tinha sentido nos ouvidos os batimentos do coração, o que o impedira de ouvir outra pancada na parede que juntava a casa onde se encontrava com aquela em que vivia com Graham.
Foi a correr ver por que razão o pai o chamava. Encontrou-o a tentar voltar para a cadeira de onde conseguira levantar-se com a ajuda de um taco de madeira na mão.
- Pai? - disse ele. - Sente-se bem? Que se passa?
- Não se pode ter paz em casa? - perguntou Graham. - Que se passa contigo esta manhã, filho? Nem consigo ouvir a televisão com o barulho que fazes.
- Desculpe - disse Frank ao pai. - Aquele rapaz apareceu aqui sozinho, sem o Guy. Sabe de quem estou a falar? Do Paul Fielder. Ora não o podemos permitir, pai. Não o quero por aqui a vasculhar as coisas sozinho. Não que não confie nele, mas grande parte do que temos é valioso e ele vem de um meio, bom... bastante carenciado. - Sabia que estava a falar depressa de mais, mas não o podia evitar. - Não gostaria de lhe dar a oportunidade de roubar alguma coisa e vender. Abriu uma das caixas, sabe. Pôs-se a mexer lá dentro sem dizer água vai e eu...
Graham pegou no comando da televisão e levantou o volume a um ponto que quase rebentou os tímpanos do filho.
- Vai lá tratar das tuas coisas - ordenou-lhe. - Acho que percebes que tenho mais que fazer.
Paul pedalou como um louco, com Taboo a correr a seu lado. Não se deteve para respirar, descansar ou sequer para pensar. Pelo contrário, atirou-se pela estrada que saía de Talbot Valley, aproximando-se perigosamente do muro coberto de trepadeira que protegia a colina em que a estrada tinha sido aberta. Se tivesse conseguido pensar claramente, poderia ter parado num parque de estacionamento que dava acesso ao atalho que subia a colina. Poderia ter estacionado aí a bicicleta e subido esse atalho para atravessar os campos onde pastavam vacas leiteiras de cor castanha. Ninguém lá iria naquela época do ano, por isso estaria em segurança e a solidão ter-lhe-ia dado a oportunidade para ponderar sobre o que deveria fazer a seguir. Mas só pensava em fugir. Segundo a sua experiência, os gritos eram precursores da violência. Havia muito que a fuga tinha sido a sua única opção.
Assim, atravessou o vale a toda a velocidade e muito tempo depois, quando por fim perguntou a si próprio onde estaria, viu que as pernas o tinham levado para o único local onde encontrara segurança e paz. Estava junto ao portão de ferro de Lê Reposoir, que se encontrava aberto como que aguardando a sua chegada, tal como tantas vezes acontecera no passado.
Travou. Taboo ofegava junto a si. Paul sentiu uma guinada terrível de remorso ao notar a inabalável devoção que o cãozinho sentia por ele. Taboo ladrara para proteger Paul da raiva do senhor Ouseley. Expusera-se à ira de um desconhecido. Depois de o fazer, percorrera metade da ilha, sem hesitar. Indiferente, Paul deixou cair no chão a bicicleta e caiu de joelhos para abraçar o cão. Taboo correspondeu, lambendo-lhe uma orelha, como se não tivesse sido ignorado e esquecido durante a fuga do dono. Paul sufocou um grito ao pensar nisso. Na experiência de toda a sua vida só um cão lhe poderia oferecer tanto amor. Nem sequer Guy Brouard o fizera.
Contudo, naquele momento, Paul não desejava pensar em Guy Brouard. Não queria recordar-se do que tinha sido o passado com o senhor Brouard e queria ainda menos contemplar o que seria o futuro sem o senhor Brouard na sua vida.
Por isso fez a única coisa que podia: continuou como se nada se tivesse passado.
Isto significava que, como estava ao portão de Lê Reposoir, deveria pegar na bicicleta e entrar no recinto. Porém, em vez de a montar, conduziu-a por baixo dos castanheiros, com Taboo a trotar alegremente a seu lado. Ao longe, o caminho empedrado serpenteava diante da casa grande e a sua fileira de janelas parecia piscar-lhe o olho para lhe dar as boas-vindas ao sol fraco daquela manhã de Inverno.
Dantes teria dado a volta pelas traseiras até à estufa e entrado, passando pela cozinha onde Valerie Duffy teria exclamado. "É um gosto ver-te logo pela manhã" e ter-lhe-ia oferecido de comer. Teria scones acabados de fazer, ou talvez um bolo e, antes de o deixar ir ter com o senhor Brouard ao escritório, à galeria ou a qualquer outro lado, dir-lhe-ia: "Senta-te aqui e diz-me se isto presta, Paul. Não quero que o senhor Brouard o prove antes de tu me teres dado a tua opinião, sabes?" E acrescentaria. "Acompanha com isto" e apresentar-lhe-ia uma chávena de leite, de chá ou de café e até, uma vez por outra, uma caneca de chocolate quente, tão saboroso e espesso que sentiria crescer a água na boca só com o cheiro. Teria também qualquer coisa para o Taboo.
Mas naquela manhã Paul evitou a estufa. Tudo mudara desde a morte do senhor Guy. Dirigiu-se aos estábulos que ficavam por trás da casa, até um velho quarto de arrumações onde o senhor Guy guardava as suas ferramentas. Enquanto Taboo farejava os aromas que provinham do quarto de arrumações e dos estábulos, Paul pegou na caixa de ferramentas e na serra, pôs ao ombro as tábuas e saiu. Assobiou a Taboo e o rafeiro veio a correr direito ao lago que ficava a alguma distância a noroeste da casa. Para lá chegar, Paul teria de passar diante da cozinha e, quando olhou lá para dentro, viu Valerie Duffy. Porém, baixou a cabeça quando ela lhe fez um aceno. Avançou resoluto, arrastando os pés na gravilha como tanto gostava de fazer, para ouvir as pedrinhas rangerem debaixo das solas dos sapatos. Havia muito que gostava daquele som, especialmente quando caminhavam os dois juntos; ele e o senhor Guy faziam o mesmo barulho, como dois colegas de trabalho e a semelhança do som sempre garantira a Paul que tudo seria possível, até mesmo crescer para se transformar noutro Guy Brouard.
Não que quisesse imitar a vida do senhor Guy. Tinha outros sonhos. Mas pelo facto de o senhor Guy ter começado do nada - uma criança refugiada, vinda de França - e ter conseguido chegar desse nada a um gigante na vida que escolhera, era como que uma promessa para Paul, de que ele poderia fazer o mesmo. Tudo seria possível se ele estivesse disposto a trabalhar.
E Paul estava, sempre estivera, a partir do momento em que conhecera o senhor Guy. Tinha na altura doze anos e era um rapazinho magro que usava a roupa do irmão mais velho, que por sua vez passaria para o irmão seguinte. Paul apertara a mão do cavalheiro de calças de ganga e apenas fora capaz de dizer naquela altura, "Que brancura!", ao olhar para a brancura imaculada da T-shirt que o senhor Guy usava por baixo do seu impecável pulôver azul-escuro. Depois corara tanto que pensou que iria desmaiar. Que estúpido, que estúpido, gritara-lhe uma voz dentro da cabeça. És muito burro, Paulie, não prestas para nada.
Mas o senhor Guy percebera perfeitamente aquilo que Paul queria dizer. Disse, o mérito não é meu, é da Valerie. É ela que lava a roupa. Não há outra como ela. Uma verdadeira dona de casa. Infelizmente não é minha mulher, foi Kevin que a apanhou. Vais conhecer os dois quando fores a Lê Reposoir. Isto é, se quiseres lá ir. Que tal? Vamos tentar trabalhar juntos?
Paul nem sabia o que responder. Quando a professora do terceiro ano o chamara antecipadamente e lhe explicara o programa especial - os adultos da comunidade iriam ocupar-se de alguns miúdos - ele não a escutara como devia já que estava distraído a olhar para um dente de ouro que a senhora tinha. Era quase à frente e, quando falava brilhava à luz do candeeiro da sala. Tentava ver se ela tinha outros para calcular o valor da sua dentadura.
Por isso, quando o senhor Guy falou em Lê Reposoir, em Valerie e em Kevin - e também em Ruth, a sua irmãzinha mais nova, que Paul pensava que fosse de facto uma menina até a conhecer, Paul ouviu com atenção o que ele lhe dizia e acenou afirmativamente, porque sabia que era assim que deveria responder e fazia sempre o que devia, e porque se fizesse outra coisa entraria em pânico e ficaria confuso. Fora assim que o senhor Guy se tornara seu amigo e tinham ambos embarcado na aventura daquela simpatia mútua.
E consistira ela, sobretudo, em passearem pela propriedade do senhor Guy, pois para além da pesca, da natação, e das caminhadas pelos atalhos dos rochedos, pouco mais havia em Guernsey para dois homens fazerem. Ou pelo menos assim fora até terem começado o projecto do museu.
Mas tinha de tirar da cabeça o projecto do museu. Se não o fizesse não conseguiria deixar de reviver aqueles momentos sozinho com o senhor Ouseley aos gritos. Foi por isso que se dirigiu, com passos pesados, até ao lago onde ele e o senhor Guy tinham estado a reconstruir o abrigo de Inverno para os patos.
Já só lá estavam três: um macho e duas fêmeas. Os outros tinham morrido. Uma manhã Paul tinha encontrado o senhor Guy a enterrar os seus corpos mutilados e cobertos de sangue, vítimas de um cão enfurecido. Ou da maldade de alguém. O senhor Guy não deixara que Paul os visse de perto. Dissera, fica aí, Paul, não deixes vir o Taboo. E Paul ficou a ver o senhor Guy enterrar as aves em sepulturas separadas, que ele próprio escavou, dizendo, malditos, meu Deus, que desperdício, que desperdício.
Haviam sido doze e também dezasseis patinhos, ficando cada um com a sua sepultura marcada, rodeada de pedras e enfeitada com uma cruz: o cemitério dos patos tinha uma vedação oficial. Honramos a criação de Deus, dissera-lhe o senhor Guy. Devemos lembrar-nos que fazemos parte dela.
Mas Taboo tivera de ser ensinado, e ensiná-lo a respeitar os patos como criaturas de Deus fora um projecto sério para Paul. Porém, o senhor Guy garantira-lhe que a paciência venceria e assim fora. Taboo era agora doce como um cordeiro com os três patos que restavam que, naquela manhã, até poderiam nem estar no lago pela indiferença que o cão demonstrava. Foi a correr investigar os cheiros do canavial que crescia junto da ponte. Por seu lado, Paul levou a sua carga para leste do lago, onde ele e o senhor Guy tinham estado a trabalhar.
Para além dos patos assassinados tinham também encontrado destruídos os abrigos de Inverno para as aves. Paul e o seu mentor estavam a reconstruí-los nos dias anteriores à morte do senhor Guy.
com o passar do tempo, Paul compreendeu que o senhor Guy o experimentava num ou noutro projecto, esforçando-se por ver para que teria ele jeito na sua vida futura. Paul quisera dizer-lhe que trabalhar como carpinteiro, pedreiro, ladrilhador e pintor era bom, mas que essas actividades não o conduziriam exactamente à carreira de piloto militar da RAF. Porém sentira relutância em admitir esse sonho em voz alta. Era por isso que cooperava com alegria em todos os projectos que lhe apresentavam. Quanto mais não fosse, as horas que passava em Lê Reposoir eram horas em que estava longe de casa e esse afastamento era muito agradável.
Poisou a madeira e as ferramentas perto da água e retirou também a mochila. Certificou-se de que Taboo estava à vista antes de abrir a caixa de ferramentas e de observar o seu conteúdo, tentando recordar-se da ordem exacta que o senhor Guy lhe tinha ensinado que deveria seguir, quando construísse qualquer coisa. As tábuas estavam cortadas, o que já era bom, pois não era nenhum artista a usar a serra. Calculava que, a seguir, viria a parte dos pregos. O único problema era o que se pregava e onde.
Encontrou um papel dobrado debaixo de uma caixa de pregos e recordou-se dos esquemas feitos pelo senhor Guy. Pegou nele e abriu-o no chão, ajoelhando-se para observar o desenho.
Um A maiúsculo, rodeado de um círculo, significava que devia começar por aí. Um maiúsculo, rodeado por um círculo, significava o que vinha a seguir. Um e maiúsculo, rodeado por um círculo, era o que se seguia ao B, e por aí adiante até o abrigo estar construído. Muito fácil, pensou Paul. Começou a remexer nas tábuas para encontrar as que correspondiam às letras do desenho.
Todavia, era um problema, pois os bocados de madeira não tinham letras mas sim números e embora também houvesse números no desenho alguns desses números eram iguais a outros e todos eles tinham fracções; Paul sempre fora uma nulidade em fracções. Nem percebia a relação que existia entre o número de cima e o número de baixo. Sabia que tinha qualquer coisa a ver com dividir. O de cima pelo debaixo ou o debaixo pelo de cima, dependendo do menor denominador comum, ou coisa parecida. Mas, quando olhava para os números, ficava com a cabeça tonta e vinham-Lhe à idéia penosas idas ao quadro com a professora a pedir-lhe, por amor de Deus, "Paul, reduz só a fracção. Não, não, o numerador e o denominador alteram-se se os dividires como deve ser, que rapaz tão estúpido."
Risos e mais risos. Burro! Miolos de galinha!
Paul olhou para os números e fixou-os de tal maneira que pareciam dançar-lhe diante dos olhos. Depois, agarrou no papel e amarrotou-o. Inútil, nada a fazer, seu idiota. Isso mesmo, agora chora, mariquinhas. Mu* bem sei porque choras, claro.
- Ah, cá estás tu!
Paul deu meia volta ao ouvir a voz. Valerie Duff vinha de casa, com a sua comprida saia de lã prendendo-se nos fetos do caminho. Trazia nas mãos qualquer coisa bem dobrada. Quando Valerie se aproximou, Paul viu que se tratava de uma camisa.
- Olá, Paul - disse Valerie Duffy, com aquela alegria que parecia propositada. - Onde está o teu amigo de quatro patas esta manhã? - E ao ver que Taboo vinha da margem do lago, a ladrar para lhe dar as boas-vindas, prosseguiu.
- Ora cá estás tu, Tab. Porque não foste à cozinha fazer-me uma visita?
Fez a pergunta a Taboo, mas Paul sabia que era para ele. Era assim que muitas vezes comunicavam. Valerie gostava de fazer os seus comentários ao cão. Continuou a fazê-lo, dizendo:
- Amanhã de manhã é o funeral, Tab, e lamento dizer-te que os cães não podem entrar na igreja. Mas, se o senhor Brouard pudesse dar a sua opinião, lá estarias, querido. E os patos também. Mas espero que o nosso Paul vá. O senhor Brouard desejaria que ele fosse.
Paul olhou para as suas roupas velhas e percebeu que de qualquer maneira, não poderia ir a um funeral. Não tinha traje apropriado e mesmo que o tivesse, ninguém lhe tinha dito que o funeral seria no dia seguinte, porquê? perguntou a si próprio.
- Ontem telefonei para o Bouet e falei com o irmão do nosso Paul sobre o funeral, Tab - disse Valerie. - Mas sabes qual é a minha opinião? O Biüy Fielder nem sequer lhe deu o recado. Ora, já devia calcular, sendo o Billy como é. Deveria ter telefonado até apanhar o Paul, ou a mãe ou o pai. Mesmo assim, Taboo, ainda bem que trouxeste o Paul para nos fazer uma visita, porque agora ele já sabe.
Paul limpou as mãos às pernas das calças. Baixou a cabeça e arrastou os pés na areia da margem do lago. Pensou nas dezenas e dezenas de pessoas que assistiriam ao funeral de Guy Brouard e sentiu-se satisfeito por não lhe terem dito nada. Já era bastante desagradável sentir o que sentia em privado depois da morte do senhor Guy. Ter de o sentir em público seria de mais para as suas forças. Todos os olhos fixos nele, todas as interrogações não formuladas, todas as vozes a murmurar, é o jovem Paul Fielder, o amigo especial do senhor Guy. E os olhares que acompanhariam essas palavras - amigo especial -, sobrancelhas levantadas, olhos semicerrados mostrando a Paul que algo mais do que só as palavras estava a ser dito por essas pessoas.
Ergueu o rosto para ver se Valerie tinha a testa franzida. Mas não, e sentiu os ombros descontraírem-se-lhe. Sentia-os tão tensos desde a sua fuga de Moulin dês Niaux que já lhe começavam a doer. Mas agora parecia que as pinças que lhe apertavam as omoplatas se tinham por fim aberto.
- Sairemos amanhã às onze e meia - disse Valerie, mas dessa vez falou com Paul. - Podes vir comigo e com o Kev, querido. Não te preocupes com a roupa. Olha, trouxe-te uma camisa. E é para ti. O Kev diz que tem mais duas iguais e não precisa de três. Quanto às calças... - Observou-as, pensativa. Paul sentiu uma queimadura em cada lugar do corpo em que os olhos dela poisaram. - As do Kev não te servem. Perdias-te dentro delas. Mas creio que um par das do senhor Brouard... Olha, não deves preocupar-te em vestir uma coisa do senhor Brouard, querido. Ele gostaria que o fizesses se precisasses. Ele gostava muito de ti, Paul. Mas Isso sabes tu. Não importa o que disse, ou fez... gostava muito... - Tropeçava nas palavras.
Paul sentiu o desgosto dela como uma corrente que retirava dele o que ele desejava conter. Desviou os olhos de Valerie para os três patos sobreviventes e perguntou a si próprio como se iriam todos arranjar sem o senhor Guy para os unir, para os encaminhar e para saberem o que haveriam de fazer a partir dali.
Ouviu Valerie assoar o nariz e voltou-se para ela. Ela esboçou um sorriso trêmulo.
- Bom, queríamos que fosses, mas se preferes não ir, não precisas sentir remorsos. Os funerais não são para todos e, por vezes, o melhor é lembrarmo-nos dos vivos vivendo simplesmente. Mas, de qualquer forma, a camisa é tua. Tens de ficar com ela. - Olhou em seu redor em busca de um local limpo para a poisar. - Pronto, fica aqui - disse quando avistou a mochila que Paul tinha deixado no chão. Fez um gesto para guardar a camisa lá dentro.
Paul gritou, arrancou-lhe a camisa das mãos e deitou-a fora. Taboo ladrou zangado.
- Ora essa, Paul - disse Valerie surpreendida -, eu não tinha intenção... Não é uma camisa velha, filho. É mesmo...
Paul arrebatou-lhe a mochila. Olhou para a esquerda e para a direita. A única fuga possível era por onde tinha vindo e a fuga era essencial.
Desatou a correr pelo caminho, com Taboo nos calcanhares a ladrar aflitivamente. Paul sentiu um soluço escapar-se-lhe dos lábios quando saiu do caminho do lago para o relvado que rodeava a casa grande. Apercebeu-se de que estava muito cansado para correr. Parecia-lhe que toda a sua vida correra.
Capítulo 4
RUTH BROUARD ASSISTIU À FUGA DO RAPAZ. ESTAVA NO ESCRITÓRIO DE Guy quando Paul saiu do túnel de verdura que marcava a entrada para os lagos. Abria um monte de cartões de condolências que haviam chegado no correio do dia anterior e ela não tivera coragem de abrir até àquele momento quando, primeiro, ouvira o ladrar do cão e depois viu o rapaz a correr pelo relvado. Logo a seguir surgiu Valerie Duffy, com a camisa que levara a Paul, oferta rejeitada que pendia tristemente das mãos de uma mãe, cujos filhos tinham abandonado o ninho muito antes de ela estar preparada para tal.
Deveria ter tido mais filhos, pensou Ruth ao ver Valerie voltar a casa. Havia mulheres que nasciam com uma sede de maternidade impossível de saciar e Valerie Duffy parecia ser uma delas.
Ruth deixou-se ficar com os olhos fixos em Valerie até esta desaparecer pela porta da cozinha, que ficava por baixo do escritório de Guy, onde Ruth se encontrava desde o pequeno-almoço. Era agora o único local em que se sentia próxima dele, rodeada pelas provas que lhe diziam, como que a desafiar a sua terrível morte, que Guy Brouard levara uma boa vida. Essas provas enchiam o escritório do irmão: nas paredes, nas estantes e sobre um pequeno aparador havia certificados, fotografias, prêmios, plantas e documentos. A correspondência estava arquivada bem como as recomendações para os dignos destinatários da famosa generosidade dos Brouard. No lugar de honra aquilo que deveria ser a jóia da coroa dos feitos do irmão: uma maqueta cuidadosamente construída do edifício que Guy prometera à ilha que se tinha tornado a sua pátria. Seria um monumento ao sofrimento dos seus habitantes, dizia Guy. Um monumento construído por alguém que também tinha sofrido. Pelo menos fora essa a sua intenção, pensou Ruth.
A princípio não se preocupara ao ver que Guy não voltava do seu banho matinal. Na verdade sempre fora pontual e previsível nos seus hábitos, mas quando ao descer as escadas não o encontrou já vestido na sala do pequeno-almoço a ouvir atentamente a Radio News enquanto esperava para comer, concluiu que provavelmente teria passado pela casa dos Duffy e tomado café com Valerie e Kevin depois do banho. De vez em quando fazia-o. Gostava muito deles. Foi por isso que, depois de reflectir um momento, Ruth levou o café e a toranja para a saleta de onde telefonou para a casa de pedra no limite da propriedade.
Foi Valerie quem atendeu. Não, disse a Ruth, o senhor Brouard não estava. Não o via desde manhã cedo, desde que ele passara para ir nadar. Porquê? Ainda não tinha regressado? Provavelmente estaria algures na propriedade... talvez entre as esculturas? Dissera a Kev que as queria mudar. Aquela enorme cabeça humana no jardim tropical? Talvez tentasse decidir onde a iria colocar, pois a cabeça era certamente uma das peças que o senhor Brouard desejava mudar. Não, Kev não estava com ele, Miss Brouard. Kev estava ali sentado na cozinha.
A princípio Ruth não entrou em pânico. Pelo contrário, dirigiu-se à casa de banho do irmão, onde ele teria mudado de roupa depois de ter feito o seu exercício habitual, deixando aí o fato de banho e o fato de treino. Mas nenhuma das peças de roupa se encontrava lá. Nem a toalha húmida que lhe provaria o seu regresso.
Foi assim que começou a sentir no peito um aperto de inquietação. Recordou-se então do que vira da janela ao olhar para o irmão, quando este se dirigia para a baía: a silhueta que se destacara das árvores à passagem de Guy junto à casa dos Duffy.
Voltou então a telefonar para eles. Kevin concordou em partir para a baía.
Voltou a correr mas não passou lá por casa. Só quando a ambulância apareceu no fim do caminho é que a veio buscar.
E assim começara o pesadelo. Piorara à medida que as horas passavam. A princípio pensou que ele tivera um ataque de coração, mas quando não a deixaram acompanhar o irmão ao hospital, quando disseram que ela teria de ir atrás da ambulância no carro que Kevin Duffy conduziu em silêncio, quando levaram Guy sem deixarem que ela o visse, soube que algo de terrível alterara o decurso das coisas.
Tinha esperanças de que se tratasse de um ataque de coração. Pelo menos ainda estaria vivo. Mas, por fim, vieram dizer-lhe que ele estava morto e fora então que lhe haviam explicado as circunstâncias. Dessa explicação surgira o pesadelo: Guy debatendo-se assustado e agonizante, completamente só.
Teria preferido acreditar que um acidente havia levado a vida do irmão. O facto de saber que ele tinha sido assassinado, cortara-lhe o espírito em dois e reduzira-a a viver como a encarnação de uma única palavra: porquê? E depois: quem? Mas esse território já seria perigoso.
A vida ensinara Guy que tinha de tomar dela aquilo de que precisava. Nada lhe seria oferecido. Mas, mais do que uma vez, tomara sem ter em consideração se aquilo que queria seria de facto o que deveria ter. Os resultados tinham feito sofrer outras pessoas: as suas mulheres, os filhos, os sócios, os seus... outros.
Não podes continuar assim sem acabares por destruir alguém, dissera-lhe ela. E eu não posso estar a teu lado e permitir que o faças.
Mas ele rira com ternura e beijara-lhe a testa. A senhora directora Brouard, chamava-lhe ele. Dás-me reguadas se eu não obedecer?
A dor voltou. Paralisava-lhe a coluna como se lhe tivessem enfiado pela nuca um espeto metálico e tão gelado que o frio horrível mais parecia fogo, enviando os seus tentáculos, quais serpentes da doença, que a obrigaram a sair da sala em busca de alívio.
Não estava sozinha em casa, mas era assim que se sentia e, se não se encontrasse nas garras daquele terrível cancro, poderia ter soltado uma gargalhada. Tinha sessenta e seis anos e fora arrancada demasiado cedo ao casulo que o amor do irmão lhe havia proporcionado. Quem iria pensar que tudo terminaria assim, naquela noite em que a mãe lhe murmurara, "Promets-moi de ne pás pleurer, mon petit chat. Sois fort pour Guy. "1
Queria manter a promessa que fizera à mãe havia mais de sessenta anos. Mas com aquilo que actualmente tinha de suportar, não via qualquer meio de ser forte.
Havia apenas cinco minutos que Margaret Chamberlain se encontrava na presença do filho e já ardia de desejos de lhe dar ordens: endireita-te, por amor de Deus; quando falas com as pessoas, olha para elas1 "Promete-me que não vais chorar, minha gatinha. Sé forte pelo Guy.
"1 Em francês n° original. [N. da T. ]
Directamente, Adrian; por favor não atires com as minhas malas dessa maneira; cuidado com a bicicleta, querido; por favor, faz pisca quando quiseres voltar, amor. Contudo, conseguiu conter o seu dilúvio de ordens. Dos seus quatro filhos, era o mais amado e o mais exasperante - facto que atribuía à paternidade, diferente da dos outros rapazes - mas, como ele acabava de perder o pai, decidiu ignorar o menos irritante dos seus hábitos. Por enquanto.
Ele fora ter com ela àquilo que fazia de sala de chegadas do aeroporto de Guernsey. Ela aparecera empurrando um carrinho com as malas amontoadas e encontrara-o junto do balcão de aluguer de automóveis, onde trabalhava uma jovem ruiva com quem ele deveria estar a conversar se fosse um homem normal. Mas preferia fingir que estava a estudar um mapa, perdendo mais uma oportunidade que a vida tinha colocado diante dele.
Margaret suspirou.
- Adrian - disse. - Adrian! - repetiu quando ele não lhe respondeu.
Ele ouviu-a da segunda vez e ergueu os olhos do mapa que devolveu discretamente ao balcão. A ruiva perguntou se o senhor desejava alguma coisa, mas ele não respondeu. Nem sequer olhou para ela. Ela repetiu a pergunta. Ele ergueu a gola do casaco e voltou-lhe as costas em vez de responder.
- O carro está lá fora - disse à mãe à laia de cumprimento, enquanto retirava as malas do carrinho.
- E que tal se perguntasses à tua mãe se tinha feito boa viagem? sugeriu Margaret. - Porque não empurramos o carrinho até ao automóvel, querido? Não seria mais fácil?
Ele continuou a andar com as malas dela. Margaret limitou-se a segui-lo lançando um olhar desolado na direcção ao balcão, para o caso de a ruiva se ter apercebido das boas-vindas que recebera do filho. Depois foi atrás dele.
O aeroporto não passava de um simples edifício ao lado da única pista, no meio de campos baldios. Tinha um parque de estacionamento mais pequeno do que o da estação de caminho-de-ferro da cidade onde vivia em Inglaterra, por isso foi fácil seguir Adrian. Quando Margaret o apanhou, já ele atirava as suas duas malas para dentro do porta-bagagens de um Range Rover que, conforme ela rapidamente descobriu, era exactamente o veículo menos apropriado para percorrer as estradas serpenteantes de Guernsey.
Nunca tinha vindo à ilha. Ela e o pai de Adrian havia muito que se tinham divorciado quando ele se retirara de Chateaux Brouard para se estabelecer em Guernsey. Mas Adrian vinha visitar o pai inúmeras vezes e por isso não compreendia por que razão conduzia um carro do tamanho de um tanque quando era evidente que o mais adequado seria um Mini. O mesmo se passava com muitas coisas que o filho fazia, incluindo o ter terminado a única relação que conseguira ter com uma mulher, nos seus trinta e sete anos. Porque seria? interrogava-se Margaret. O filho limitara-se a dizer "desejamos coisas diferentes", coisa em que ela nem por um instante acreditou, pois sabia - depois de ter tido uma conversa muito confidencial com a jovem - que Carmel Fitzgerald queria casar-se He sabia também - depois de uma conversa muito confidencial com o filho que Adrian se considerava um felizardo por ter encontrado uma jovem, minimamente atraente e desejosa de se ligar a um homem quase de meia-idade, que nunca vivera senão em casa da mãe. Excepto, claro, durante os três horríveis meses em que vivera sozinho, quando tentara ir para a universidade... mas quanto menos pensasse nisso, melhor. Portanto, o que acontecera?
Margaret sabia que não podia fazer essa pergunta. Pelo menos naquela ocasião, em que se aproximava o funeral de Guy. Mas tencionava fazê-la em breve.
- Como está a pobre da tua tia Ruth, querido?
Adrian travou num semáforo, junto a um antigo hotel.
- Ainda não a vi.
- Como assim? Não sai do quarto?
Ele olhava para o semáforo com toda a atenção, aguardando que a luz verde surgisse.
- Quer dizer, vi-a, mas não a vi. Não sei como ela está. Ela não diz. Claro que ele nunca pensaria em perguntar-lhe. Tal como nunca pensaria em falar com a mãe senão por enigmas.
- Não foi ela que o encontrou, pois não? - perguntou Margaret.
- Acho que foi o Kevin Duffy. O caseiro.
- Deve estar arrasada. Viviam juntos há... bom, sempre viveram juntos, não é verdade?
- Não sei porque quiseste cá vir, mãe.
- Fui casada com o Guy, filho.
- Foi o primeiro dos teus quatro maridos - comentou Adrian. O rapaz estava a ser aborrecido. Margaret sabia muito bem quantas vezes se tinha casado. - Pensava que só se ia aos funerais dos maridos com quem ainda se estava casada.
- É um comentário muito grosseiro da tua parte, Adrian.
- Ah, sim? É verdade, não toleras a grosseria. Margaret voltou-se no assento para ficar voltada para ele.
- Porque te comportas assim?
- Assim, como?
- O Guy foi meu marido. Estive apaixonada por ele. Devo-lhe o facto de te ter como filho. Portanto tenciono assistir ao seu funeral, para honrar tudo isso.
Adrian sorriu com ar incrédulo e Margaret teve vontade de o esbofetear. O filho conhecia-a muito bem.
- Sempre pensaste que mentias melhor do que realmente mentes disse ele. - A tia Ruth pensou que eu fizesse alguma coisa de... hum... como hei-de dizer? Doentio? Ilegal? Uma completa loucura, se tu cá não estivesses? Ou será que ela pensa que já o fiz?
- Adrian, como podes sequer sugerir... nem por brincadeira...
- Não estou a brincar, mãe.
Margaret voltou-se para a janela, sem desejar ouvir mais exemplos dos tortuosos pensamentos do filho. O semáforo abriu e Adrian passou o cruzamento.
A estrada que seguiam estava ladeada de construções. Sob o céu sombrio, casas de betão do pós-guerra encontravam-se lado a lado com velhas casas vitorianas, vizinhas, por sua vez, de um ou outro hotel fechado por ser Inverno. Do lado sul da estrada, as zonas habitadas cediam o lugar a campos nus, onde se podiam avistar as quintas de pedra, tão características, com as suas caixas de madeira branca no limite das propriedades, onde noutras épocas do ano os donos depositariam as batatas novas ou as flores das estufas para vender.
- A tua tia telefonou-me, porque telefonou a toda a gente - disse por fim Margaret. - Francamente, estou surpreendida por não teres sido tu a telefonares-me.
- Não vem mais ninguém - disse Adrian daquele modo exasperante que tinha quando queria mudar de conversa. - Nem sequer a JoAna e as miúdas. bom... a JoAna percebo... quantas amantes teve o pai enquanto esteve casado com ela? Mas pensei que as miúdas viessem. Claro que não o podiam nem ver, mas pensei que ao fim e ao cabo a ganância sempre lhes pusesse o fogo no rabo. O testamento, sabes. Hão-de querer saber aquilo a que têm direito. Sem dúvida há-de ser uma boa maquia, se ele por acaso conseguiu sentir remorsos pelo que fez à mãe delas.
- Por favor, Adrian, não fales assim do teu pai. Como seu único filho e como homem que um dia se há-de casar e ter filhos que perpetuem o nome do Guy, acho que poderias...
- Mas elas não vêm - prosseguiu teimosamente Adrian, num tom ainda mais elevado, como se desejasse abafar a voz da mãe. - Mesmo assim, pensei que a Joana pudesse aparecer, nem que fosse para espetar uma estaca de madeira no coração do velho - Adrian sorriu, mais para consigo do que para a mãe. Não obstante aquele esgar causou um arrepio que percorreu o corpo de Margaret. Recordou-lhe os tempos maus do filho, quando este fingia que tudo ia bem enquanto dentro dele fervia uma guerra civil.
Sentia relutância em perguntar, mas uma relutância ainda maior em se manter na ignorância. Por isso, apanhou a mala do chão e fingiu procurar uma pastilha de mentol, enquanto dizia em tom desinteressado:
- Julgo que o ar do mar faz bem. Como tens passado as noites desde que cá estás, querido? Têm sido muito más?
Ele lançou-lhe um olhar.
- Não devias ter insistido para que eu fosse a essa merda de festa, mãe.
- Fui eu que insisti? - Margaret levou a mão ao peito.
- "Tens de ir, querido" - disse ele numa imitação espantosa da voz da mãe. - "Há que séculos que não o vês. Falaste com ele ao telefone desde Setembro? Não? Estás a ver? O teu pai ficará extremamente desapontado contigo se não fores." E isso não seria possível - disse Adrian. - Não se pode desapontar Guy Brouard quando ele quer uma coisa. Mas ele não queria. Não me queria aqui. Tu é que querias, foi o que ele me disse.
- Não, Adrian. Não é... espero... Tu... tu não discutiste com ele, pois não?
- Pensaste que ele mudaria de idéias a respeito do dinheiro se eu aparecesse para o ver no seu momento de glória, não é verdade? - perguntou Adrian. - Mostrava a minha fronha na sua estúpida festa e ele ficaria tão feliz por me ver que mudaria finalmente de idéias e financiaria o negócio. Era isso ou não era?
- Não sei de que estás a falar.
- Não estás a sugerir que ele não te disse que se recusava a financiar o negócio, pois não? Setembro passado? A nossa pequena... discussão?
106
"Não tens potencial suficiente para o êxito, Adrian. Desculpa, filho, mas não gosto de atirar dinheiro fora." Apesar dos baldes de dinheiro que distribuía por outros lados, claro.
- O teu pai disse isso? Que não tinhas potencial?
- Entre outras coisas. A idéia é boa, disse-me. O acesso à Internet pode sempre melhorar-se e parece ser esse o modo de o fazer. Mas com o teu currículo, Adrian... não que tenhas de facto um currículo, o que significa que teremos de examinar todas as razões por que não o tens.
Margaret sentiu o fel da ofensa expandir-se lentamente dentro dela.
- Ele disse mesmo... Como se atreveu?
- "Puxa uma cadeira filho, sim, vem cá. Tiveste as tuas dificuldades, não é verdade? Aquele incidente no jardim do director quando tinhas doze anos? E quando abandonaste a universidade aos dezanove? Não é exactamente o que se espera de um indivíduo em quem se vai investir, filho."
- Ele disse-te isso? Foi buscar essas coisas? Querido, lamento muito - disse Margaret. - Até tenho vontade de chorar. E mesmo assim, tu vieste? Concordaste em vir ter com ele? Porquê?
- Obviamente, porque sou completamente estúpido.
- Não digas isso.
- Pensei que poderia tentar de novo, pensei que se tudo corresse bem a Carmel e eu pudéssemos... sei lá... tentar de novo. Pensei que valesse a pena vir vê-lo e ouvir o que ele queria propor-me. Achei que poderia ser bom se pudesse arranjar as coisas com a Carmel.
Mantivera os olhos atentos na estrada enquanto fizera aquela confissão e Margaret sentiu uma onda de amor pelo filho apesar de todas as suas características que muitas vezes a enfureciam. Lembrou-se que a vida dele fora muito mais difícil do que a dos seus meios-irmãos e que parte da culpa também era dela. Se ela tivesse permitido que ele passasse mais tempo com o pai, sempre que Guy o desejara, o exigira, tentara... Claro que fora impossível. Mas se o tivesse permitido, se tivesse arriscado, talvez que as coisas tivessem sido mais fáceis para Adrian. Talvez ela tivesse agora menos remorsos.
- Então voltaste a falar com ele de dinheiro? Nesta visita, querido? perguntou ela. - Pediste-lhe que te ajudasse no teu novo negócio?
- Não tive oportunidade. Não consegui apanhá-lo sozinho, sempre com a tal mamalhuda pendurada nele, sem deixar que ele gastasse um centavo do dinheiro que queria para ela.
- A tal quê?
- A última. Vais conhecê-la.
- Não pode ser...
Adrian soltou uma exclamação de desprezo.
- Havias de ver. Sempre à volta dele, lançando-lhe as mamas à cara para o caso de ele começar a pensar nalguma coisa que não se relacionasse directamente com ela. Era uma bela distracção, por isso nunca conversámos. Depois já era muito tarde.
Margaret ainda não tinha perguntado, porque não quisera extrair
a informação a Ruth que, ao telefone, já parecia sofrer o suficiente. E não quisera perguntar ao filho logo à chegada, porque precisara de sondar o seu estado de espírito. Mas agora que ele lhe dera uma boa deixa, aproveitou-a.
- Como foi exactamente que o teu pai morreu? Entravam agora numa zona arborizada da ilha, onde um alto muro de pedra coberto de trepadeiras ladeava a estrada a oeste, enquanto, do lado oriental, cresciam frondosos bosques de sicómoros, castanheiros e ulmeiros, entre os quais, ao longe e à luz invernal se avistava o canal da Mancha, com um brilho de aço. Margaret não conseguia imaginar como poderia alguém querer lá tomar banho.
A princípio, Adrian não respondeu à pergunta. Esperou até terem passado diante de uns campos cultivados e abrandou para travar junto a um muro onde se abriam dois portões de ferro. Uma placa de azulejo identificava a propriedade como sendo Lê Reposoir e ele meteu o carro pelo caminho que conduzia a uma casa impressionante: quatro andares de pedra cinzenta cobertos pelo que parecia ser um mirante talvez inspirado na visão que um anterior proprietário tivesse dos encantos da Nova Inglaterra. Por baixo desta varanda em balaustrada havia trapeiras e por baixo destas a fachada da casa era perfeitamente equilibrada. Sem se surpreender, Margaret viu que Guy tinha conseguido uma reforma confortável. Para chegar ao edifício, o caminho saía do túnel de árvores e dava a volta ao relvado, no centro do qual se encontrava uma impressionante escultura de bronze representando um rapaz e uma rapariga a nadarem com golfinhos. Adrian deu a volta a este círculo e parou o Range Rover junto aos degraus que levavam à porta branca. Esta estava fechada e assim ficou até ele ter, por fim, respondido à pergunta de Margaret.
- Morreu sufocado - disse Adrian. - Na baía.
Margaret ficou intrigada. Ruth dissera-lhe que o irmão não regressara do seu banho matinal, que tinha sido agredido na praia e assassinado.
Mas sufocar até à morte não implicava de modo algum um crime. Ser sufocado sim, claro, mas não tinham sido essas as palavras de Adrian.
- Sufocado? - perguntou Margaret. - Mas a Ruth disse-me que o teu pai tinha sido assassinado. - E por uns instantes pensou que a cunhada lhe tinha mentido para conseguir trazê-la à ilha por uma qualquer razão obscura.
- Foi assassinado, sim - disse Adrian. - Ninguém sufoca por acidente... ou normalmente... com aquilo que estava alojado na garganta do pai.
Capítulo 5
Este é o último lugar onde eu pensava ter de entrar. Cherokee River deteve-se um instante a observar o sinal giratório diante da New Scotland Yard. Ergueu os olhos desde as letras prateadas até ao edifício propriamente dito com as suas guaritas protectoras, os seus guardas de uniforme e o seu ar de sombria autoridade.
- Não tenho a certeza de que nos vá servir para alguma coisa admitiu Deborah. - Mas julgo que vale a pena tentar.
Eram quase dez e meia e a chuva tinha finalmente começado a acalmar. Aquilo que fora uma forte bátega quando haviam saído para a embaixada americana era agora uma chuvinha gelada e persistente, da qual se abrigaram debaixo de um dos enormes guarda-chuvas negros de Simon.
A visita à embaixada tinha começado bem. Apesar do estado desesperado da situação da irmã, Cherokee não perdera nada daquele espírito prático que Deborah se recordava ser típico da maioria dos americanos que conhecera na Califórnia. Era um cidadão dos Estados Unidos numa missão à embaixada do seu país. Como contribuinte, concluíra que, uma vez que tivesse entrado na embaixada e apresentado os factos, seriam feitos telefonemas e a libertação de China processar-se-ia imediatamente.
A princípio a confiança de Cherokee no poder da sua embaixada pareceu perfeitamente fundamentada. Depois de lhes terem explicado onde deveriam dirigir-se - à Secção de Serviços Especiais do Consulado, cuja entrada não era nem pelas impressionantes portas, nem sob a impressionante bandeira de Grosvenor Square, mas sim à esquina, na muito mais modesta Brooke Street - deram o nome de Cherokee na recepção e um telefonema para os interiores da embaixada trouxe-lhes uma resposta rápida e gratificante. Nem mesmo Cherokee esperara ser recebido pela chefe dos Serviços Consulares Especiais. Talvez levado à presença de um subalterno, mas nunca recebido pessoalmente na própria recepção. Mas fora exactamente o que acontecera. A consulesa Rachel Freistat - "Ms, por favor", dissera, dando-lhes um forte aperto de mão, destinado a tranqüilizá-los - entrou a passos largos na enorme sala de espera e conduziu Deborah e Cherokee ao seu gabinete, onde lhes ofereceu café e bolachas e insistiu para que se sentassem junto do aquecedor eléctrico para secarem. Não tardaram a constatar que Rachel Freistat estava ao corrente de tudo. Nas vinte e quatro horas que se tinham seguido à prisão de China, a polícia de Guernsey informara-a pelo telefone. Explicou que aquilo fazia parte do regulamento, era um acordo existente entre as nações que tinham assinado o Tratado de Haia. Falara até com a própria China ao telefone e perguntara-lhe se ela desejava que alguém da embaixada lhe fosse prestar apoio na ilha.
- Disse que não precisava - informou-os a consulesa. - De contrário teríamos enviado alguém imediatamente.
- Mas ela precisa - protestou Cherokee. - Está a ser cilindrada e sabe-o. De contrário, porque teria dito... - Passou a mão pelos cabelos e resmungou. - Não percebo nada.
Rachel Freistat acenou com a cabeça, mostrando a sua solidariedade, mas a sua expressão reflectia já antes ter ouvido a expressão "ser cilindrado".
- Estamos limitados àquilo que podemos fazer, senhor River. A sua irmã sabe-o perfeitamente. Temos estado em contacto com o advogado dela que nos garantiu ter estado presente em todas as entrevistas dela com a polícia. Estamos dispostos a fazer todas as chamadas telefônicas para os Estados Unidos que a sua irmã deseje fazer, embora ela tenha dito especificamente não as querer fazer neste momento. E, se a imprensa norte-americana quiser seguir a história, também nos encarregaremos de responder às suas perguntas. A imprensa de Guernsey já está a cobrir os acontecimentos, mas não têm grande espaço de manobra devido ao seu relativo isolamento e falta de fundos, portanto, pouco mais podem fazer do que publicar os parcos pormenores que a polícia lhes fornece.
- Exactamente - protestou Cherokee. - A polícia está a fazer os possíveis para a incriminar.
Ms Freistat sorveu então um gole de café. Olhou para Cherokee por cima da chávena. Deborah viu que ela estava a pesar as diferentes alternativas para lhes dar más notícias e que não se apressava a tomar a decisão.
- Receio que a embaixada americana não o possa ajudar nesse aspecto - disse-lhe por fim. - Embora possa ser verdade, não podemos interferir. Se acredita que a sua irmã está a ser pressionada e que a querem manter na prisão, então deve arranjar ajuda imediatamente. Mas tem de ser dentro do próprio sistema deles, não do nosso.
- Que significa isso? - perguntou Cherokee.
- Talvez uma espécie de investigador privado... - replicou Ms. Freistat.
E assim deixaram a embaixada, sem terem conseguido obter a alegria que esperavam. Passaram a hora seguinte a descobrir que encontrar um investigador privado em Guernsey era o mesmo que encontrar sorvete no deserto do Sara. Chegados a essa conclusão atravessaram a cidade até Victoria Street onde se encontravam agora, diante da New Scotland Yard, com o seu betão cinzento e vidro a destacarem-se no coração de Westminster.
Apressaram-se a entrar e a sacudir o guarda-chuva sobre o tapete de borracha. Deborah deixou Cherokee a olhar para a chama eterna enquanto foi fazer o seu pedido à recepção.
- Queríamos falar com o superintendente interino Lynley. Não temos hora marcada, mas se ele estiver e nos puder receber... Deborah St. James?
Havia dois polícias de uniforme atrás do balcão e ambos examinaram Deborah e Cherokee com uma intensidade que sugeria a certeza de que ambos vinham carregados de explosivos. Um deles fez um telefonema, enquanto o outro recebia um estafeta do Federal Express.
Deborah esperou até que o que estava ao telefone lhe disse: "Só um instante" e depois voltou-se para Cherokee, que perguntou: "Achas que servirá de alguma coisa?"
- Não há outra maneira de saber - replicou. - Mas temos de tentar fazer alguma coisa.
Cinco minutos depois, Tommy veio recebê-los em pessoa, o que Deborah considerou ser bom sinal.
- Olá, Deb, que surpresa! - disse, beijando-a na face e esperou para ser apresentado a Cherokee.
Nunca se tinham conhecido. Apesar das vezes que Tommy tinha ido à Califórnia enquanto Deborah lá vivera, o seu caminho e o do irmão de China nunca se haviam cruzado. Naturalmente que Tommy ouvira falar dele. Ouvira o nome e seria pouco provável que o tivesse esquecido, tão invulgar era quando comparado com os nomes ingleses. Por isso, quando Deborah disse, "Este é o Cherokee River", ele respondeu, "O irmão da China", e estendeu-lhe a mão daquele modo tão próprio de Tommy, sempre tão à vontade.
- Andas a mostrar-lhe a cidade? - perguntou a Deborah. - Ou queres que ele veja que tens amigos em locais pouco recomendáveis?
- Nem uma coisa nem outra. Podemos falar contigo? Em particular? Se tiveres tempo. A visita é... muito profissional.
Tommy ergueu uma sobrancelha.
- Estou a ver - disse e conduziu-os imediatamente ao elevador que os levou a um dos andares superiores onde ficava o seu gabinete.
Como superintendente interino não estava no seu lugar habitual. Instalara-se num gabinete provisório enquanto o seu oficial superior convalescia de uma tentativa de assassínio à sua pessoa no mês anterior.
- E como está o superintendente? - perguntou Deborah, reparando que Tommy, bondoso como era, não substituíra por nenhuma das suas uma única fotografia que pertencesse ao superintendente Malcolm Webberly.
Tommy abanou a cabeça.
- Nada bem.
- É horrível!
- Para todos. - Pediu-lhes que se sentassem, inclinando-se com os cotovelos sobre os joelhos. Aquela postura fazia a pergunta, "O que posso fazer por vocês?" E recordou a Deborah que ele era um homem ocupado.
Começou então a contar-lhe porque tinham vindo e Cherokee acrescentava os pormenores salientes que achava necessários. Tommy escutou-os como Deborah sabia ser seu costume. Os seus olhos castanhos mantinham-se fixos em quem falava e parecia desligar todos os outros ruídos dos escritórios vizinhos.
- Até que ponto é que a sua irmã veio a conhecer o senhor Brouard enquanto foram seus hóspedes? - perguntou Tommy depois de Cherokee ter completado a sua história.
- Passaram algum tempo juntos. Deram-se bem porque gostavam ambos de edifícios. Tanto quanto sei, não passou disso. Era simpático com ela, mas era simpático comigo também. Parecia ser encantador para toda a gente.
- Talvez não - comentou Tommy.
- Claro. É óbvio. Se alguém o matou...
- Como foi exactamente que ele morreu?
- Sufocou até à morte. Foi o que o advogado descobriu assim que a China foi acusada. A propósito, o advogado não descobriu mais nada.
- Quer dizer estrangulado?
- Não. Sufocado. Sufocou com uma pedra.
- Uma pedra? - exclamou Tommy. - Valha-me Deus. Que espécie de pedra? Uma pedra da praia?
- É tudo o que sabemos agora. Que é uma pedra e que ele sufocou com ela. Ou antes, que a minha irmã conseguiu sufocá-lo com ela, já que foi presa porque o matou.
- Como vês, Tommy - acrescentou Deborah -, não faz sentido.
- Mas como é que a China pode tê-lo sufocado com a pedra? - perguntou Cherokee. - Como é que alguém poderá tê-lo sufocado com a pedra. O que é que ele fez? Abriu a boca e deixou que alguém lha enfiasse pela garganta abaixo?
- É uma questão que precisa de ser esclarecida - concordou Lynley.
- Até poderia ter sido um acidente - disse Cherokee. - Ele podia ter posto a pedra na boca por qualquer razão.
- Se a polícia fez uma prisão tem de haver provas - disse Tommy. Se uma pessoa lhe enfiou a pedra pela garganta, deve ter-lhe rasgado o céu da boca, possivelmente a língua. Ao passo que se a tivesse engolido por acidente... Sim, estou a ver como podem ter concluído imediatamente que foi crime.
- Mas porquê acusarem logo a China? - perguntou Deborah.
- Tem de haver outras provas, Deb.
- A minha irmã não matou ninguém! - exclamou Cherokee enquanto se levantava. Inquieto, dirigiu-se à janela e voltou-se repentinamente para eles. - Porque é que não vêem isso?
- Podes fazer alguma coisa? - perguntou Deborah a Tommy. - A embaixada sugeriu que contratássemos alguém, mas eu pensei que tu pudesses... Não lhes podes telefonar? À polícia? Fazê-los ver... Isto é, obviamente não estão a avaliar tudo como deviam. Precisam de alguém que lhes diga isso.
Tommy juntou os dedos, pensativo.
- Não é uma situação do Reino Unido, Deb. É verdade que a polícia de Guernsey faz aqui o seu treino e também é verdade que podem pedir ajuda mútua. Mas começar uma coisa deste lado... Se é isso que esperam, não é possível.
- Mas... - Deborah estendeu a mão, sabendo que estava quase a implorar, o que considerava perfeitamente patético. Então baixou-a para o colo. - Talvez se eles pelo menos soubessem que havia um interesse deste lado...
Tommy observou o rosto dela antes de sorrir.
- Tu não mudas, pois não? - perguntou com ternura. - Muito bem. Espera aí. Vamos ver o que posso fazer.
Precisou apenas de alguns minutos para encontrar o número certo em Guernsey e localizar o investigador encarregado do inquérito. O assassínio era tão invulgar na ilha que bastou que Tommy dissesse a palavra para que fizessem a ligação e o pusessem em contacto com o investigador principal.
Mas nada ganhou com o telefonema. A New Scotland Yard não impressionava ninguém em St. Peter Port e quando Tommy explicou quem era e porque estava a telefonar, oferecendo qualquer ajuda que a Polícia Metropolitana pudesse fornecer, disseram-lhe, e ele repetiu-o a Deborah e a Cherokee momentos depois de desligar, que tudo estava sob controlo no canal da Mancha, meu superintendente. E, a propósito, se a ajuda fosse necessária, a polícia faria o pedido de ajuda mútua à polícia da Comualha ou do Devon, como era habitual.
"Sentimos alguma preocupação, pois prenderam uma estrangeira" - disse Tommy.
Ora então, não seria uma coisa engraçada se a polícia de Guernsey também fosse capaz de tratar desse assunto?
- Lamento - disse a Deborah e a Cherokee quando terminou o telefonema.
- Então que diabo vamos nós fazer? - Cherokee falava mais para si próprio do que para os outros.
- Terão de encontrar alguém que esteja disposto a falar com as pessoas envolvidas - disse Tommy como resposta. - Se um dos elementos do meu grupo estivesse aí de licença ou de férias, sugeria que lhe pedissem que investigasse. Podem fazê-lo por vossa conta, mas ajudava se fossem apoiados pela força policial.
- O que é preciso fazer? - perguntou Deborah.
- É preciso começar a fazer perguntas para ver se escapou alguma testemunha - declarou Tommy. - É preciso descobrir se esse Brouard tinha inimigos: quantos, quem são, onde vivem, onde estavam quando ele foi morto. Precisam de alguém que avalie as provas. Acreditem que a polícia de lá tem alguém a fazê-lo. E vocês precisam de ter a certeza de que nenhuma prova foi descurada.
- Não há ninguém em Guernsey - disse Cherokee. - Já tentámos, a Debs e eu. Fizemo-lo antes de virmos falar consigo.
- Então pensem noutro lugar que não seja Guernsey. - Tommy lançou um olhar a Deborah, e ela soube o significado daquele olhar.
Já tinham acesso à pessoa de que precisavam.
Mas ela não pediria ajuda ao marido. Este estava demasiado ocupado e mesmo que não fosse o caso, Deborah tinha a sensação de que a sua vida fora definida por inúmeros momentos em que pedira a ajuda de Simon; a partir dos tempos longínquos em que o seu senhor St. James - com dezanove anos e um bem desenvolvido sentido de justiça - assustara de morte os colegas que a atormentavam na escola, até ao presente em que, como sua mulher, dava cabo da paciência de um marido que só desejava vê-la feliz. Não poderia, de modo algum, sobrecarregá-lo com aquilo.
Então ela e Cherokee tratariam do caso sozinhos. Devia-o a China, mas mais do que isso, devia-o a si própria.
Pela primeira vez um raio de sol, com a força de um chá de jasmim, atacou um dos dois pratos da balança da justiça, quando Deborah e Cherokee chegaram ao Old Bailey. Nenhum deles trazia consigo uma mochila ou mala de qualquer tipo, por isso foi fácil entrarem. Algumas perguntas ofereceram-lhes a resposta que procuravam: Sala de Audiências Número Três.
A galeria dos visitantes ficava lá em cima e estava ocupada apenas por três turistas fora de estação, cobertos por impermeáveis transparentes e por uma mulher que amarfanhava um lenço. Lá em baixo, na sala de audiências, representava-se uma espécie de drama de época. Havia o juiz - de toga vermelha e impressionante com os seus óculos de aros de metal e cabeleira cujos caracóis de ovelha lhe chegavam às costas sentado numa cadeira de couro verde, uma das cinco existentes na parte mais alta da sala, sobre um estrado que o separava dos seus inferiores. Estes eram os advogados vestidos de negro - de defesa e acusação instalados no primeiro banco que formava um ângulo recto com a secretária do juiz. Atrás deles ficavam os seus associados, os advogados menos experimentados e os estagiários. Em frente estava instalado o júri, com o escrivão no meio, que parecia ir arbitrar o que ia acontecer na sala. O banco dos réus ficava justamente por baixo da galeria e era aí que estava sentado o acusado com um oficial do tribunal. Em frente ficava o banco das testemunhas e foi para lá que Deborah e Cherokee dirigiram as suas atenções.
O Procurador acabara de concluir o contra-interrogatório do senhor Allcourt. -St. James, especialista da defesa. Referia-se a um documento de muitas páginas e o facto de ele tratar Simon por senhor e senhor Allcourt-St. James, por favor, não escondia o facto de que duvidava da opinião de quem quer que não concordasse com a polícia e portanto com as conclusões dos serviços da Procuradoria.
- O senhor Allcourt-St. James parece sugerir que o trabalho realizado pelo laboratório do senhor French não foi suficiente - dizia o procurador quando Deborah e Cherokee se sentaram num banco na parte da frente da galeria.
- De modo algum - replicou Simon. - Sugiro apenas que a quantidade de resíduo retirada da pele do réu podia facilmente corresponder à sua profissão de jardineiro.
- Então também sugere que seja uma coincidência que o senhor Casey - e apontou para o homem no banco dos réus, cujo pescoço Deborah e Cherokee podiam observar da galeria - tivesse na sua pessoa vestígios da mesma substância usada para envenenar Constance Garibaldi?
- Como o aldrine é utilizado para a eliminação de insectos de jardim e o crime ocorreu no pico da época, quando esses mesmos insectos são mais virulentos, tenho de dizer que os vestígios desse insecticida na pele do réu são facilmente justificáveis pela sua profissão.
- Não obstante o seu eterno diferendo com a senhora Garibaldi?
- Exactamente.
O procurador ainda prosseguiu mais uns minutos, referindo-se aos seus apontamentos e consultando um colega instalado num dos bancos da fila de trás. Por fim despediu Simon com um "muito obrigado, senhor" que o libertou do banco das testemunhas, já que a defesa nada mais queria da sua parte. Começou a descer e foi então que avistou Deborah e Cherokee lá em cima na galeria.
Reuniram-se à entrada da sala de audiências e ele perguntou:
- Então o que aconteceu? Os americanos ajudaram?
Deborah contou-lhe o que tinham sabido da parte de Rachel Freistat na embaixada.
- O Tommy também não nos pode ajudar, Simon - acrescentou. - Por causa da jurisdição. E mesmo que isso não fosse um problema, e se fosse preciso, a polícia de Guernsey pediria ajuda à da Comualha ou à do Devon. Não pedem a Londres. Tive até a impressão... não tiveste também, Cherokee?... de que eles ficaram aborrecidos só de Tommy mencionar a idéia de ajuda.
Simon acenou afirmativamente, puxando pensativo pelo queixo. À volta deles prosseguia o movimento do tribunal criminal, com os funcionários a passarem de um lado para o outro carregados de documentos e os advogados passeando com as cabeças juntas, planeando o movimento seguinte nos seus julgamentos.
Deborah observou a expressão do marido. Viu que ele procurava uma solução para os problemas de Cherokee e sentiu-se grata por isso. Poderia ter dito facilmente: "Então pronto. Tem de deixar correr as coisas e esperar o resultado na ilha." Mas não era esse o seu hábito. Mesmo assim, ela queria garantir-lhe que não tinham vindo ao Old Bailey para lhe causarem mais problemas. Tinham vindo, isso sim, para lhe comunicarem que tencionavam partir para Guernsey logo que Deborah tivesse a possibilidade de ir a casa buscar umas roupas.
Foi o que ela lhe disse e pensou que ele lhe ficaria grato. Mas enganava-se.
St. James chegou rapidamente a uma conclusão enquanto a mulher lhe relatava as suas intenções: qualificava a idéia de completamente lunática. Mas não iria dizê-lo a Deborah. Ela era honesta e bem-intencionada e, mais do que isso, estava preocupada com a sua amiga da Califórnia. Havia ainda que pensar naquele homem.
St. James oferecera abrigo e comida a Cherokee River com todo o prazer. Era o menos que podia fazer pelo irmão da rapariga que fora a melhor amiga da mulher enquanto esta estivera na América. Mas era uma coisa muito diferente o facto de Deborah pensar que ia brincar aos detectives com um homem relativamente desconhecido ou com qualquer outra pessoa. Acabariam ambos por ter graves problemas com a polícia. Ou pior ainda, se por acaso tropeçassem no verdadeiro assassino de Guy Brouard.
Sentindo que não poderia desiludir Deborah daquela maneira brutal, St. James tentou arranjar uma maneira de meramente a dissuadir. Conduziu Deborah e Cherokee a um local onde os três se pudessem sentar e perguntou a Deborah.
- Que esperas poder fazer lá?
- O Tommy sugeriu...
- Eu sei o que ele disse. Mas como tu própria já descobriste não há investigadores privados em Guernsey para Cherokee contratar.
- Bem sei, e é por isso que eu...
- Por isso, a menos que arranjes um em Londres, não sei o que a tua ida para Guemsey vai adiantar. A menos que lá queiras ir oferecer o teu apoio a China. Claro que isso é perfeitamente natural.
Deborah apertou os lábios. Ele sabia o que ela estava a pensar. Era demasiado razoável e lógico, demasiado cientista numa situação em que os sentimentos faziam falta. Não só sentimentos, mas também acção imediata, por muito mal planeada que fosse.
- Não estou a pensar contratarmos um investigador privado, Simon disse ela em tom inflexível. - Pelo menos de princípio. Cherokee e eu vamos ter com o advogado da China, vamos ver as provas que a polícia recolheu. Vamos falar com quem estiver disposto a falar connosco. Não somos da polícia, por isso as pessoas não terão medo de se encontrar connosco e se alguém souber de alguma coisa... se a polícia tiver deixado passar alguma coisa... Vamos descobrir a verdade.
- A China está inocente - acrescentou Cherokee. - A verdade... está lá, algures. E a China precisa...
- Isso significa que há um culpado - interrompeu St. James. - O que torna a situação invulgarmente delicada e igualmente perigosa. - Não acrescentou o que queria acrescentar neste ponto. Proíbo-te que vás. Não viviam no século XVIII. De todos os modos Deborah era uma mulher independente. Não financeiramente, claro. Poderia impedi-la apertando os cordões à bolsa, ou fazendo o que quer que fosse que se costuma fazer para cortar os fundos a uma mulher. Mas gostava de pensar que estava acima dessas maquinações. Sempre acreditara que a razão podia ser mais eficaz que a intimidação. - Como localizarás as pessoas com quem queres falar?
- Suponho que haja listas telefônicas em Guernsey - respondeu Deborah.
- O que quero dizer é, como saberás com quem terás de falar? - perguntou St. James.
- O Cherokee sabe, e a China também. Estiveram em casa do Brouard. Conheceram outras pessoas. Dir-me-ão os nomes.
- Mas porque quererão essas pessoas falar com o Cherokee? Ou contigo, assim que souberem da tua ligação com a China?
- Não o saberão.
- Achas que a polícia não lhes dirá? E mesmo que falem contigo... e também com o Cherokee... e mesmo que consigas resolver essa parte da questão, que farás com o resto?
- Que...
- As provas? Como estás a pensar avaliá-las? E como as reconhecerás se encontrares outras?
- Detesto quando tu te pões... - Deborah voltou-se para Cherokee.
- Deixas-nos um momento sozinhos?
Cherokee olhou primeiro para ela e depois para St. James.
- Isto está a dar muita confusão. Já fizeste bastante. A embaixada, a Scotland Yard. Deixa-me voltar para Guernsey e eu...
Deborah interrompeu-o firmemente.
- Dá-nos só um momento, por favor.
Cherokee olhou primeiro para o marido, depois para a mulher e, a seguir, novamente para o marido. Parecia inclinado a falar de novo, mas nada disse. Afastou-se para inspeccionar a lista de julgamentos que estava presa num painel.
Furiosa, Deborah voltou-se para St. James.
- Porque estás a fazer isto?
- Só quero que vejas...
- Consideras-me uma incompetente, não é verdade?
- Não, Deborah, não é verdade.
- Sou incapaz de conversar com algumas pessoas que podem até estar dispostas a contar qualquer coisa que não tenham contado à polícia. Qualquer coisa que possa fazer diferença. Qualquer coisa que tira a China da cadeia.
- Deborah, não quero que penses...
- Trata-se da minha amiga - insistiu ela em voz baixa e impetuosa.
- E tenciono ajudá-la. Ela estava lá, Simon. Na Califórnia. Foi a única pessoa... - Deborah deteve-se. Olhou para o tecto e abanou a cabeça como se aquilo sacudisse não só a emoção mas também as recordações.
St. James sabia o que ela recordava. Não precisava de um mapa para ver como Deborah viajara até ao seu destino. China estivera junto a si como amiga e confidente durante os anos que ele lhe tinha faltado. Sem dúvida também lá tinha estado quando Deborah se apaixonara por Tommy Lynley e talvez tivesse chorado com Deborah durante o rescaldo desse amor.
Sabia de tudo isso mas, nesse momento, sentia-se incapaz de o mencionar, tal como não conseguiria despir-se em público para exibir a sua doença. Por isso disse:
- Meu amor, escuta. Sei que queres ajudar.
- Ah, sabes? - perguntou ela amargamente.
- Claro que sim. Mas não podes percorrer as estradas de Guernsey só porque queres ajudar. Não tens experiência e...
- Ora muito obrigada.
- e a polícia não vai cooperar de maneira alguma. E precisas dessa cooperação, Deborah. Se eles não divulgarem as provas, não terás maneira de saber verdadeiramente se China está de facto inocente.
- Meu Deus! Como podes pensar que ela é uma assassina?
- Eu não penso nada, nem uma coisa nem outra. Não estou afectivamente implicado. E é disso exactamente que tu precisas. De alguém que também não esteja implicado.
Mal pronunciou estas palavras compreendeu que se tinha comprometido. Ela não lho tinha pedido e certamente não lho iria pedir agora após aquela conversa. Mas ele viu que seria a única solução.
Ela precisava da sua ajuda e ele passara metade da sua vida a estender a mão a Deborah, mesmo que ela não o solicitasse.
Capítulo 6
PAUL FIELDER CHEGOU ao SEU REFÚGIO DEPOIS DE FUGIR A VALERIE DUFFY. Deixou as ferramentas onde estavam. Sabia que aquilo não estava bem, porque o senhor Guy lhe explicara que um bom operário não deixava espalhado o seu material e deveria ter cuidado com ele, mas disse para consigo que regressaria quando Valerie não o pudesse ver. Esgueirar-se-ia pelo outro lado da casa, o lado que não ficava junto à cozinha, recolheria as ferramentas e arrumá-las-ia nos estábulos. Se fosse seguro, poderia até trabalhar no abrigo. E iria até ao cemitério dos patos ver se os pequenos talhões ainda estavam marcados pelos seus pequenos círculos de pedras e conchas. Sabia que teria de fazer tudo aquilo antes que Kevin Duffy encontrasse as ferramentas. Kevin não ficaria nada satisfeito se as encontrasse em cima das ervas húmidas, das canas e da relva que rodeava o lago.
Paul não foi muito longe na sua fuga. Deu a volta à frontaria da casa e meteu-se no bosque que ficava a oriente do caminho. Aí lançou-se pelo atalho pedregoso coberto de folhas, que ficava por baixo das árvores, entre os rododendros e fetos, e seguiu-o até chegar à segunda bifurcação à direita. Aqui, encostou a velha bicicleta ao tronco musgoso de um velho sicómoro, o que restava de uma árvore derrubada por uma tempestade e aí abandonada para se tornar a habitação dos animaizinhos do bosque. A partir daquele ponto, o caminho era difícil de atravessar de bicicleta, por isso ajustou a mochila aos ombros e deu início à caminhada com Taboo a seu lado, satisfeito por poder sair numa aventura matinal em vez de aguardar pacientemente como de costume, preso ao antigo menir que ficava por trás do muro no fim do pátio da escola, com uma tigela de água ao lado e uma mão-cheía de biscoitos para se agüentar até que Paul o fosse buscar no final do dia.
O destino de Paul era um dos segredos que tinha partilhado com o senhor Guy. Acho que já nos conhecemos suficientemente bem para uma coisa especial, dissera-lhe o senhor Guy da primeira vez que levara Paul àquele local. Se quiseres - se julgas que estás pronto - tenho uma maneira de selarmos a nossa amizade, meu Príncipe.
Era assim que tratava Paul: meu Príncipe. Claro que não fora logo no princípio, só mais tarde, depois de se conhecerem melhor, quando lhes pareceu que partilhavam uma espécie de afinidade pouco comum. Não que fossem parentes ou que Paul alguma vez pensasse que o pudessem ser. Mas existira entre eles uma camaradagem e da primeira vez que o senhor Guy lhe chamou meu Príncipe, Paul teve a certeza de que também ele sentia essa camaradagem.
Por isso tinha acenado afirmativamente. Estava preparado para selar aquela amizade com aquele homem importante que tinha entrado na sua vida. Também não estava certo do que significava selar a amizade, mas o seu coração parecia sempre prestes a rebentar quando estava com o senhor Guy e as palavras deste também indicavam que o coração dele estava prestes a rebentar. Assim, fosse o que fosse que aquilo significasse, havia de ser bom. Paul tinha a certeza.
Um lugar de espíritos, era como o senhor Guy chamava àquele lugar. Era um cômoro, como que uma taça voltada ao contrário sobre a terra, coberta de relva, com um carreiro liso a rodeá-la.
O lugar dos espíritos ficava por trás do bosque, depois de um muro de pedra seca no meio de um prado onde as dóceis vacas de Guernsey antigamente pastavam. Estava cheio de ervas daninhas e rodeado de silvas e fetos porque o senhor Guy não tinha vacas para comerem os arbustos e as estufas que poderiam ter substituído o gado já haviam sido desmontadas e levadas dali quando o senhor Guy comprara a propriedade.
Seguido por Taboo, Paul subiu ao muro e deixou-se cair no carreiro que passava no outro lado e que atravessava os fetos até cômoro propriamente dito. Aí tomaram outro carreiro que dava a volta à elevação, dirigindo-se para sudoeste. Ali, nos tempos antigos, explicara-lhe uma vez o senhor Guy, o sol tinha queimado mais e durante mais tempo.
Do outro lado do cômoro havia uma porta de madeira de construção recente. Estava fixa em ombreiras de pedra encimadas por um lintel também de pedra; um cadeado de segredo metido num anel de ferro conservava a porta bem fechada.
Levei vários meses a encontrar um caminho até cá dentro, dissera-lhe o senhor Guy. Sabia o que era. Não era difícil. Para que outra coisa existiria um cômoro de terra no meio de um prado? Mas encontrar-lhe a entrada... Foi o diabo, Paul. Havia detritos amontoados - silvas, arbustos, essas coisas - e as pedras da entrada há muito que estavam ocultas. Mesmo quando localizei as primeiras debaixo da terra, que marcavam a diferença entre a entrada e as pedras de apoio dentro do cômoro... levei meses, meu Príncipe. Levei meses. Mas valeu a pena, acho eu. Acabei por ficar com um refúgio especial e acredita, Paul, todos os homens precisam de um refúgio especial.
Quando o senhor Guy decidiu partilhar o seu refúgio especial, Paul pestanejou de surpresa. Sentiu na garganta um nó de felicidade. Sorrira como um tonto, mas o senhor Guy percebera o que aquilo significava.
Dezanove, três, vinte e sete, quinze, dissera-lhe. Consegues decorar? É assim que se entra lá. Só dou esta combinação a amigos especiais, Paul.
Paul guardara religiosamente na memória aqueles números e usava-os agora. Meteu o cadeado no bolso e abriu a porta que pouco mais tinha que um metro e vinte de altura, por isso retirou a mochila e agarrou-a junto ao peito para ter mais espaço. Baixou a cabeça para passar pelo lintel e entrou.
Taboo imitou-o, mas fez uma pausa, farejou o ar e rosnou. Lá dentro estava escuro - o interior estava apenas iluminado pelo raio de luz anêmica que entrava pela porta - e embora o refúgio especial tivesse estado fechado a cadeado, Paul hesitou ao ver que o cão parecia não querer entrar. Sabia que havia espíritos na ilha: fantasmas dos mortos, parentes das bruxas e das fadas que viviam nas sebes e nos ribeiros. Por isso, embora não receasse a presença de um humano dentro do cômoro, poderia existir qualquer outra coisa.
Taboo não tinha este tipo de receios em relação ao mundo dos espíritos. Aventurou-se a entrar, farejando as pedras do chão, desaparecendo na galeria interior, dirigindo-se velozmente ao centro da estrutura, onde o cimo do cômoro permitia que um homem permanecesse de pé. Por fim, regressou abanando a cauda para junto de Paul que ainda hesitava à entrada.
Paul inclinou-se e encostou o rosto ao pêlo encaracolado do cão. Taboo lambeu-lhe o rosto e recuou três passos latindo, o que queria dizer que pensava que estavam ali para brincar, mas Paul cocou-lhe as orelhas, fechou a porta e internaram-se na escuridão daquele local silencioso.
Conhecia-o suficientemente bem para encontrar o caminho, agarrando a mochila contra o peito com uma mão e passando a outra pela húmida parede de pedra, enquanto se dirigia para o centro do cômoro. O senhor Guy dissera-lhe que aquele era o local de maior significado: tratava-se de uma cripta onde o homem pré-histórico colocava os seus mortos para os enviar para a sua viagem final. Chamava-se dólmen e tinha até um altar - embora a Paul aquilo parecesse uma pedra velha erguida a uns centímetros do chão - e uma câmara secundária onde se realizavam os rituais religiosos sobre cuja natureza apenas podiam especular.
Paul escutara, observara e tremera de frio da primeira vez que viera àquele refúgio especial. E quando o senhor Guy acendera as velas que colocara numa concavidade ao lado do altar, vira que Paul tremia e tratara do assunto.
Levara-o para a câmara secundária que tinha a forma de duas mãos em taça e à qual se acedia passando com dificuldade por detrás de uma pedra erguida semelhante a uma imagem de igreja, com motivos gravados à superfície. Nesta segunda câmara, o senhor Guy tinha uma cama de campismo desmontável. Tinha cobertores e uma almofada, velas e uma pequena caixa de madeira.
Algumas vezes venho aqui para pensar, dissera-lhe. Para estar só e para meditar. Também meditas, Paul? Sabes fazer o espírito descansar? Tudo em branco? Até que não haja mais que tu, Deus e o mundo? Não? Talvez possamos praticar um pouco juntos, tu e eu, aqui. Pega neste cobertor e deixa-me mostrar-te as coisas.
Refúgios secretos, pensou Paul. Refúgios especiais para partilhar com amigos especiais. Ou refúgios para se estar só, quando era preciso estar só. Como agora.
Mesmo assim, Paul nunca ali tinha vindo sozinho. Aquela fora a primeira vez.
Entrou cuidadosamente na parte central do dólmen, tacteando o seu caminho até à pedra do altar. Como uma toupeira passou as mãos pela superfície lisa até chegar à concavidade e às velas. Dentro desta concavidade das velas estava também guardada uma lata de rebuçados de mentol e lá dentro os fósforos protegidos da humidade. Paul retirou-os de lá. Poisou a mochila e acendeu a primeira vela, fixando-a com cera ao altar de pedra.
com aquele raio de luz, sentiu-se menos ansioso por estar sozinho naquele local húmido e sombrio. Olhou para as velhas paredes de granito e observou o tecto curvo e o chão picado. É incrível aquilo que os homens antigos conseguissem construir uma estrutura assim, dissera o senhor Guy. Pensamos ser muito melhores que os nossos antepassados da Idade da Pedra, Paul, com os nossos telemóveis, computadores e outras coisas que tais. Informações instantâneas que ficam bem com tudo o resto tudo o que é instantâneo. Mas olha para isto, meu Príncipe, olha para este local. O que construímos nós nos últimos cem anos que possamos ter a certeza que ficará de pé daqui a outros cem, hem? Nada, é isso. Olha para esta pedra, Paul...
E ele olhara. A mão do senhor Guy, quente, pousada sobre os seus ombros, enquanto, com os dedos da outra mão, o seu protector tocava as marcas que várias mãos antes das suas tinham gasto a pedra que guardava a segunda alcova, onde o senhor Guy tinha uma cama de campismo e cobertores. Paul foi até lá, com a mochila na mão. Esgueirou-se por trás da sentinela de pedra, depois de acender outra vela e, com Taboo nos calcanhares, colocou a mochila no chão e a vela na caixa de madeira onde a cera derretida marcava o local de dezenas de velas ali colocadas antes. Agarrou num dos cobertores para Taboo, dobrou-o num quadrado do tamanho do cão e poisou-o no chão frio. O cão saltou para cima agradecido e deu três voltas para o examinar antes de se acomodar sobre ele com um suspiro. Baixou a cabeça sobre as patas e fixou em Paul uns olhos temos.
Este cão pensa que te quero fazer mal, meu Príncipe.
Mas não. Taboo era mesmo assim. Sabia o papel importante que representava na vida do dono - único amigo, único companheiro até o senhor Guy ter aparecido - e, conhecendo o seu papel, gostava que Paul soubesse que ele o conhecia. Como não lho podia dizer, observava-o. Todos os movimentos, em todos os instantes, durante todos os dias.
Quando estavam juntos, Paul também observara o senhor Guy dessa mesma maneira. E ao contrário das outras pessoas da vida de Paul, o senhor Guy nunca se preocupara com o olhar fixo de Paul. Achas interessante, não é verdade? Perguntava-lhe se se barbeava quando estavam juntos. E nunca troçara do facto de Paul - apesar da sua idade ainda não precisar de se barbear. De que tamanho devo deixar a barba? Perguntava quando Paul o acompanhava ao barbeiro em St. Peter Fort. Cuidado com a tesoura, Hal. Como podes ver, tenho o meu homem a vigiar-te os movimentos. E piscava o olho a Paul para lhe fazer o sinal que significava Amigos até à Morte: os dedos da mão direita cruzados e poisados na palma da mão esquerda.
Até à Morte tinha chegado.
Paul sentia os olhos marejados de lágrimas e deixou-as correr. Não estava em casa. Não estava na escola. Podia dar livre curso ao seu desgosto, por isso chorou tudo o que lhe apeteceu, até lhe doer o estômago e sentir as pálpebras a arder. E à luz das velas, o fiel Taboo olhava-o amorosamente, aceitando toda aquela tristeza.
Depois de ter chorado, Paul apercebeu-se que tinha de se recordar das coisas boas que o senhor Guy lhe tinha ensinado: tudo o que aprendera na sua companhia, tudo o que começara a dar valor e tudo o que fora encorajado a acreditar. O nosso objectivo tem de ser maior do que viver simplesmente, dissera-lhe várias vezes amigo. O nosso objectivo deve ser esclarecer o passado para dar sentido ao futuro.
Em parte, o esclarecer do passado ia realizar-se com o museu. com esse fim passara longas horas em companhia do senhor Ouseley e do pai. com eles e com o senhor Guy, Paul aprendera o significado dos objectos de que poderia ter desdenhado, deitando-os fora: uma fivela de um cinto encontrada nos campos de Fort Doyle, escondida entre as ervas daninhas e enterrada durante décadas até uma tempestade ter limpo a terra de cima de um rochedo; um farol inútil numa venda de velharias; uma medalha ferrugenta; botões, um prato sujo. A ilha é um verdadeiro cemitério, dissera-lhe o senhor Guy. Vamos fazer umas exumações. Queres ajudar? A resposta fora fácil. Ele queria tomar parte em tudo aquilo de que o senhor Guy tomasse parte.
Por isso integrara-se no trabalho do museu com o senhor Guy e o senhor Ouseley. Onde quer que fosse, na ilha, mantinha os olhos abertos de modo a poder contribuir para a enorme colecção.
Por fim, encontrara uma coisa. Percorrera de bicicleta todo o caminho para sudoeste até La Congrelle, onde os nazis tinham construído uma das mais feias torres de observação: uma estrutura futurista de betão com frestas para as armas antiaéreas que deitavam abaixo tudo o que se aproximasse da costa. Não fora em busca de nada relacionado com os cinco anos de ocupação alemã, mas sim para dar uma olhadela a um carro que recentemente se tinha despenhado do rochedo.
La Congrelle era uma das poucas falésias da ilha, onde se podia chegar de automóvel. Para chegar a outras era necessário deixar o carro num parque de estacionamento a alguma distância, mas em La Congrelle podia-se chegar até à beira. Era um óptimo local para um suicídio que se quisesse disfarçar de acidente, pois no final da estrada vinda da Rue de Ia Trigale até ao canal da Mancha, bastava voltar à direita e acelerar nos últimos cinqüenta metros, por entre os silvados e atravessando a erva até à beira da falésia. Uma última pisadela no acelerador no momento em que a terra desaparecia diante do capo e o carro descolaria mergulhando nos rochedos às cambalhotas, até se deter numa barreira irregular de granito, explodir já dentro de água ou incendiar-se.
O carro que Paul fora ver tinha-se incendiado. Pouco mais restava dele do que metal retorcido e um assento enegrecido, afinal uma desilusão depois de um longo passeio de bicicleta ao vento. Se tivesse havido mais alguma coisa, Paul teria feito a perigosa descida só para o examinar. Como não havia, preferiu explorar a zona da torre de observação.
Pelo aspecto das pedras e da natureza do terreno, apercebeu-se de que, recentemente, tinha havido um desmoronamento e muitas rochas se tinham deslocado. As pedras postas a nu não tinham sinais de vegetação e os bocados de rocha que tinham caído dentro de água não estavam cobertas de guano enquanto, outros blocos de gneisse, mais antigos, estavam cheios dele.
Tratava-se de um local muito perigoso e Paul, nado e criado na ilha, sabia-o perfeitamente. Mas aprendera com o senhor Guy que quando a terra se abria ao homem, havia segredos que surgiam por vezes à luz do dia. Foi por isso que se pôs à procura.
Deixou Taboo no cimo do rochedo e seguiu um caminho deixado pelo trilho das pedras que tinham caído. Teve o cuidado de se firmar num bocado fixo de granito sempre que mexia os pés e foi deste modo que atravessou lentamente a face do rochedo descendo como um caranguejo em busca de uma fenda onde se esconder.
Encontrou-o a meio da descida, incrustado de tal maneira em meio século de solo, lama seca e calhaus que a princípio pensou tratar-se apenas de uma pedra em forma de elipse. Mas, quando conseguiu desprendê-lo com o pé, viu o brilho do que lhe pareceu ser metal a marcar uma curva que surgia de dentro do próprio objecto. Foi por isso que o apanhou.
Não podia examiná-lo ali, a meio do rochedo, por isso levou-o preso por baixo do queixo até lá cima. Aí, com Taboo a farejar ansiosamente o objecto, usou primeiro o canivete e depois os dedos para revelar o que a terra tinha guardado em segredo durante tantos anos.
Quem poderia saber como tinha vindo ali parar? Os nazis não se tinham preocupado em limpar a porcaria que tinham feito depois de se saber que tinham perdido a guerra e que nunca conseguiriam invadir a Inglaterra. Tinham-se rendido simplesmente e, como outros invasores derrotados que já antes haviam ocupado a ilha, deixaram para trás o que não lhes convinha levar.
Assim, perto de uma torre de observação, outrora ocupada por soldados, não admirava que continuasse a haver detritos enterrados. E se esses detritos não pertenciam a ninguém em particular, é certo que os nazis os teriam utilizado, se os Aliados, ou os homens da Resistência tivessem desembarcado com êxito.
Agora, na semiobscuridade do refúgio especial que ele e o senhor Guy haviam partilhado, Paul estendeu a mão para pegar na mochila. Tivera intenções de entregar orgulhosamente o seu achado ao senhor Ouseley no Moulin dês Niaux, como a sua primeira contribuição. Mas agora não o faria - nunca, depois do que se passara naquela manhã - de modo que o guardaria ali onde estaria em segurança.
Taboo ergueu a cabeça e viu Paul abrir os fechos da mochila. Meteu a mão lá dentro e retirou a velha toalha em que embrulhara o seu tesouro. Tal qual costumam fazer todos aqueles que buscam fragmentos de história, abriu o pano, para fazer uma última e arrebatada inspecção antes de o guardar em local seguro.
Provavelmente a granada de mão já não seria perigosa, pensou Paul. Os elementos tê-la-iam provavelmente desactivado muitos anos antes de ter ficado enterrada e o detonador que a faria explodir teria certamente enferrujado. Mesmo assim não era sensato andar com ela na mochila. Não era preciso que o senhor Guy ou qualquer outra pessoa lhe dissessem que a prudência sugeria que a guardasse num sítio onde ninguém a pudesse encontrar. Até decidir o que haveria de fazer com ela.
Dentro da câmara secundária do dólmen encontrava-se o esconderijo. Também fora o senhor Guy que lho mostrara: uma fissura natural entre duas pedras da parede do dólmen. Sem dúvida essa fissura não deveria ser de origem, dissera o senhor Guy, mas o tempo, as condições atmosféricas, os movimentos da terra... Nada feito pelo homem ultrapassa completamente a natureza.
O esconderijo ficava exactamente ao lado da cama de campismo e aos não iniciados pareceria ser uma simples fenda entre as pedras e mais nada. Mas metendo a mão lá dentro encontrava-se uma segunda fenda, ainda maior, por trás da pedra que ficava mais perto da cama de campismo e era neste esconderijo que eram guardados os segredos e tesouros demasiado preciosos para ficarem à vista.
Se te mostro isto, quer dizer alguma coisa, Paul. Alguma coisa maior do que as palavras. Alguma coisa maior que os pensamentos. Paul calculava que, no esconderijo, houvesse espaço suficiente para a granada. Já lá colocara a mão, conduzida pela mão do próprio senhor Guy e, com as suas palavras tranquilizadores Guy a soarem-lhe aos ouvidos: Agora não há nada lá dentro, não te ia pregar uma partida, Príncipe. Sabia por isso que havia lugar para um punho fechado, com uma mão por cima, e portanto espaço suficiente para uma granada ocupar. [; E a profundidade do esconderijo era mais do que suficiente. Paul não [tinha sido capaz de chegar ao fim, por mais que estendesse o braço. Empurrou para o lado a cama de campismo e colocou a caixa de madeira com a vela no meio do chão da galeria. Taboo ganiu com a alteração do ambiente, mas Paul deu-lhe uma pancadinha na cabeça e tocoul-lhe ternamente na ponta do nariz. Não tens de te preocupar, disse-lhe com aquele gesto. Aqui estamos em segurança. Só tu e eu é que conhecemos este lugar.
Agarrando cuidadosamente na granada, deitou-se no chão gelado. Fez deslizar o braço para dentro da fenda estreita. Depois da abertura Ilesta alargava-se vários centímetros e, embora não pudesse ver muito bem o interior, sabia onde se encontrava a segunda abertura, portanto não calculava que houvesse qualquer problema ao depositar ali a granada de mão. Mas havia um problema. A menos de dez centímetros dentro da fissura havia mais qualquer coisa. Sentiu os nós dos dedos tocarem numa coisa firme, imóvel e completamente inesperada. Paul soltou uma exclamação ofegante e retirou a mão, mas logo se apercebeu de que o que quer que fosse não poderia estar vivo, portanto não haveria razão para ter medo. Poisou cuidadosamente a granada sobre a cama e aproximou a vela da entrada da fissura. O problema era que não podia iluminar essa entrada e olhar lá para dentro ao mesmo tempo. Assim, retomou a posição anterior de barriga para baixo e fez deslizar a mão e depois o braço para o esconderijo. Os dedos encontraram qualquer coisa firme mas escorregadia. Era lisa, cilíndrica. Agarrou-a e começou a puxá-la Este é um esconderijo especial, um local de segredos e é agora o nosso segredo. Teu e meu. Sabes guardar segredos, Paul? Sabia, oh, se sabia. Então não sabia? Porque quando o puxou para si, paul compreendeu exactamente o que fora que o senhor Guy escondera no Centro do dólmen.
Afinal a ilha era uma paisagem de segredos e o próprio dólmen era um local secreto dentro de uma enorme paisagem de coisas enterradas, de coisas por dizer e de recordações que todos queriam esquecer. Paul não achou estranho que, no mais profundo das eras de uma terra que ainda podia oferecer medalhas, sabres, balas e outros objectos com mais de meio século, estivesse algures enterrada uma coisa ainda mais valiosa, uma coisa da época dos piratas ou ainda anterior, mas uma coisa preciosa. E o que retirava da fissura era a chave para a descoberta de uma coisa enterrada havia muito.
Encontrara o último presente do senhor Guy, que já lhe dera tanto.
- Énne rouelle dê faitot - respondeu Ruth Brouard à pergunta de Margaret Chamberlain. - Usa-se nos celeiros, Margaret.
Margaret pensou que a resposta era deliberadamente obtusa, típica de Ruth de quem nunca gostara especialmente, apesar de ter vivido com a irmã de Guy durante todo o tempo que durara o seu casamento com aquele homem. Ruth dependia demasiado do irmão e uma devoção tão grande entre irmãos parecia-lhe improvável. Parecia-lhe... pois bem, Margaret nem sequer queria pensar naquilo que lhe parecia. Sim, sabia que aqueles irmãos em particular - judeus como ela, mas judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial, o que, convenhamos, lhes permitia algumas excentricidades - tinham perdido todos os familiares às mãos dos nazis e sido assim forçados a ser tudo um para o outro desde a infância. Mas o facto de Ruth nunca ter tido vida própria em todos aqueles anos era não só questionável e pré-vitoriano, mas tornava-a também uma mulher incompleta aos olhos de Margaret, uma espécie de criatura inferior que vivera só metade da vida e, mesmo assim, na sombra.
Margaret resolveu ter paciência.
- Celeiros? - perguntou. - Não compreendo, querida. A pedra tinha de ser muito pequena, para ter ido parar à boca do Guy, não é verdade?
- Viu que a cunhada estremecera ao ouvir a pergunta, como se esta tivesse acordado nela as mais tristes fantasias do modo como Guy encontrara o seu fim: debatendo-se na praia, inutilmente agarrado à garganta. Pois bem, já não havia remédio. Margaret precisava de informações e estava disposta a obtê-las.
- Mas para que serviria num celeiro, Ruth?
Ruth ergueu os olhos do bordado em que estava ocupada quando Margaret a encontrara na saleta. Era um enorme pano de lona bem esticado num bastidor de madeira, colocado numa estante diante da qual Ruth estava sentada como um elfo de calças pretas e um casaco de malha muito largo e da mesma cor, que provavelmente pertencera a Guy. Os seus óculos redondos, tinham-lhe escorregado para o nariz e ela empurrava-os
- para o devido lugar com as suas mãos infantis.
- Não é usado dentro do celeiro - explicou ela. - Usa-se metido num porta-chaves com as chaves do celeiro. Pelo menos era usado para isso. Agora poucos celeiros há em Guernsey. Servia para guardar os celeiros das famílias das bruxas. Protecção, Margaret.
- Ah, então trata-se de um amuleto.
- Sim.
- Percebo.
Aquilo que Margaret pensou foi: Estes habitantes ridículos da ilha. Amuletos para as bruxas. Crendices para as fadas. Fantasmas no alto dos rochedos. Demônios à solta. Nunca consideraria o seu ex-marido homem de se deixar levar por aquelas coisas.
- Mostraram-te a pedra? Reconheceste-a? Pertencia ao Guy? Só pergunto porque não me parece coisa dele andar por aí com amuletos e coisas dessas. Pelo menos o Guy que eu conheci não era assim. Queria ter sorte nalgum dos seus empreendimentos?
com uma mulher foi aquilo que ela não acrescentou, embora ambas soubessem que a frase estava lá. À parte os negócios - nos quais Guy Brouard se saía como o Rei Midas e não precisava de sorte - o outro empreendimento em que sempre se envolvera fora a perseguição e conquista do sexo oposto, facto que Margaret ignorara até ter encontrado um par de calcinhas de mulher na pasta do marido, e que tinham sido lá metidas, por brincadeira, pela hospedeira do ar de Edimburgo com quem ele a enganava. O casamento terminou no preciso momento em que Margaret encontrou as calcinhas no lugar do livro de cheques que procurava. Nos dois anos seguintes o seu advogado e o de Guy tinham-se encontrado várias vezes para conseguirem um acordo que lhe financiasse o resto da vida.
- O único empreendimento em que ultimamente se envolveu foi o museu da guerra. - Ruth voltou a curvar-se sobre o bastidor do bordado trabalhando habilmente com a agulha sobre o desenho. - E não precisava de nenhum amuleto para isso. Tanto quanto sei, estava a correr tudo muito bem - ergueu os olhos enquanto metia de novo a agulha. - Ele falou-te do museu, Margaret? O Adrian contou-te?
Margaret não queria falar de Adrian nem com a cunhada nem com ninguém, por isso disse:
- Sim. Sim. O museu. Claro. Já sabia disso. Ruth esboçou um sorriso sonhador e terno.
- Estava incrivelmente orgulhoso por ser capaz de fazer uma coisa assim pela ilha. Uma coisa duradoura. Uma coisa bela, cheia de significado.
Ao contrário da sua vida, pensou Margaret. Não estava ali para escutar elogios a Guy Brouard, Patrono de Tudo e de Todos. Estava presente apenas para garantir que depois da sua morte, Guy Brouard se instituiria igualmente Patrono do Seu Único Filho Homem.
- E agora o que vai acontecer? - perguntou ela. - A esses planos?
- Suponho que tudo depende do testamento - replicou Ruth. Parecia cautelosa, demasiado cautelosa, pensou Margaret. - Do testamento do Guy, claro. De quem mais haveria de ser? De facto ainda não me reuni com o advogado dele.
- Porque não, minha querida? - perguntou Margaret.
- Talvez porque o facto de falar do testamento torna tudo mais real. Permanente. Estou a evitar isso.
- Preferes que seja eu a falar com o advogado... Se houver coisas a tratar, posso substituir-te com todo o prazer.
- Obrigada, Margaret. É muito simpático da tua parte, mas tenho de ser eu a tratar das coisas. Tenho... e tratarei. Em breve. Quando me parecer acertado fazê-lo.
- Sim - murmurou Margaret. - Claro. - Observou a cunhada a meter e tirar a agulha na lona e aprendê-la, o que indicava a conclusão momentânea do trabalho. Tentou parecer a encarnação da empatia, mas lá dentro estava desejando saber de que modo o seu ex-marido tinha distribuído a sua imensa fortuna. Queria saber exactamente de que modo ele se lembrara de Adrian. Isto porque embora enquanto vivo tivesse recusado ao filho o dinheiro que este precisava para abrir o negócio, a morte de Guy teria certamente de beneficiar Adrian de um modo diferente. E isso juntaria de novo Adrian e Carmel Fitzgerald. Assim, Adrian poder-se-ia casar e tornar-se um homem normal, levando uma vida normal, sem incidentes peculiares com que ela tivesse de se preocupar.
Ruth dirigira-se a uma pequena secretária de onde tirou uma delicada moldura. Dentro dela encontrava-se metade de um medalhão que Ruth observou longamente. Margaret viu que se tratava do aborrecido presente despedida que a Maman lhes tinha entregue na doca. Je vais conserver 1'autre moitié, mês chéris. Naus lê reconstituerons lorsque nous nous retrouverons1.
Sim, sim, queria dizer Margaret. Já sei que tens saudades dela, mas temos negócios a tratar.
- Quanto mais depressa melhor, minha querida - disse docemente Margaret. - Devias falar com ele. É muito importante.
Ruth poisou a moldura, mas continuou a olhar para ela.
- Se eu falar com ele as coisas não vão mudar - disse.
- Mas vão clarificar-se.
- Se é que precisam de ser clarificadas.
- Precisas de saber como ele queria... bom, quais eram os seus desejos. Precisas de saber isso. com uma fortuna tão grande como a dele é melhor estar prevenida, Ruth. Não tenho dúvidas que o advogado dele concordaria comigo. A propósito, esse advogado já te contactou? Afinal ele deve saber...
- Oh, sim. Claro que sabe.
Então quando? Pensou Margaret, mas disse suavemente:
- Percebo. Sim. bom. Logo se verá, minha querida. Quando estiveres preparada.
Margaret esperava que fosse em breve. Não queria ter de ficar naquela ilha mais tempo do que seria absolutamente necessário.
Ruth Brouard tinha uma certeza acerca da sua cunhada. A presença de Margaret em Lê Reposoir nada tinha a ver com o seu casamento falhado com Guy, com qualquer desgosto ou remorso que pudesse sentir em relação ao modo como ela e Guy se tinham separado, ou até com o respeito que poderia ter considerado apropriado mostrar pela terrível morte. O facto de nem sequer mostrar o mínimo interesse em saber quem tinha assassinado Guy, indicava qual a sua verdadeira paixão. Só pensava que o ex-marido tinha montes de dinheiro e queria também a sua parte. Se não para ela, pelo menos para Adrian.
1 "conservar a outra metade, meus queridos. Reconstituí-lo-emos assim que nos encontrarmos, " Em francês no original. [N. da T. ]
Cabra vingativa era como Guy lhe chamava. Tem uma colecção de médicos prontos a atestar que o filho era demasiado instável para sair de perto da maldita mãe, Ruth. Mas é ela que está a dar cabo do pobre rapaz. Da última vez que o vi, estava cheio de urticária. Urticária. com a idade dele. Meu Deus, ela é louca.
E assim fora, ano após ano, com as visitas nas férias interrompidas ou canceladas até que a única oportunidade que Guy tinha de ver o filho era na presença vigilante da ex-mulher. A maldita põe-se de guarda, dissera Guy raivoso. Provavelmente porque sabe que, se o não fizer, eu direi ao rapaz que largue as saias da mãe... Não se passa nada com ele. Nada que uns anos numa escola decente não pudessem tratar. E não falo num desses colégios em que os obrigam a tomar banhos gelados de manhã e aplicam castigos corporais. Falo de uma escola moderna onde ele tivesse aprendido auto-suficiência, coisa que não vai aprender enquanto estiver colado a ela como uma lapa.
Mas Guy nunca conseguira nada. Como resultado, o pobre Adrian era o que era hoje, um homem de trinta e sete anos, sem qualquer talento ou qualidade que o definissem. A menos que uma linha ininterrupta de fracassos em tudo, desde o desporto até às relações homem-mulher pudessem ser consideradas um talento. Esses fracassos podiam ser directamente atribuídos à relação de Adrian com a mãe. Não era preciso um curso de psicologia para se chegar a essa conclusão. Mas Margaret nunca o veria desse modo e muito menos aceitaria ter algum tipo de responsabilidade nos problemas do filho. Isso, meu Deus, nunca.
Margaret era exactamente assim. Não assumia responsabilidades. Era o estilo de pessoas que dizem: "não me interessa se tens problemas; trata deles pelos teus próprios meios.
Pobre Adrian, com aquela mãe. Não interessava que estivesse cheia de boas intenções pois conseguira sempre fazer-lhe muito mal.
Ruth observava-a agora, enquanto Margaret fingia admirar a única recordação que tinha da mãe, aquela metade de medalhão, para sempre dividido. Era uma mulher grande, loura, com o cabelo puxado para trás e óculos de sol - num dia cinzento de Dezembro? Que extraordinário! no alto da cabeça. Ruth não podia imaginar que o irmão tivesse sido casado com esta mulher. Nunca conseguira associar no seu espírito Margaret e Guy, imaginá-los como marido e mulher. Não no campo sexual, pois aí era a natureza que falava e pouco importava a estranheza do par que aqueles dois haviam formado. O que não conseguia conceber era a sua vida a dois, na plenitude da sua dimensão afectiva, a vida que imaginava - ela que nunca tivera o privilégio de a experimentar - ser o solo fértil em que se plantava a família e o futuro.
As coisas entre o irmão e Margaret provaram ser completamente inadequadas conforme Ruth previra. Se não tivessem produzido o pobre Adrian num raro momento em que se entenderam, teriam provavelmente seguido caminhos diferentes no fim do seu casamento, ela agradecida pelo dinheiro que conseguira obter das ruínas da sua relação, ele encantado por ter gasto o dinheiro desde que se livrasse do pior dos seus erros. Mas com Adrian formando parte da equação, Margaret não desaparecera na obscuridade. Porque Guy amara o filho, mesmo sentindo-se frustrado por causa dele, e a existência de Adrian fez da presença de Margaret uma dádiva imutável. Até um deles morrer: Guy ou a própria Margaret.
Mas era nisso que Ruth não queria pensar e de que não conseguia falar, embora soubesse que não poderia evitar indefinidamente o tópico.
Como se lhe tivesse lido o pensamento, Margaret poisou de novo o medalhão na secretária e disse:
- Ruth, minha querida, não consigo extrair dez palavras a Adrian sobre o que aconteceu. Não quero ser macabra, mas gostaria de perceber. O Guy que eu conheci não tinha um único inimigo nesta vida. bom, havia as suas mulheres, claro, e as mulheres não gostam de ser abandonadas. Mas mesmo que tivesse feito o costume...
- Por favor, Margaret - disse Ruth.
- Espera - apressou-se Margaret. - Não podemos simplesmente fingir, querida. Não é altura para isso. Ambas sabemos como ele era. Mas o que eu estou a dizer é que, mesmo quando uma mulher é posta de lado, raramente se vinga assim... percebes o que quero dizer. Então quem?... a menos que desta vez fosse uma mulher casada e o marido descobrisse... Embora o Guy evitasse normalmente essas situações. - Margaret brincava com um dos pesados fios de ouro que usava ao pescoço com um pendente. Uma pérola, irregular e enorme, uma excrescência leitosa que se alojava entre os seus seios como uma bola de purê de batata petrificado.
- Ele não tinha... - Ruth perguntou a si própria porque lhe seria tão difícil dizer. Conhecera o irmão. Soubera como ele era: a soma de tantas partes boas com outras inquietantes, obscuras. - Não havia nenhum caso. Nenhuma mulher foi abandonada.
- Mas não foi presa uma mulher, querida?
- Sim.
- E ela e o Guy não...
- Claro que não. Só cá estava há poucos dias. Não teve nada a ver com... nada.
Margaret baixou a cabeça e Ruth percebeu que ela estava a pensar. Bastavam algumas horas para Guy Brouard se envolver sexualmente com alguém. Margaret ia começar a falar do assunto. A expressão perspicaz do seu rosto era suficiente para comunicar que buscava um caminho que não se assemelhasse à curiosidade mórbida e à certeza de que o seu ex-marido, mulherengo como era, tinha por fim tido o que merecia, mas sim à compaixão por Ruth que perdera um irmão que amava mais que à própria vida. Porém Ruth foi salva daquela conversa. Uma pancada hesitante na porta da saleta e uma voz trêmula perguntou:
- Ruthie? Incomodo...
Ruth e Margaret voltaram-se e viram uma terceira mulher à porta e, atrás dela, uma adolescente escanzelada, muito alta e ainda pouco habituada à sua altura.
- Anais - disse Ruth. - Não te ouvi entrar.
- Usámos a nossa chave. - Anais ergueu-a, um simples objecto de metal, prova da sua existência na vida de Guy. - Espero que... Oh Ruth, não posso acreditar... ainda... não posso... - Começou a chorar.
A jovem que a seguia parecia pouco à vontade e limpava as mãos às pernas das calças. Ruth atravessou a sala e abraçou Anais Abbott.
- Podes usar a chave sempre que te apetecer. Teria sido esse o desejo de Guy.
Enquanto Anais lhe chorava no ombro, Ruth estendeu a mão para a jovem de quinze anos. Jemima esboçou um breve sorriso - ela e Ruth sempre se tinham dado bem -, mas não se aproximou. Olhou para Ruth, depois para Margaret e a seguir para a mãe e disse "Mãe" em voz baixa mas aflita. Jemima nunca gostara daquelas demonstrações. Ruth sempre a vira manifestar repugnância pela propensão de Anais para a exibição em público.
Margaret aclarou a garganta. Anais soltou-se dos braços de Ruth e retirou um pacote de lenços de papel do bolso do casaco do seu fato. Estava vestida de negro dos pés à cabeça, com um chapéu a cobrir-lhe o cabelo loiro-morango cuidadosamente arranjado.
Ruth fez as apresentações. Foi uma coisa constrangedora: a ex-mulher, a amante actual, a filha da amante actual. Anais e Margaret murmuravam cumprimentos educados e avaliaram-se uma à outra.
Não poderiam ser menos parecidas. Guy gostava de louras - sempre gostara -, mas à parte isso, as duas mulheres não partilhavam outras semelhanças, excepto talvez a sua origem, pois na verdade Guy também sempre gostara de mulheres vulgares. E pouco importava a educação, a maneira de vestir ou de estar, o modo como tinham aprendido a pronunciar as palavras, o sotaque do Mersey surgia de vez em quando em Anais Be o facto da mãe de Margaret ter sido mulher de limpeza notava-se na filha
no momento em que ela menos desejava que essa história fosse conhecida. Porém, à parte isso, eram como a noite do dia, Margaret alta, imponente, demasiado bem vestida e avassaladora; Anais uma espécie de pasBisarinho de uma magreza inquietante até pelos padrões modernos – à parte os seus seios notoriamente artificiais e extremamente voluptuosos. mas sempre vestida como alguém que nunca usava uma única peça de roupa sem a aprovação do espelho.
Naturalmente, Margaret não viera até Guernsey para conhecer e muito menos para consolar ou receber uma das muitas amantes do ex-marido. Assim, após ter murmurado um digno mas falso "muito prazer em conhecê-la" disse a Ruth.
- Depois falamos, querida. - Abraçou a cunhada, beijando-a em ambas as faces. - Querida Ruth. - Como se desejasse que Anais Abbott soubesse a partir daquele gesto pouco característico e levemente perturbador que uma delas tinha uma posição naquela família e a outra não. Depois partiu, deixando atrás de si o aroma do Chanel N." 5. Demasiado cedo para aquele perfume, pensou Ruth. Mas Margaret nunca o entenderia. - Devia ter estado com ele - disse Anais em voz baixa, assim que a porta se fechou nas costas de Margaret. - E queria estar, Ruthie. Desde que essa desgraça aconteceu que só penso que, se tivesse passado aqui a noite, teria ido à baía de manhã. Só para o ver. Porque era uma alegria vê-lo. E... Oh meu Deus, oh meu Deus, porque é que isto teve que acontecer?
A mim foi o que ela não acrescentou. Mas Ruth não era tola. Não tinha passado a vida a observar o modo como o irmão entrava e saía nos vários relacionamentos com as mulheres para ignorar em que ponto ele se encontrava no seu eterno jogo de sedução, desilusão e abandono. Guy estava prestes a acabar tudo com Anais Abbott quando morrera. Se esta não o soubera directamente, provavelmente tê-lo-ia sentido de uma maneira ou de outra.
- Vá, vem sentar-te - disse Ruth. - Queres que peça café à Valerie?
Jemima, apetece-te alguma coisa, minha querida?
- Tem alguma coisa que eu possa dar ao Biscuit? - perguntou Jemima, hesitante. - Está ali em frente. Não lhe dei de comer esta manhã e...
- Patinha, querida - interrompeu a mãe, mostrando ainda mais a sua reprovação ao usar o diminutivo de infância de Jemima. Aquelas duas palavras disseram tudo o que Anais não disse: as criancinhas preocupam-se com os seus cãezinhos. As jovens preocupam-se com rapazes. - O cão há-de sobreviver. Poderia até sobreviver muito bem se o tivéssemos deixado em casa onde devia estar. Foi o que eu te disse. Não podemos esperar que a Ruth...
- Desculpe. - Jemima pensou ter falado alto de mais diante de Ruth pois baixou a cabeça imediatamente e passou a mão pelas costuras das elegantes calças de lã. Não estava vestida como uma adolescente vulgar, coitadinha. Um curso de Verão numa escola de manequins em Londres, combinado com a vigilância da mãe - já para não falar na sua intromissão no armário da roupa da filha - tinha-se encarregado do assunto. Vestia, isso sim, como um modelo da Vogue. Mas apesar do tempo que passara a aprender como aplicar a maquilhagem, pentear o cabelo e andar na passarela, continuava a ser a desajeitada Jemima, Patinha para a família e para o mundo, tão pouco à vontade como uma dessas aves se sentiria lançada num ambiente em que lhe faltasse a água.
Ruth sentiu pena dela.
- Aquele cãozinho amoroso? - perguntou. - Provavelmente está desolado sem ti, Jemima. Queres trazê-lo cá para dentro?
- Que absurdo? - disse Anais. - Ele está bem. Pode ser surdo, mas não tem nada nos olhos nem no olfacto. Sabe perfeitamente onde está. Deixa-o lá.
- Sim. Claro. Mas talvez ele queira um pouco de carne picada? Há um resto de empadão do almoço de ontem. Jemima dá um pulo à cozinha e pede à Valerie que lhe dê um bocado. Podes aquecer no microondas se te apetecer.
Jemima ergueu a cabeça e a expressão do seu rosto adoçou o coração de Ruth mais do que ela esperava.
- Pode ser... - perguntou, olhando para a mãe.
Anais era suficientemente esperta para saber quando havia de ceder.
- Ruthie - disse -, é muito simpático da tua parte. Não queremos incomodar-te.
- Não incomodam nada - disse Ruth. - Vai lá, Jemima. As senhoras mais velhas precisam conversar.
Ruth não desejava que a expressão senhoras mais velhas fosse ofensiva, mas viu que tinha sido, assim que Jemima as deixou. com a idade que ela consentia em confessar - quarenta e seis anos -, Anais poderia ter sido filha de Ruth e era certo que o parecia. Fazia todos os esforços [por isso. Sabia melhor do que a maioria das mulheres que os homens mais velhos se sentiam atraídos pela juventude e beleza feminina, tal como a juventude e a beleza feminina se sentiam tantas vezes atraídas pela fonte que lhes fornecia os meios para se manterem. A idade não importava em qualquer dos casos. A aparência e os recursos significavam tudo. IContudo, falar da idade fora uma gafe. Mas Ruth nada fez para a corrigir. Estava de luto pelo irmão, por amor de Deus. Tinha desculpa. Anais dirigiu-se ao bastidor. Examinou o desenho do último quadrado.
- Este número é este? - Quinze, creio eu.
- Quantos te faltam?
- Tantos quantos forem precisos para contar toda a história.
- Toda? Até Guy... no fim? - Anais tinha os olhos vermelhos, mas não chorou mais. Pelo contrário, pareceu utilizar a sua pergunta para a
guiar até ao objectivo da sua visita a Lê Reposoir. - Agora tudo mudou,
Ruth. Estou preocupada. Tens quem tome conta de ti?
Por um momento Ruth pensou que ela estava a falar no cancro e
em como iria enfrentar a sua morte eminente.
- Julgo que me conseguirei arranjar.
Mas Anais fez-lhe outra pergunta que a fez compreender que ela não lhe vinha propor abrigo, cuidados ou apenas apoio para os meses seguintes.
-Já leste o testamento, Ruthie? - E como se lá no fundo soubesse que a pergunta era vulgar acrescentou: - Sabes se de certeza tomaram conta de ti?
Ruth disse à amante do irmão o mesmo que tinha dito a sua ex-mulher. Conseguiu transmitir-lhe a informação com dignidade apesar daquilo que queria dizer a respeito de quem deveria ou não deveria ter um especial interesse na distribuição da fortuna de Guy.
- Oh! - A voz de Anais reflectia a sua desilusão.
O não ter sido lido o testamento significava que ela não podia ter a certeza de se, quando, ou como, ia poder pagar os inúmeros caminhos que tinha seguido até ali para se manter jovem desde que conhecera Guy.
Provavelmente significava também que os lobos estavam dez passos mais próximos da imponente casa que ela e os filhos ocupavam na ponta norte da ilha perto da baía Lê Grand Havre. Ruth sempre suspeitara que Anais vivia muito acima das suas possibilidades, fosse ou não viúva de um financeiro - e, de qualquer forma, quem saberia o que significava a expressão: o meu marido era um financeiro naqueles tempos em que as acções nada valiam, uma semana depois de terem sido compradas e os mercados mundiais se apoiavam em areias movediças? Naturalmente poderia ter sido um mago financeiro capaz de fazer multiplicar o dinheiro das outras pessoas como pão diante dos esfomeados, ou um corretor de investimentos capaz de transformar cinco libras em cinco milhões se tivesse tempo, fé e recursos para tal. Mas, por outro lado, poderia não ter passado de um simples funcionário do Barclays cuja apólice de seguro de vida tinha permitido à sua inconsolável viúva mover-se em círculos mais elevados do que aqueles em que nascera e casara. Em qualquer dos casos, para conseguir entrada nesses círculos e movimentar-se dentro deles era preciso bastante dinheiro: para a casa, as roupas, o carro, as férias... já para não mencionar pequenos nadas como a comida. Assim, era bem provável que Anais Abbott se encontrasse actualmente em apuros. Fizera um investimento considerável na sua relação com Guy. Para que esse investimento produzisse dividendos, partira do princípio que Guy se manteria vivo e casaria com ela.
Embora Ruth sentisse alguma aversão por Anais Abbott devido ao plano que esta traçara, sabia que pelo menos em parte tinha de desculpar as suas maquinações. Guy levara-a de facto a acreditar na possibilidade de uma união entre eles. Uma união legal, de mãos dadas diante de um sacerdote ou uns minutos sorridentes e corados em Lê Greffe. Era razoável que Anais tivesse tirado algumas conclusões, pois Guy tinha sido generoso. Ruth sabia que fora ele que mandara Jemima para Londres e tinha também poucas dúvidas de que fora também ele a razão - financeira ou não - para que os seios de Anais se salientassem como dois melões firmes, perfeitos e simétricos num peito demasiado pequeno para os acomodar naturalmente. Mas estaria já tudo pago? Ou haveria contas altíssimas? Era essa a pergunta. No momento a seguir, Ruth recebeu a resposta.
- Sinto a falta dele, Ruth - disse Anais. - Ele era... eu amava-o, sabes, não é verdade? Sabes como eu o amava, não é verdade?
Ruth acenou afirmativamente. O cancro que se alimentava da sua coluna vertebral começava a exigir a sua atenção. Pouco mais conseguia do que acenar quando surgia a dor e ela tentava controlá-la.
- Era tudo para mim, Ruth. O meu apoio, o meu centro. - Anais baixou a cabeça. Umas madeixas macias escapavam-se-lhe do chapéu como a prova da carícia de um homem na sua nuca. - Tinha uma maneira de tratar das coisas... as sugestões que dava... as coisas que fazia... Sabias que foi ele que teve a idéia de que Jemima fosse para Londres fazer o curso de manequim? Para ganhar confiança. O Guy era mesmo assim. Cheio de amor e generosidade.
Ruth acenou de novo, oprimida pela carícia do seu cancro. Apertou os lábios e abafou um gemido.
- Não havia nada que não fizesse por nós - disse Anais - O carro... a sua manutenção... a piscina no jardim... Foi ele. Obsequiador, generoso. Que homem maravilhoso. Nunca encontrei outro que lhe chegasse... Foi tão bom para mim. E agora sem ele? Sinto que perdi tudo. Ele disse-te que este ano tinha pago os uniformes do colégio? Eu sei que não disse. Nunca o faria porque isso fazia parte da sua bondade, de querer proteger o orgulho das pessoas a quem ajudava. Ele até... Ruth, esse homem tão bom, tão amoroso até me dava uma mesada. "És mais para mim do que eu pensei que uma mulher pudesse ser e quero que tenhas mais do que aquilo que podes oferecer a ti própria", agradeci-lhe, Ruth, agradeci-lhe tantas vezes. Mas nunca será de mais. Mesmo assim, quero que saibas parte do bem que ele fez. O bem que me fez, para me ajudar, Ruth.
O seu pedido só seria mais claro se tivesse rastejado sobre o tapete Wilton. Ruth perguntou a si própria quanto mais enlutados de mau gosto viriam chorar o irmão.
- Obrigada pela elegia, Anais - decidiu-se por dizer. - O saberes que ele era a bondade em si... - E era, era, gritava o coração de Ruth. É um acto de bondade da rua parte teres vindo aqui dizer-me isso. Estou imensamente grata. És muito boa.
Anais abriu a boca para falar. Tomou até fôlego antes de se aperceber de que não havia mais nada para dizer. Naquela altura não poderia pedir directamente dinheiro sem parecer abominável. Mesmo que isso não lhe fizesse diferença, não estava disposta a pôr de lado a imagem de viúva independente para quem a textura sentimental de uma relação era mais importante do que aquilo que a financiava. Vivera demasiado tempo aquela mentira.
Por isso, enquanto estiveram sentadas na saleta, Anais Abbott não dissera mais nada e Ruth também não. E, no final daquele dia, que mais haveria para dizer?
DURANTE O DIA, O TEMPO CONTINUOU A MELHORAR EM LONDRES, O QUE permitiu que os St. James e Cherokee River partissem para Guernsey. Chegaram lá ao fim da tarde. Ao sobrevoar o aeroporto na luz fraca, viram espraiar-se por baixo deles estradas que mais pareciam fios de algodão serpenteando no meio de aldeias de pedra e campos nus. O vidro das inúmeras estufas reflectia os últimos raios de sol e as árvores sem folhas do vale e da colina, marcavam as zonas onde os ventos e as tempestades eram menos violentos. A paisagem era variada vista do ar: a oriente e a sul da ilha, falésias imponentes, a oeste e a norte baías tranqüilas.
A ilha tinha um ar triste naquela época do ano. No fim da Primavera e no Verão os visitantes percorriam-na, dirigindo-se às praias, caminhando pelos atalhos dos rochedos, visitando os portos, explorando as igrejas, os castelos e os fortes de Guernsey. Andavam a pé, de barco e de bicicleta e tomavam banho no mar. Enchiam as ruas e superlotavam os hotéis. Mas, em Dezembro, três tipos de pessoas ocupavam aquela ilha do Canal: os próprios habitantes que se mantinham agarrados à terra por hábito, tradição e amor; os especialistas da evasão fiscal, decididos a ocultar grande parte da sua fortuna aos seus respectivos governos e os banqueiros que trabalhavam em St. Peter Port e voltavam de avião para Inglaterra ao fim-de-semana.
Cherokee River e os St. James dirigiram-se para St. Peter Port. Era a cidade maior e a sede do governo da ilha. Era também aqui a sede da polícia e o local onde o advogado de China tinha o seu escritório.
Cherokee mostrara-se loquaz durante a maior parte da viagem. Saltava de tema para tema como se estivesse assustado pelo significado do silêncio entre eles e St. James deu por si a pensar se a constante barreira da conversa não serviria para os impedir de reflectir sobre a futilidade da missão que haviam empreendido. Se China River tinha sido detida e acusada, haveria provas para ser julgada pelo crime. Se essas provas fossem mais do que circunstanciais. St. James sabia que pouco ou nada poderia fazer para as interpretar de um modo diferente do dos especialistas da polícia local.
Mas enquanto Cherokee prosseguia com o seu diálogo, St. James teve a impressão de que já era menos para os impedir de retirarem conclusões acerca dos seus objectivos e mais para se ligar a eles. St. James observava tudo aquilo, sentindo-se a terceira roda de uma bicicleta que se dirigia ao desconhecido. Decididamente, achava o caminho muito pouco confortável.
Cherokee tagarelava, principalmente a respeito da irmã. Chine - como lhe chamava - aprendera por fim a fazer surfe. Debs sabia? O namorado, o Matt - Debs chegara a conhecer o Matt? com certeza - pois bem, por fim, conseguira metê-la na água... quer dizer, a uma distância suficiente, porque ela sempre tivera medo dos tubarões. Ensinara-lhe as bases e obrigara-a a praticar e, por fim, um dia ela levantou-se... Por fim percebeu do que se tratava, percebeu mentalmente. O Zen do surfe. Cherokee sempre quisera que ela fosse surfar em Huntington com ele... em Fevereiro ou Março, quando as ondas eram melhores, mas ela nunca quisera porque ir para o Orange County era ter de pensar na mãe e Chine e a mãe... tinham problemas uma com a outra. Eram muito diferentes. A mãe estava sempre a fazer o que não devia. Como da última vez que a Chine fora lá passar o fim-de-semana - havia talvez mais de dois anos -, foi um problema terrível porque a mãe não tinha copos limpos em casa. Não que a Chine não fosse capaz de lavar um copo, mas a mãe devia tê-los lavado antes, porque ter lavado antes os copos significava alguma coisa. Como por exemplo, "gosto de ti", ou "sé bem-vinda" ou "quero-te aqui". Mas Cherokee tentava sempre ficar de fora quando elas se punham assim. Sabem, são as duas muito boas pessoas. Só que tão diferentes... Porém, quando Chine veio para o desfiladeiro - Debs sabia que Cherokee vivia no desfiladeiro, não sabia? Modjeska? No interior? A cabana com troncos na parte da frente? -, de qualquer modo, quando Chine chegou, acreditem ou não, ele pusera copos limpos por todo o lado. Não que tivesse muitos. Mas aqueles que tinha... pô-los por todo o lado. Chine queria copos limpos e Cherokee deu-lhe os copos limpos. Mas as manias de uma pessoa são estranhas, não acham...
Deborah tinha escutado atentamente a conversa de Cherokee durante toda a viagem para Guernsey. O rapaz vagueara por entre reminiscências, revelações e explicações e, uma hora mais tarde, St. James tinha a sensação de que para além da ansiedade natural que ele sentia pela posição em que a irmã se encontrava, sentia também remorsos. Se não tivesse insistido para que ela o acompanhasse, não estaria onde estava naquele momento. Em parte ele era responsável. Acontece cada merda às pessoas, disse ele, mas era evidente que aquela merda nunca teria acontecido à irmã se Cherokee não quisesse que ela o tivesse acompanhado. E ele quisera que ela o acompanhasse porque precisara da sua companhia, explicou, porque era a única maneira que ele próprio tinha de ir e quisera ir porque precisava do dinheiro, porque tinha por fim em mente um trabalho que lhe agradava e que poderia fazer durante mais de vinte e cinco anos e porque precisava de arranjar uma entrada para o financiar. Um barco de pesca. Mais nada. China River estava atrás das grades porque o estúpido do irmão quisera comprar um barco de pesca.
- Mas não podias saber o que aconteceria - protestou Deborah.
- Bem sei. Mas não é por isso que me sinto melhor. Tenho de a tirar de lá, Debs. - E esboçando um sorriso decidido primeiro para Debon. l. e depois para St. James, disse: - Obrigado por me ajudarem. Nunca vos poderei pagar isto.
St. James teve vontade de lhe dizer que a irmã ainda não tinha saído da cadeia e que havia muitas possibilidades de, mesmo depois de uma fiança ser estabelecida e paga, a sua liberdade fosse apenas temporária.
- Vamos fazer todos os possíveis. - Foi o que disse afinal.
- Obrigado, são muito bons para mim - respondeu Cherokee.
- Somos teus amigos, Cherokee - concluiu Deborah.
Neste momento Cherokee pareceu emocionar-se. Foi uma centelha instantânea no rosto. Apenas conseguiu fazer um aceno de cabeça e aquele estranho gesto de punho fechado com milhares de significados para os americanos, desde a gratidão à adesão política.
Ou naquele momento talvez o usasse por outra razão.
St. James não conseguia deixar de pensar no assunto. Pensava assim desde que levantara a cabeça e vira a mulher e o americano lado a lado na galeria da Sala de Audiências Número Três. Deborah murmurava qualquer coisa ao ouvido de Cherokee que inclinava a cabeça para a ouvir. Inexplicavelmente, St. James tinha a sensação de que havia qualquer coisa que não estava certa e estava convencido disso, mesmo sem ser capaz de definir aquilo de que se tratava. A sensação de um tempo que não batia certo fazia com que fosse difícil para ele entender a declaração de amizade da mulher a outro homem. Nada disse e quando Deborah olhou na sua direcção como que a perguntar-lhe porquê, evitou qualquer expressão da sua parte. Sabia que aquilo não iria melhorar as coisas entre eles. Ela ainda estava aborrecida com a conversa que tinham tido no Old Bailey.
Quando chegaram à cidade, instalaram-se no Ann's Place, um antigo edifício governamental havia muito convertido em hotel. Depois separaram-se: Cherokee e Deborah foram à prisão onde esperavam poder contactar com China que se encontrava na ala dos presos preventivos, St. James à esquadra da polícia onde queria localizar o agente encarregado da investigação.
Continuava pouco à-vontade. Sabia muito bem que não tinha nada que se insinuar numa investigação policial, na qual não seria bem recebido. Pelo menos em Inglaterra havia casos que poderia referir a uma força policial se fosse pedir-lhes informações. Recorda-se do rapto Bowen? Poderia perguntar em qualquer local de Inglaterra... e do estrangulamento em Cambridge no ano passado? A experiência ensinara a St. James que quando revelava a sua identidade, os polícias ingleses estavam, em geral, dispostos a partilhar com ele as suas informações sem qualquer ofensa pelo facto de ele lhas querer extrair. Mas aqui as coisas eram diferentes. Para se fazer aceitar pelos investigadores encarregados do caso River não poderia servir-se de recordações conjuntas, nem evocar casos ou processos criminais em que ele próprio tivesse estado envolvido. Estava numa situação que não lhe agradava e via-se obrigado a recorrer a um dos seus menos desenvolvidos talentos: a faculdade de se ligar com outras pessoas.
Passou de Ann's Place para Hospital Lane e chegou ao comissariado da polícia. Reflectiu nessa história da ligação. Pensou que talvez essa sua incapacidade que criava um abismo entre ele e as outras pessoas - sempre o maldito cientista frio, sempre ocupado a observar e a pensar, sempre a reflectir, a pesar, enquanto os outros se ocupavam unicamente em ser... Talvez também fosse essa a fonte do seu desconforto com Cherokee River.
- Recordo-me bem do surfe! - dissera Deborah e a expressão do seu rosto transformara-se ao recordar-se daquela experiência. - Fomos uma vez os três... Lembras-te? Onde estávamos?
Cherokee reflectira antes de dizer:
- Claro. Foi em Seal Beach, Debs. Era mais fácil do que em Huntington. Mais protegido.
- Exactamente. Seal Beach. Atiraste-me para cima da prancha e eu gritei o tempo todo com medo de bater no pontão.
- Coisa de que nem sequer te aproximaste - disse ele. - Nem sequer ficarias tempo suficiente em cima da prancha, a menos que adormecesses.
Riram os dois e outro laço se formou, num instante e sem esforço entre duas pessoas que reconheciam a existência de uma corrente comum que ligava o presente ao passado.
E era o que se passava entre as pessoas que partilhavam qualquer tipo de história, pensou St. James. Era mesmo assim.
Atravessou a rua e entrou na sede da polícia de Guernsey. Ficava por trás de um muro imponente de feldspato e era um edifício em forma de con quatro filas de janelas nas suas duas alas e encimado pela bandeira de Guernsey. Na recepção, St. James identificou-se e entregou o seu cartão ao agente especial. Perguntou se seria possível falar com o inspector que comandava as investigações do inquérito do assassínio de Guy Brouard? Ou se fosse de todo impossível, com o agente do Gabinete de Imprensa?
O agente especial observou atentamente o cartão com uma expressão onde se lia que iriam ser feitos vários telefonemas para o outro lado da Mancha para se assegurarem exactamente de quem era aquele cientista forense que tinham à porta. Tanto melhor, pois se essas chamadas fossem feitas seria para a Met, para os serviços da procuradoria ou para a universidade onde St. James era professor e, se assim fosse, a sua identidade seria confirmada.
St. James teve de esperar vinte minutos na recepção onde leu o placarde de informações cerca de meía-dúzia de vezes. Mas foram vinte minutos bem utilizados, porque, no final, o inspector principal Louis Lê Gallez apresentou- se pessoalmente para conduzir St. James à sala de operações - uma antiga capela guarnecida de material diverso, arquivos metálicos, mesas de computadores, painéis e quadros brancos.
Naturalmente, o inspector Lê Gallez quis saber que interesse tinha um cientista forense, chegado de Londres, num inquérito de assassínio em Guernsey, principalmente um inquérito que já estava terminado.
- Já temos o assassino - disse ele, de braços cruzados e passando uma perna por cima do canto da mesa sobre o qual descansou todo o seu peso - considerável para um homem tão baixo - dando voltas ao cartão de St. James. Parecia mais curioso do que cauteloso.
St. James decidiu ser completamente honesto. O irmão da acusada, compreensivelmente perturbado pelo que se tinha passado com a irmã, pedira ajuda a St. James pois não tinha conseguido que a embaixada americana agisse em defesa dela.
- Os americanos fizeram os possíveis - contrapôs Lê Gallez. - Não sei que mais esperava esse tipo. Também foi um dos suspeitos. Mas afinal foram todos. Todos os que estavam na festa dos Brouard na noite anterior à sua morte. Metade da ilha estava lá. E acredite que isso não nos simplificou o trabalho.
Lê Gallez prosseguiu, como se soubesse exactamente em que direcção St. James tencionava orientar a conversa depois de ter falado na tal festa. Disse-lhe que tinham interrogado toda a gente que estivera presente em casa dos Brouard na noite anterior ao assassínio e nada viera à luz nos dias seguintes que pudesse alterar a suspeita inicial dos investigadores. Qualquer pessoa que tivesse saído de Lê Reposoir como os River o tinham feito na manhã da morte, teria de ser investigada.
- Todos os outros convidados tinham álibis para a hora do crime? perguntou St. James.
Não fora isso que quisera dizer, retorquiu Lê Gallez. Mas assim que se reuniram as provas, aquilo que as outras pessoas tinham estado a fazer na manhã da morte de Guy Brouard nada tinha a ver com o caso.
O que tinham contra China Rivers era sério e Lê Gallez não pareceu muito satisfeito por ter de fazer uma lista. Os seus quatro agentes tinham passado o local a pente fino e o patologista forense observara o corpo. China River tinha deixado parte de uma pegada no local admitamos que, em parte, obscurecida por uma alga, mas grãos que correspondiam perfeitamente à areia da praia foram encontrados nas solas dos seus sapatos e as solas correspondiam à pegada parcial.
- Podia lá ter estado noutra ocasião - declarou St. James.
- Pode, é verdade. Já conheço a história, Brouard tinha-os autorizado a passear por onde quisessem, mesmo que ele não os acompanhasse. Mas duvido que tenha prendido cabelos dessa jovem no fecho de correr do casaco do fato de treino que tinha vestido quando morreu. E também duvido que ele tivesse esfregado a cabeça naquilo com que ela se cobria.
- E ela cobria-se com quê?
- com uma espécie de cobertor preto. Tinha um botão no pescoço, mas não tinha mangas.
- Uma capa?
- Havia cabelo dele sobre ela, exactamente no sítio onde deveriam estar se se lhe passasse um braço em redor do corpo para o imobilizar. A parva nem sequer pensou em usar uma escova.
- A maneira como ele foi morto... - disse St. James. - É um pouco invulgar, não acha? A pedra? Sufocado? Se é que não a engoliu por acidente...
- É muito pouco provável - disse Lê Gallez.
- Então alguém teria de lha meter pela garganta abaixo. Mas como? Quando? No meio de uma luta? Havia sinais de luta? Na praia? No corpo dele? Em China River quando a trouxeram para cá?
O outro abanou a cabeça.
- Não houve luta. Mas não seria preciso. Foi por isso que procurámos logo uma mulher. - Dirigiu-se a uma das mesas e pegou num recipiente de plástico cujo conteúdo esvaziou na palma da mão. Escolheu uma coisa e disse:
- Isto serve perfeitamente. - E mostrou um tubo de pastilhas de mentol Polo. Retirou uma, mostrou-a a St. James e disse: - A pedra em questão pouco maior era do que isto. Tinha um buraco no meio para caber num porta-chaves. Os lados também são recortados. Agora veja - meteu a Polo na boca, empurrou-a com a língua para a bochecha e disse: - Não são só micróbios que se podem passar dando um beijo na boca, meu amigo.
St. James compreendeu mas, mesmo assim, não pareceu convencido. A teoria do investigador era muito pouco provável.
- Mas ela teria de fazer mais alguma coisa do que passar-lhe simplesmente a pedra para a boca. Sim, percebo que seja possível que ela lha tenha passado para a língua se ele a estivesse a beijar, mas para a garganta seria difícil. Como o teria conseguido?
- O efeito surpresa! - contrapôs Lê Gallez. - Apanha-o distraído quando a pedra lhe entrou na boca. Põe-lhe uma mão na nuca, enquanto têm os lábios colados e ele está na posição exacta. A outra na face e, no momento em que ele se afasta porque ela lhe passou a pedra, segura-o com o braço, obriga-o a dobrar-se para trás e enfia-lhe a mão na garganta. E também a pedra, claro. E pronto.
- Não se importa que eu lhe diga que tudo isso me parece um pouco improvável - disse St. James. - O seu procurador decerto não pensa poder convencer... Há jurados aqui?
- Não interessa. A pedra não foi lá posta para convencer ninguém disse Lê Gallez. - É apenas uma teoria. Até pode nem aparecer no tribunal.
- Porque não?
Lê Gallez esboçou um breve sorriso.
- Porque temos uma testemunha, senhor St. James - disse. - E uma testemunha vale uma centena de especialistas e milhares de belas teorias, está a perceber?
Na prisão onde tinham encerrado China, em prisão preventiva, Deborah e Cherokee souberam que os acontecimentos tinham avançado rapidamente nas vinte e quatro horas seguintes a ele ter deixado a ilha para ir em busca de ajuda a Londres. O advogado de China conseguira libertá-la sob fiança e colocá-la algures. A direcção da prisão sabia onde, mas, naturalmente, não estava disposta a fornecer a informação.
Deborah e Cherokee voltaram então a St. Peter Port e, quando encontraram uma cabina telefônica no local em Vale Road de onde se avistava Belle Greve Bay em toda a sua plenitude, Cherokee saltou do carro para telefonar ao advogado. Deborah viu pelo vidro da cabina que o irmão de China estava consideravelmente agitado, batendo com o pulso no vidro enquanto falava. Sem ter muito jeito para ler nos lábios, Deborah conseguiu perceber que Cherokee dizia "Oiça lá, homem!" A conversa durou três ou quatro minutos e não foi o suficiente para tranqüilizar Cherokee acerca de coisa alguma, apenas para descobrir onde estava a irmã.
- Meteu-a num apartamento em St. Peter Port - disse Cherokee quando voltou a entrar no carro e o pôs a trabalhar. - Um desses que se alugam no Verão. "E dê-se por feliz por saber onde ela está", foi o que ele disse. Sei lá o que isso significa.
- Um apartamento para férias - disse Deborah. - Provavelmente estará vazio até à Primavera.
- Sei lá - disse ele. - Podia-me ter passado um recado, ou qualquer coisa assim. Estou metido nisto, sabes. Perguntei-lhe por que razão não me disse que ela ia sair e ele respondeu-me... Sabes o quê? "Miss River não me disse que queria que eu contasse a alguém onde estava." É como quem diz que ela quer ficar escondida.
Voltaram a St. Peter Port onde não foi fácil encontrar os apartamentos de férias onde China se instalara, apesar de possuírem a morada. A cidade era um labirinto de ruas de sentido único: trilhos estreitos que subiam a colina desde o porto e serpenteavam pela cidade que já existia antes de os carros terem sequer sido imaginados. Deborah e Cherokee fizeram algumas tentativas em casas jorgianas e vitorianas antes de chegarem por fim aos Queen Margaret Aparrments situados na esquina da rua Saumarez com a Clifton, no cimo desta última. Era um local que teria permitido a um visitante da ilha uma daquelas vistas que costumam ser muito bem pagas durante a Primavera e o Verão. O porto espraiava-se lá em baixo, Castle Comet via-se nitidamente no local onde outrora protegia a cidade das invasões e num dia sem as nuvens baixas de Dezembro, a costa de França avistar-se-ia como que a pairar no horizonte longínquo.
Porém, naquele dia, ao início do crepúsculo, a Mancha era uma massa líquida cor de cinza. Brilhavam as luzes no porto onde não havia divertimentos e, ao longe, o castelo parecia um amontoado de cubos edificado por uma criança que depois os pais segurassem descuidadamente na mão.
O mais difícil nos Queen Margaret Apartmenrs foi descobrir quem lhes pudesse indicar o apartamento de China. Por fim encontraram um homem malcheiroso e com a barba por fazer num minúsculo estúdio nas traseiras do edifício deserto. Parecia servir de porteiro quando não estava ocupado, como agora, a colocar reluzentes pedras negras em pequenas cavidades abertas num estreito tabuleiro de madeira.
- Um momento - disse, quando Deborah e Cherokee apareceram à porta do estúdio. - Só preciso de... Raios. Ganhou ele outra vez.
Ele parecia ser o seu opositor, que era final ele próprio a jogar do outro lado do tabuleiro.
Retirou as pedras do seu lado num movimento inexplicável e, a seguir, perguntou:
- O que desejam?
Quando lhe disseram que vinham ver a sua única e solitária locatária - pois era mais que certo que ninguém mais ocupava qualquer dos Queen Margaret Aparrments naquela altura do ano - fingiu ignorar completamente o assunto. Mas só quando Cherokee lhe disse que telefonasse ao advogado de China é que deu mostras de ter uma leve idéia acerca da mulher acusada de assassínio que se encontrava algures dentro do edifício. E depois limitou-se a ir ao telefone e marcar um número. Quando lhe responderam do outro lado disse:
- Está aqui um homem que diz que é seu irmão... - e lançando um olhar a Deborah. - Traz uma ruiva com ele. - Escutou durante cinco segundos. - Então está bem.
E deu-lhes a informação. Encontrariam a pessoa que procuravam no Apartamento no lado oriental do edifício.
Não era muito longe. China veio ter com eles à porta.
- Vieste - disse apenas e caiu nos braços de Deborah. Deborah amparou-a com firmeza.
- Claro que vim - disse ela. - Quem me dera ter sabido desde o princípio que estavas na Europa. Porque não mandaste dizer que vinhas? Porque não me telefonaste? Oh, é tão bom ver-te. - Pestanejou para afastar as lágrimas, surpreendida pela força do sentimento que lhe dizia o muito que tinha sentido a falta da amiga durante os anos em que perderam o contacto uma com a outra.
- Lamento muito que tenha de ser assim. - China lançou a Deborah um sorriso triste. Estava muito mais magra do que Deborah se lembrava e embora o seu belo cabelo louro-claro tivesse um corte muito elegante, emoldurava um rosto que mais parecia o de uma criança abandonada. Usava roupas que teria causado um ataque à sua mãe ecologista. Eram principalmente de couro negro: calças, colete e botas curtas. A cor acentuava-lhe a palidez da pele.
- O Simon também veio - disse Deborah. - Vamos resolver isto. Não te preocupes.
China olhou para o irmão, que fechara a porta atrás de si. Fora para o compartimento que servia de cozinha ao apartamento e onde se deixou ficar passando o peso do corpo de um pé para o outro, com o ar de quem deseja pertencer a um outro universo quando as mulheres exibem emoção.
- Não te disse que os trouxesses - disse ela. - Só para lhes pedires conselho se fosse preciso. Mas... ainda bem que vieram, Cherokee. Obrigada.
Cherokee acenou com a cabeça.
- Precisam de... Posso ir dar uma volta ou assim... Têm comida aqui? Sabem uma coisa? vou à procura de uma loja. - E saiu do apartamento sem ouvir a resposta da irmã.
- É mesmo dos homens - disse China depois de ele ter saído. - Não sabem o que hão-de fazer quando têm de enfrentar as lágrimas.
- E nós nem sequer chegámos a esse ponto.
China soltou uma pequena risada que animou o coração de Deborah. Não imaginava o que seria estar encurralada num país estrangeiro, acusada de assassínio. Por isso, se pudesse ajudar a amiga a não pensar na ameaça que enfrentava queria fazê-lo. Mas desejava também tranqüilizar China sobre a afinidade que ainda sentia com ela.
- Tive saudades tuas - disse. - Devia ter-te escrito mais vezes.
- Devias ter-me escrito. Mais nada - replicou China. - Também tive saudades tuas. - Levou Deborah para a pequena cozinha. - vou fazer um chá. Nem sabes o feliz que estou por te ver.
- Não, China - disse Deborah. - Deixa que eu faço. Não vamos começar contigo a tratar de mim. Vamos trocar os nossos papéis e vais-me deixar tratar das coisas. - Conduziu a amiga até à mesa que ficava por baixo da janela do lado oriental da casa. Sobre ela estavam um bloco e uma caneta. A folha de cima estava coberta de letras maiúsculas e datas na caligrafia encaracolada de China.
- Passaste por um mau momento lá na Califórnia - disse China. Foi muito bom poder ajudar-te.
- Fui tão patética - disse Deborah. - Não sei como tiveste paciência para me aturar.
- Estavas muito longe de casa, metida num enorme sarilho e sem saberes o que fazer. Eu era tua amiga. Não precisava de ter paciência. Precisava de tomar conta de ti. Coisa que afinal até foi muito fácil, para te dizer a verdade.
Deborah sentiu uma onda de ternura que sabia ter duas origens diferentes. Em parte vinha do prazer de uma amizade feminina. Mas tinha também raízes num período do seu passado que lhe era doloroso recordar. China River fizera parte desse período cuidando de Deborah durante todo o tempo
- Sinto-me tão... - disse Deborah. - Que palavra posso dizer? Feliz por te ver? Meu Deus, mas isso parece muito egocêntrico, não é verdade? Estás com problemas e sinto-me bem porque aqui estou? Sou mesmo egoísta.
- Não sei. - China pareceu reflectir antes de esboçar um sorriso. Na pequena cozinha, Deborah encheu a chaleira eléctrica e ligou-a.
Encontrou as canecas, o chá, o açúcar e o leite. Dentro de um armário havia até uma coisa identificada como Guernsey Gâche. Deborah retirou o papel e viu que se tratava de um bolo em forma de tijolo, do gênero de bolo de passas ou de frutas. Serviria perfeitamente.
China nada disse até Deborah ter posto tudo em cima da mesa. Depois murmurou apenas, "Também tive saudades tuas", que Deborah poderia nem ter ouvido se já não estivesse à espera dessas palavras.
Apertou o ombro da amiga. Serviu ritualmente o chá. Sabia que a cerimônia não teria o poder de consolar China durante muito tempo, mas havia qualquer coisa no facto de se segurar numa caneca ou de passar a mão pelos lados de uma chávena que permitia que o calor penetrasse e que sempre fora para Deborah uma espécie de magia, como se águas do Lethe e não as folhas de uma planta asiática tivessem criado o que fumegava lá dentro.
China pareceu compreender o que Deborah pretendia porque abanou a caneca e disse:
- Os ingleses e o chá.
- Também bebemos café.
- Não em alturas como esta. - China segurou na caneca como Deborah queria, rodeando-a com a palma da mão. Olhou pela janela. As luzes da cidade tinham começado a formar uma paleta amarela sobre um fundo nocturno, enquanto os últimos raios de sol se diluíam na noite.
- Não me habituo a que aqui seja noite tão cedo.
- É esta altura do ano.
- Estou tão habituada ao sol. - China beberricou o chá e colocou a caneca em cima da mesa. com um garfo pegou numa fatia de Guernsey Cache mas não comeu nada.
- Acho que o melhor será habituar-me - disse. - À falta de sol. A estar sempre dentro de casa.
- Isso não vai acontecer.
- Não fui eu. - China ergueu a cabeça e olhou directamente para Deborah. - Eu não matei esse homem, Deborah.
Deborah sentiu um arrepio com a idéia de que China pudesse pensar que precisava de a convencer desse facto.
- Meu Deus, claro que não foste tu. Não vim aqui só para ver o que acontecia. Nem o Simon.
- Mas eles têm provas, sabes? - disse China. - O meu cabelo, os meus sapatos. Pegadas. Sinto-me dentro de um daqueles sonhos em que se tenta gritar mas não se consegue, porque não se pode gritar dentro de um sonho. É um círculo vicioso. Percebes o que quero dizer?
- Quem me dera poder arrastar-te daqui para fora.
- Havia vestígios meus nas roupas dele - disse China. - O cabelo. O meu cabelo estava nas roupas dele quando o encontraram. E não sei como lá foi parar. Já me fartei de pensar, mas não sei. - Apontou para o bloco. - Escrevi o que se passou todos os dias, o melhor que me consigo lembrar. Se ele me abraçou alguma vez. Mas porque haveria de me abraçar e se o fez porque será que não me lembro? O advogado quer que eu diga que havia alguma coisa entre nós. Sexo não, diz ele, não vá tão longe. Mas um jogo de sedução. A esperança que ele pudesse ter de que haveria sexo. Coisas que poderiam ter conduzido ao sexo. Tocar. Esse tipo de coisas. Mas não houve e não posso dizer que tenha havido. Quero dizer, não é que me incomode mentir. Acredita que mentiria com quantos dentes tenho na boca se acreditasse que dava resultado. Mas quem diabo vai confirmar a minha história? As pessoas viram-me com ele e ele nunca me tocou com um dedo. Oh, talvez num braço, mas mais nada. Por isso se eu for para o banco dos réus e disser que havia cabelos meus em cima dele porque... o quê? Porque me abraçou? Me beijou? Me acariciou? Que mais... É só a minha palavra contra a de outra pessoa que se levante e diga que ele nunca olhou para mim. Podíamos pedir a Cherokee que testemunhasse, mas está fora de questão obrigar o meu irmão a mentir.
- Ele está desesperado para te ajudar. China baixou a cabeça como que resignada.
- Toda a sua vida foi um aldrabão. Lembras-te dele nos bazares da feira, dos artefactos índios que vendia ao público todas as semanas? Pontas de seta, cacos de barro, utensílios, tudo aquilo de que se lembrava. Até eu acreditei que eram verdadeiros.
- Não me estás a dizer que o Cherokee...
- Não, não. Quer dizer que devia ter pensado duas vezes... dez vezes até... antes de o acompanhar nesta viagem. Aquilo que lhe parece simples, sem problemas e de qualquer forma bom de mais para ser verdade... Eu devia ter percebido que havia mais qualquer coisa do que trazer apenas a planta de um edifício do outro lado do mar. Não uma coisa imaginada pelo Cherokee, mas sim por qualquer outra pessoa.
- Para te usarem como bode expiatório - concluiu Deborah.
- É o que eu imagino.
- Significa que tudo o que aconteceu foi planeado. Até trazerem aqui uma americana para ficar com as culpas.
- Dois americanos - disse China. - Assim, se não pudessem atribuir as culpas a um, o outro teria boas possibilidades de ser suspeito. Foi isso que se passou e caímos que nem patinhos. Dois idiotas da Califórnia que nunca tinham vindo à Europa... também isso seria perfeito. Um par de tontos que não tivessem a mínima idéia daquilo que haveriam de fazer se se metessem em sarilhos. E o engraçado é que eu nem sequer queria vir. Sabia que alguma coisa não me cheirava bem. Mas toda a vida me senti incapaz de negar fosse o que fosse ao meu irmão.
- Ele sente-se muito mal com tudo isto.
- É o costume - disse China. - Depois eu tenho remorsos. Ele precisa de uma oportunidade, é o que digo sempre a mim própria. Sei que faria o mesmo por mim.
- Pareceu-me que ele pensava que também te faria bem por causa do Matt. Que era tempo de te afastares um pouco. Ele contou-me o que se passou convosco. O terem terminado. Tenho pena. Eu gostava do Matt.
China fez girar a caneca e ficou a olhar para ela sem vacilar e durante tanto tempo que Deborah pensou que ela quisesse evitar discutir o fim da sua longa relação com Matt Whitecomb. Mas no momento em que Deborah ia mudar de assunto, China falou.
- A princípio foi duro. Treze anos é muito tempo para esperar que um homem decida que está preparado. Acho que de uma maneira ou de outra sempre soube que entre nós não iria dar certo. Levei todo este tempo para arranjar coragem e acabar com tudo. Era aquele medo de ficar sozinha que me fazia continuar agarrada a ele. Que faria no Ano Novo? Quem me mandaria um cartão no Dia dos Namorados? Onde iria no Dia da Independência? É incrível pensar em quantas relações se devem manter só para que os membros de cada casal tenham com quem passar os feriados. - China pegou num bocado de Guernsey Gâche e afastou-o com um encolher de ombros. - Desculpa. Não consigo comer isto. E tenho coisas mais importantes em que pensar do que no Matt Whitecomb - continuou. - Porque passei o meu tempo entre os dezanove e os vinte e nove anos a tentar transformar umas extraordinárias relações sexuais em casamento, numa casa com uma cerca de madeira, filhos... só deveria pensar nisso quando fosse mais velha. Agora... Imagino coisas engraçadas. Se não estivesse com uma sentença de prisão sobre a cabeça, estaria a reflectir, muito amuada, nas razões que me levaram a deixar passar tanto tempo antes de ver a verdade a respeito do Matt.
- E qual é ela?
- Está constantemente assustado. Sempre esteve, mas eu não o queria admitir. Se se falasse em mais alguma coisa para além de fins-de-semana ou férias juntos, desaparecia sempre. Era uma súbita viagem de negócios. O trabalho que se amontoava em casa. Necessidade de um tempo para pensar bem nas coisas. Separámo-nos tantas vezes em treze anos que a nossa relação começava a parecer-se com um daqueles pesadelos repetitivos. De facto, na nossa relação só falávamos da nossa relação, percebes? Eram horas a falar das razões dos problemas, de porque é que eu queria uma coisa e ele queria outra, de porque é que ele recuava e eu avançava, de porque é que ele se sentia sufocado e eu me sentia abandonada. Porque é que os homens não se querem comprometer, por amor de Deus? - China pegou na colher e mexeu o chá, para fazer alguma coisa que lhe acalmasse a inquietação. - Só que... - olhou para Deborah - não és tu a pessoa apropriada a quem fazer essa pergunta, acho eu. Para ti, os compromissos dos homens nunca foram um problema, Debs. Deborah não teve tempo de lhe recordar os factos: que durante os três anos que estivera na América, estivera completamente afastada de Simon. Uma pancada na porta interrompeu-as, anunciando o regresso de Cherokee, com uma mochila às costas.
- Saí do hotel, Chine - declarou, poisando a mochila no chão. - Não penses que te vou deixar aqui sozinha.
- Só há uma cama.
- Durmo no chão. Precisas de ter a família ao pé de ti, e eu sou a tua família.
O seu tom de voz não admitia discussões. A mochila declarava que seria impossível argumentar contra a sua decisão. China suspirou. Não parecia muito feliz.
St. James encontrou o escritório do advogado de China em New Street a pouca distância da Royal Court House. O inspector Lê Gallez tinha telefonado antecipadamente ao advogado para o informar de que teria uma visita, por isso quando St. James se apresentou à secretária, levou menos de cinco minutos a ser conduzido aos aposentos do advogado.
Roger Holberry conduziu-o a uma das três cadeiras que rodeavam uma pequena mesa de reuniões. Sentaram-se ambos e St. James apresentou ao advogado os factos que o inspector Lê Gallez lhe tinha contado. St. James sabia que Holberry já os deveria conhecer, mas precisava que o advogado lhe contasse tudo o que Lê Gallez omitira durante as entrevistas e a única maneira era permitir que o outro preenchesse as lacunas.
Holberry não se fez rogado. Lê Gallez tinha-o informado pelo telefone de quem era St. James. O inspector não parecia gostar que tivessem chegado reforços para a oposição, mas era um homem honesto e não tinha intenções de os impedir de provarem a inocência de China River.
- Tornou bem claro que não acredita que o senhor possa fazer grande coisa - disse Holberry. - O caso dele é sólido. Ou pelo menos é assim que ele pensa.
- Quais foram as informações que lhe deram depois da autópsia?
- Informaram-me do que tinham conseguido recuperar até agora. Várias partículas sob as unhas, também. Só o exame externo.
- E a análise toxicológica? A dos tecidos? Dos órgãos?
- É ainda muito cedo. Temos de mandar tudo isso para o Reino Unido e depois é uma questão de esperarmos pela nossa vez. Mas o modo como o crime foi perpetrado não deixa dúvidas. Lê Gallez deve ter-lhe dito.
- A pedra. Sim! - St. James prosseguiu, explicando ao advogado que indicara a Lê Gallez que era pouco provável que uma mulher pudesse meter uma pedra na garganta de alguém maior do que uma criança. E se não havia sinais de luta... O que mostravam os vestígios debaixo das unhas?
- Nada. Só areia.
- E o resto do corpo? Tinha hematomas, estava arranhado? Havia sinais de luta, alguma coisa?
- Nada - replicou Holberry. - Mas Lê Gallez sabe que não tem quase nada. Apoia-se quase totalmente numa testemunha. A irmã de Brouard viu qualquer coisa. Só Deus sabe o quê. Lê Gallez ainda não nos disse.
- Poderá ter sido ela?
- É possível, mas pouco provável. Todos os que os conhecem sabem que ela era muito dedicada à vítima. Vivem juntos... isto é, viveram juntos durante quase toda a vida. Ela trabalhou mesmo para ele enquanto ele se estabelecia.
- Onde?
- Chateaux Brouard. Fizeram uma pipa de massa e vieram para Guernsey quando ele se reformou.
Chateaux Brouard, pensou St. James. Já ouvira falar no grupo: uma cadeia de hotéis pequenos mas exclusivos, criados a partir de casas de campo em todo o Reino Unido. Nada de estapafúrdio, apenas cenários históricos, antigüidades, boa comida e tranqüilidade; o tipo de locais procurados por aqueles que desejavam privacidade e anonimato, perfeitos para actores que necessitavam de uns dias longe do brilho dos média e excelentes para os políticos esconderem casos amorosos. A discrição era a alma do negócio e os Chateaux Brouard eram a prova desse princípio.
- Disse que ela poderia estar a proteger alguém - disse St. James,
- Quem?
- Para começar, o filho dele, Adrian.
Holberrry explicou a St. James que o filho de trinta e sete anos de Guy Brouard fora também hóspede da casa na noite anterior ao assassínio. Depois havia também a considerar os Duffy: Valerie e Kevin que tinham feito parte da vida em Lê Reposoir desde o dia em que Broaurd tomara conta do local.
- Ruth Brouard poderia mentir por qualquer deles - comentou Holberry. Sempre foi leal às pessoas de quem gosta. E temos de confessar que, pelo menos os Duffy, retribuem. Ruth e Guy Brouard eram pessoas muito apreciadas aqui na ilha. Ele sempre distribuiu dinheiro a montes e ela há anos que faz trabalho voluntário nos Samaritanos.
- Aparentemente não têm inimigos - comentou St. James.
- É terrível para a defesa - disse Holberry. - Mas nem tudo está perdido nessa frente.
Holberry parecia satisfeito, o que fez aumentar o interesse de St. James.
- Descobriu alguma coisa.
- Várias coisas - disse Holberry. - Podem não ter grande importância, mas vale a pena averiguá-las e eu tenho a certeza de que a polícia não farejou como devia, em redor de todas as pessoas. Preferiram os River desde o princípio.
Prosseguiu descrevendo a relação que Guy Brouard tinha com um rapazinho de dezasseis anos, um tal Paul Fielder, que vivia no lado menos próprio da cidade, numa zona chamada Bouet. Brouard tinha-se ligado ao rapaz através de um programa local que juntava adultos com adolescentes carenciados da escola secundária. A GAYT - Guernsey Adults-Youths-Teachers - tinha pedido a Guy Brouard que fosse o tutor de Paul Fielder e Brouard tinha mais ou menos adoptado o rapaz, circunstância que poderia não ter agradado muito aos pais do rapaz ou, até mesmo, ao filho biológico de Brouard. Em qualquer dos casos podiam ter sido desencadeadas paixões, sendo a mais básica de todas elas o ciúme: e já se sabe onde o ciúme pode levar.
Depois, continuou Holberry, houve a festa na noite anterior à morte de Brouard. Havia semanas que se sabia que se iria realizar. Por isso um assassino disposto a lançar-se sobre Brouard quando este não estivesse em plena forma - como aconteceria após uma festa até altas horas da madrugada - poderia ter planeado antecipadamente qual seria a melhor maneira de o matar e deitar as culpas para outra pessoa. Enquanto a festa decorria não teria sido difícil ter-se esgueirado até lá acima para colocar as provas na roupa e nas solas dos sapatos, ou, melhor ainda, levar os sapatos até à baía para aí deixar uma pegada ou duas que a polícia haveria de encontrar depois. Sim. A festa e a morte estão relacionadas, afirmou inequivocamente Holberry, e em mais do que uma maneira. - Todo o assunto do arquitecto do museu tem de ser muito bem dissecado - continuou o advogado. - Foi inesperado e confuso e quando as coisas são inesperadas e confusas as pessoas sentem-se provocadas. - Mas o arquitecto não estava presente na noite do crime, pois não? perguntou St. James. - Tinha a impressão de que ele estava na América. - Não era esse arquitecto. Estou a falar do arquitecto original, um fulano chamado Bertrand Debiere. É um homem daqui e ele, tal como toda a gente, julgava ter sido o seu projecto o escolhido para o museu de Brouard. bom, e porque não? Havia semanas que Brouard não fazia senão mostrar a toda a gente a maquete que lhe interessava e era sem dúvida a de Debiere, feita pelas suas próprias mãos. Por isso quando ele, ele Brouard, disse que ia dar uma festa para apresentar o arquitecto que escolhera para fazer o projecto... - Holberry encolheu os ombros. - Não podemos censurar Debiere por ter concluído que seria ele. - Vingança?
- Sabe-se lá. Seria normal que a polícia daqui se interessasse um pouco mais por ele, mas ele é um homem de Guernsey. Por isso o mais provável é não lhe quererem tocar.
- Os americanos são mais violentos por natureza? - perguntou St. James. - Tiroteios nos pátios da escola, pena de morte, facilidade em obter armas e tudo o mais?
- É também a natureza do crime. - Holberry olhou para a porta que se entreabrira. A secretária entrou no gabinete com a expressão "são horas de eu ir para casa" escrita no rosto. Trazia uma pilha de papéis numa mão e uma caneta na outra, já vestira o casaco e enfiara a mala no braço. Holberry agarrou nos documentos e começou a assiná-los enquanto falava. - Há anos que não há nesta ilha um assassínio a sangue-frio. Ninguém já se lembra de quando foi o último. Nem sequer ninguém que faça parte da polícia. Naturalmente que tem havido crimes passionais. Mortes acidentais e também suicídios... mas assassínio premeditado? Há décadas que não há nenhum - completou as assinaturas, entregou as cartas à secretária e deu-lhe as boas-noites. Depois levantou-se e dirigiu-se à sua secretária, escolheu uns papéis que meteu dentro da pasta que estava sobre a cadeira. - Sendo esta a situação - disse -, infelizmente, a polícia está predisposta a acreditar que um habitante de Guemsey seria incapaz de cometer um crime assim.
- Suspeita então que possa haver outros para além do arquitecto? perguntou St. James. - Isto é, outros habitantes de Guernsey com razões para quererem ver Guy Brouard morto.
Holberry separou os papéis e reflectiu sobre a pergunta. No gabinete exterior a porta abriu-se e fechou-se quando a secretária partiu.
- Julgo - disse cautelosamente Holberry - que apenas arranhámos a superfície no que diz respeito a Guy Brouard e às pessoas desta ilha. Ele foi uma espécie de Pai Natal: uma obra de caridade, outra obra de caridade, uma ala no hospital. "Precisa de alguma coisa? Fale com o senhor Brouard." Era patrono de meia-dúzia de artistas: pintores, escultores, vidreiros, gravadores e pagava os estudos universitários em Inglaterra a vários miúdos daqui. Era assim. Há quem diga que quis agradecer à comunidade que o acolheu no seu seio. Mas não me surpreenderia que houvesse outras pessoas que considerassem as coisas de outra maneira.
- Quando se recebe dinheiro fica a dever-se um favor?
- Mais ou menos. - Holberry fechou a pasta com força. - Quem dá dinheiro, espera qualquer coisa em troca, não acha? Se seguirmos o dinheiro do Brouard pela ilha fora, mais cedo ou mais tarde havemos de descobrir o que ele esperava receber.
Capítulo 8
LOGO DE MANHÃ CEDO, FRANK OUSELEY FALOU com A MULHER DE UM dos agricultores da Rue dês Rocquettes para ir ao vale tomar conta do pai. Não tencionava estar fora do Moulin dês Niaux mais do que três horas, mas não tinha a certeza de quanto tempo lhe tomariam o funeral e a recepção. Seria inconcebível não estar presente em todos os actos do dia. Mas não podia permitir-se a deixar o pai sozinho, pois seria demasiado arriscado. Assim pôs-se ao telefone até encontrar uma alma caridosa que disse que lá iria de bicicleta uma ou duas vezes e levaria um docinho ao velhote. O paizinho é guloso, não é?" Não seria preciso nada, garantiu Frank. Mas se de facto ela queria trazer alguma coisa ao pai, ele gostava de tudo o que tivesse maçãs,
- Fuji, Braeburn, Pipin? - perguntou a mulher. Francamente não fazia a mínima diferença.
Verdade fosse dita que ela até poderia preparar um doce qualquer com lençóis velhos e dizer que se tratava de Apfel Strüdel. O pai já tinha comido toda a espécie de porcaria e esse facto era sempre tópico das suas conversas. Frank tinha a sensação de que quanto mais o pai se aproximava do final da vida, mais falava do passado distante. Frank achara agradável quando aquilo começara uns anos antes, pois à parte o seu interesse pela guerra em geral e pela ocupação de Guernsey em particular, Graham Ouseley fora sempre admiravelmente reticente sobre os seus feitos heróicos durante aquele tempo terrível. Durante grande parte da juventude do filho esforçara-se por evitar as perguntas pessoais, dizendo: "Não fui só eu, filho. Fomos todos juntos", e Frank tinha aprendido a apreciar a idéia de que o ego do pai não precisava de ser alimentado pelas reminiscências nas quais tinha representado um papel muito importante. Mas, como se soubesse que o seu tempo já era escasso e desejasse deixar um legado de recordações ao seu filho único, Graham começara a falar de uma maneira mais pormenorizada. Uma vez dado início àquele processo, parecia que ninguém o conseguia impedir de recordar a guerra.
Justamente naquela manhã, Graham tinha produzido um monólogo sobre o carro detector, um equipamento que os nazis tinham usado na ilha para localizar os últimos transmissores de ondas-curtas que os cidadãos, especialmente os franceses e os ingleses, usavam quando recolhiam informações sobre o inimigo.
- O último enfrentou as espingardas no Fort George - informou-o Graham. - Era um pobre diabo do Luxemburgo. Há quem diga que foi o detector que o encontrou mas, para mim, foi um bufo. E se os tínhamos, caramba! Bufos e espiões. Colaboradores, Frank. Mandavam as pessoas para o pelotão de fuzilamento sem pestanejar. Espero que apodreçam no inferno.
Depois foi o V para a Campanha da Vitória. Os habitantes de Guernsey fizeram aparecer misteriosamente por toda a ilha da vigésima segunda letra do alfabeto - escreveram-na a giz, a tinta e até mesmo no cimento fresco - para atormentar os nazis.
Por fim aparecera o G. I. F. - Guernsey Independent from Terror - a contribuição pessoal de Graham Ouseley para a população em perigo. O ano que passara na prisão tivera as suas origens naquele jornal da Resistência. Durante vinte e nove meses e juntamente com outros três habitantes da ilha conseguira produzi-lo antes que a Gestapo lhe viesse bater à porta. "Fui traído", dissera Graham ao filho. "Tal como os que tinham receptores de ondas-curtas, por isso nunca te esqueças, Frank: os cobardes cedem sempre quando são encostados à parede. É sempre assim, nos tempos difíceis. As pessoas denunciam os outros sempre que podem ganhar com isso. Mas no fim, vamos fazê-los rastejar. Pode passar muito tempo, mas hão-de pagar."
Frank deixara o pai ainda a falar no mesmo assunto com a televisão, enquanto se instalava para ver o primeiro programa do dia. Frank disse-lhe que a senhora Petit viria ver como ele estava dentro de uma hora e explicou ao pai que tinha de estar em St. Peter Port para tratar de um assunto urgente. Não falou no funeral porque ainda não lhe dissera que Guy Brouard morrera.
Por sorte o pai não lhe perguntara de que negócio se tratava. A música dramática vinda da televisão absorveu-lhe a atenção e, em breves instantes, interessou-se totalmente por uma história que envolvia duas mulheres um homem, um cão e a sogra de um deles, sempre metida em esquemas mal-intencionados. Ao ver aquilo, Frank decidiu partir.
Como não existia na ilha uma sinagoga que pudesse acomodar a população judia não praticante da ilha e apesar de Guy Brouard não ser membro de uma religião cristã, o seu serviço fúnebre realizou-se na igreja da cidade, perto do porto em St. Peter Port. Dado ao lugar ocupado pelo defunto e ao afecto que por ele tinham os habitantes de Guernsey, a Igreja de St. Martin - a cuja paróquia pertencia Lê Reposoir - foi muito pequena para abrigar a assistência que se esperava numerosa. Nos quase dez anos que vivera na ilha tomara-se tão estimado aos seus habitantes, que, nada mais que sete sacerdotes tomaram parte no funeral.
Frank chegou mesmo a tempo, o que acabou por ser um milagre devido à situação do estacionamento da cidade. Mas a polícia reservara os dois parques de estacionamento em Albert Pier para as pessoas que assistiriam ao funeral e, embora Frank só conseguisse encontrar um lugar na ponta norte do pontão, tendo de percorrer a pé todo o caminho até à igreja, conseguira entrar justamente antes do caixão e da família.
Viu que Adrian Brouard era a pessoa mais importante da cerimónia. Era seu direito, por ser o filho mais velho e único de Brouard. Porém, qualquer amigo de Guy sabia que não tinha havido qualquer tipo de comunicação entre os dois, pelo menos nos três meses precedentes e que o seu afastamento tinha sido caracterizado principalmente por vários conflitos. Frank pensou que a mãe do jovem deveria ter feito valer a sua influência para colocar o filho logo atrás do caixão. E, para ter a certeza de que ele não sairia de lá, instalou-se imediatamente atrás. Pobre Ruth, vinha em terceiro lugar, seguida por Anais Abbott e os seus dois filhos que, sabe-se lá como, se tinham conseguido insinuar na família naquela ocasião. As únicas pessoas a quem Ruth teria provavelmente pedido para a acompanharem atrás do caixão do irmão seriam os Duffy, mas a posição para a qual Valerie e Kevin haviam sido relegados - atrás dos Abbott - não permitia que lhes oferecessem qualquer consolo. Frank esperava que ela o sentisse ao ver o número de pessoas que aparecera para mostrar o afecto que sentiam por ela e pelo irmão, amigo e benfeitor de tanta gente.
Durantç quase toda a sua vida, o próprio Frank tinha fugido à amizade. Bastava-lhe o pai. A partir do momento em que a mãe se tinha afogado no reservatório, tinham-se apegado um ao outro - pai e filho - e tendo sido testemunha da tentativa de Graham, primeiro para salvar, depois para reanimar a mulher e, a seguir, da culpa terrível com que Graham vivera por não ter sido capaz ou suficientemente rápido, tinham tornado Graham e o pai inseparáveis. com quarenta anos, Graham Ouseley sofrerá muito e tivera inúmeros desgostos e, desde muito novo, Frank decidira que o pai não sofresse mais. Dedicara-lhe grande parte da sua vida e, quando surgira Guy Brouard, a possibilidade de uma amizade com outro homem surgira diante de Frank como a maçã da serpente. Mordera a maçã como uma vítima da fome, sem se recordar que bastava uma dentada para se obter a condenação eterna.
O funeral pareceu-lhe interminável. Cada sacerdote teve de fazer a sua homília e Adrian Brouard viu-se também obrigado a fazer um elogio fúnebre, em voz hesitante, lendo três páginas dactilografadas que não tinham sido escritas por ele. Os assistentes cantaram hinos apropriados à ocasião e um solista escondido algures sobre eles, ergueu a voz, entoando um adeus de ópera.
Depois, pelo menos a primeira parte terminou. Seguiram-se o enterro e a recepção, ambos em Lê Reposoir.
O cortejo que se dirigiu à propriedade era impressionante. Serpenteou ao longo do cais, desde o Albert Pier até muito depois da Victoria Marina. Subiu lentamente o Lê Vai dês Terres por baixo das árvores nuas do Inverno, rodeando a colina íngreme. Daí seguiu a estrada que saía da cidade e separava a opulência do Fort George a oriente, com as suas enormes vivendas modernas protegidas por sebes e portões eléctricos e o bairro social a oeste, com residências geminadas mais vulgares, bem como casas com varandas que já se encontravam em más condições.
Antes de St. Peter Port dar lugar a St. Martin, o cortejo virou para leste. Os carros seguiram em fila por baixo das árvores, percorrendo uma estrada estreita e depois um carreiro ainda mais estreito. De um dos lados havia um alto muro de pedra. Do outro erguia-se um aterro no qual crescera uma sebe, nodosa e nua devido ao frio de Dezembro.
Uma abertura no muro deixava ver dois portões de ferro que estavam abertos para as extensas terras de Lê Reposoir. Os acompanhantes entraram e Frank entre eles. Estacionou na berma do caminho e dirigiu-se com as outras pessoas para a casa grande.
Dez passos mais adiante a sua solidão foi interrompida.
- Isto muda tudo - disse uma voz. Frank ergueu os olhos e viu que Bertrand Debiere viera ter com ele.
O arquitecto parecia alimentar-se de comprimidos de dieta. Sempre fora demasiado magro para a sua grande altura, mas parecia ter perdido
165
vários quilos desde a noite da festa em Lê Reposoir. Tinha o branco dos olhos raiado de vermelho e os ossos das faces - que sempre haviam sido proeminentes - pareciam agora erguer-se como ovos de galinha tentando fugir-lhe de baixo da pele.
- Nobby! - Frank cumprimentou-o com um aceno de cabeça. Usara involuntariamente o diminutivo do artista. Tinha sido seu aluno de história na escola secundária e Frank não tinha o hábito de tratar com cerimônias aqueles que ensinara anteriormente. - Não te vi na missa.
Debiere não deu qualquer indicação de ter ficado aborrecido por Frank ter utilizado a sua alcunha. As pessoas mais chegadas nunca o tinham tratado senão assim, por isso provavelmente nem reparara.
- Não concorda?
- com quê?
- com a idéia original. com a minha idéia. Teremos de voltar a falar do assunto, acho eu. Sem o Guy, não podemos contar com a Ruth para dirigir as operações. Ela não há-de perceber nada sobre o tipo de edifício e também não a imagino a querer aprender. Não acha?
- Ah, o museu - disse Frank.
- Certamente irá para diante. Guy haveria de ter querido. Mas quanto ao projecto, terá de mudar. Falei com ele do assunto, mas provavelmente já sabe, não é verdade? Sei que eram os dois muito próximos, portanto é provável que ele lhe tenha dito que eu o encostei à parede. Nessa noite, sabe. Estávamos só os dois. Depois do fogo-de-artificio. Olhei mais de perto para o desenho da elevação e vi... bom, quem não veria se soubesse alguma coisa de arquitectura?... que o tal fulano da Califórnia tinha percebido tudo mal. Já seria de esperar num projecto feito por uma pessoa que nunca tivesse visto o local. Perfeitamente egocêntrico se me permite a minha opinião. Eu não teria feito nada daquilo e foi isso que disse ao Guy. E estava a começar a convencê-lo, Frank.
Nobby falava em tom ansioso. Frank lançou-lhe um olhar enquanto seguiam no cortejo que se dirigia ao lado oeste da casa. Não respondeu, embora se apercebesse de que Nobby estava desesperado para que o fizesse. Traíam-no finas gotas de transpiração sobre o lábio superior.
- Tantas janelas, Frank - continuou o arquitecto. - Como se houvesse uma vista espectacular em St. Saviour e tivéssemos forçosamente de tirar partido dela. Se cá tivesse vindo, teria constatado imediatamente que não havia vista. E já viu como vai ser com o aquecimento com todas aquelas janelas? Vai custar uma fortuna manter o museu aberto fora da época, quando estiver frio. Calculo que o queiram abrir fora da época, não é? Se o museu é para a ilha e não apenas para os turistas, é preciso que esteja aberto quando as pessoas lá possam ir. De certeza que não há-de ser no meio do Verão quando está cheio. Não concorda?
Frank sabia que tinha de dizer alguma coisa, porque seria muito estranho manter-se em silêncio naquela situação.
- Não ponhas o carro à frente dos bois, Nobby - disse então. - Acho que agora é preciso ter calma.
- Mas o senhor é meu aliado, não é verdade? - perguntou Nobby.
- F-Frank, o senhor está do meu lado nisto?
O súbito gaguejar marcava o nível da sua ansiedade. Acontecera o mesmo quando era rapaz e andava na escola, sempre que era chamado e incapaz de responder. O problema na fala sempre tornara Nobby mais vulnerável do que os outros rapazes; por um lado, era mais enternecedor, mas por outro obrigava-o a dizer a verdade a todo o custo, retirando-lhe a capacidade que tinham as outras pessoas de disfarçar aquilo que sentiam.
- Não é uma questão de aliados e inimigos, Nobby - disse Frank.
- Tudo isto - disse, indicando com um aceno de cabeça a casa e tudo o que dentro dela se passara, as decisões tomadas e os sonhos destruídos
- nada tem a ver comigo. Não tenho meios para me envolver. Pelo menos como pensas que eu me posso envolver.
- M-mas ele tinha-se decidido por mim, Frank, sabe que ele se tinha decidido por m-mim. O meu projecto, a minha planta. E e-escute. T-tenho de receber essa comissão. - Quase cuspiu a última palavra. Tinha o rosto muito húmido do esforço. A voz subira-lhe de tom e várias pessoas que se dirigiam à sepultura olharam-nos com curiosidade.
Frank saiu do cortejo e puxou Nobby para junto de si. O caixão passava agora pela estufa e seguia em direcção ao jardim das estátuas a noroeste da casa. Ao ver o local, Frank apercebeu-se de que uma sepultura ali seria perfeitamente adequada. Guy ficaria rodeado na morte pelos artistas de quem, em vida, tinha sido patrono.
com a mão no braço de Nobby, Frank obrigou-o a dar a volta à estufa e afastou-o da vista daqueles que se dirigiam para o local do enterro.
- É muito cedo para falar do assunto - disse ao seu ex-aluno. - Se não estiver nada especificado no testamento, então...
- Não haverá o n-nome de nenhum arquitecto no testamento - disse Nobby. - Pode ter a certeza disso. - Limpou o rosto com um lenço e o movimento pareceu ajudá-lo a controlar a voz. - Se tivesse tido tempo para pensar nas coisas, Guy teria mudado para o projecto de Guernsey, acredite-me, Frank. Sabe que a sua lealdade ia para com a ilha. A idéia de escolher um arquitecto estrangeiro é perfeitamente ridícula. Ele acabaria por chegar a essa conclusão. Por isso, é apenas uma questão de nos sentar-nos e prepararmos uma razão coerente para que a escolha do arquitecto tenha de ser mudada e não deve ser difícil, pois não? Bastam-me dez minutos para apontar todos os defeitos desse projecto. Não são só as janelas, Frank. Esse americano nem sequer entendeu a natureza da colecção.
- Mas o Guy já fez a escolha - disse Frank. - Desonramos a sua memória se o alterarmos, Nobby. Não. Não digas nada. Escuta, sei que estás desiludido. Sei que não gostas da escolha do Guy. Mas foi a escolha que ele fez e agora teremos de viver com ela.
- O Guy morreu. - Nobby marcou todas as sílabas com a palma da mão. - Independentemente daquilo que ele decidiu sobre a maneira como imaginava o museu, nós podemos sempre construí-lo como o vemos. E da maneira que seja mais prática e adequada. O projecto é seu, Frank. Sempre foi. É o senhor que tem as exposições. Guy só quis dar-lhe uma casa para as guardar.
Apesar da estranheza da sua aparência, falava num tom muito convincente. Noutras circunstâncias Frank poderia ter-se deixado levar pelas idéias de Nobby. Todavia, no caso actual, tinha de se manter firme. Seria um enorme sarilho se não o fizesse.
- Desculpa, Nobby, mas não posso ajudar-te - disse.
- Mas pode falar com a Ruth. Ela ouve-o.
- Pode ser. Mas, de facto, nem sei o que dizer-lhe.
- Eu preparo-o antecipadamente. Digo-lhe o que há-de ser.
- Então, porque não vais tu falar com ela?
- Ela não me ouve. Pelo menos não me ouve da maneira como o ouve a si.
Frank estendeu as mãos vazias e disse:
- Desculpa, Nobby, lamento muito. Que mais queres que te diga?
Nobby parecia muito abatido, agora que perdera a sua última esperança.
- Pode dizer à vontade que lamenta, mas o que não quer é agir.
Acho que para si é de mais, Frank.
Era até de menos, pensou Frank. Era devido ao facto de as coisas terem mudado que estavam onde estavam naquele momento.
St. James viu os dois homens abandonarem o cortejo que seguia para o local da sepultura. Apercebeu-se da intensidade da conversa e fez uma nota mental para tentar conhecer as suas identidades. Contudo, naquele momento, seguiu o cortejo.
Deborah caminhava a seu lado. A sua reserva durante toda a manhã indicava-lhe que ela não tinha ainda esquecido a conversa do pequeno-almoço, um daqueles confrontos insensatos, nos quais só uma das pessoas compreende perfeitamente o tópico da discussão. Infelizmente não era ele essa pessoa. Tinha estado a perguntar a Deborah se seria sensato ela mandar vir apenas cogumelos e tomates grelhados para a primeira refeição do dia, enquanto ela parecia estar a rever o decurso de toda a história de ambos. Foi pelo menos isso que ele concluiu depois de ouvir a mulher acusá-lo de, "Forças-me a fazer tudo o que queres, Simon, como se eu fosse completamente incapaz de levar a cabo uma simples acção. Pois bem, estou cansada. Sou adulta e gostaria que começasses a tratar-me assim."
Ele erguera os olhos do menu, pestanejara, interrogando-se como fora possível passar de uma discussão sobre proteínas para uma acusação de domínio e crueldade.
- De que estás tu a falar, Deborah? - perguntara ele com ar tolo. E porque não percebera a lógica dela tinham entrado no caminho da desgraça.
No entanto, a desgraça fora apenas segundo a óptica dele. Segundo a dela, era evidente que chegara o momento em que verdades sobre o seu casamento de que suspeitava, mas que nunca quisera nomear, estavam finalmente a ser reveladas. Ele tivera esperanças que ela partilhasse com ele uma ou duas durante o caminho para o funeral e para o enterro que se seguiria. Mas ela não o fizera, por isso ele aguardava o passar das horas para que as coisas se arranjassem entre eles.
- Aquele deve ser o filho - murmurava-lhe Deborah. Estavam no final do cortejo, sobre uma leve inclinação de terreno que dava para um muro. Do outro lado havia um jardim, separado do resto da propriedade. Havia caminhos ao acaso, com arbustos cuidadosamente cortados e canteiros de flores debaixo das árvores agora nuas, mas propositadamente colocadas para lançar a sua sombra sobre bancos de cimento e lagos pouco fundos. Para além disto, havia também esculturas modernas: figuras de granito dobradas na posição fetal; um elfo de cobre - esverdeado pelo tempo - por baixo de uma frondosa palmeira; três donzelas de bronze arrastando algas; uma ninfa de mármore saindo de um lago. Nesse cenário, no cimo de cinco degraus, havia um terraço. No canto oposto, uma pérgola com trepadeiras entrelaçadas que abrigavam um único banco. No terraço tinha sido aberta a sepultura, talvez para que gerações futuras pudessem contemplar simultaneamente o jardim e observar o local onde repousava o homem que o tinha criado.
St. James viu que o caixão já tinha baixado à terra e que as últimas orações haviam sido ditas. Uma mulher loura, que estranhamente usava óculos escuros como se assistisse a um enterro de Hollywood, empurrava para a frente o homem que tinha ao lado. Primeiro fê-lo verbalmente e, depois, como não dera resultado, deu-lhe um ligeiro encontrão na direcção da sepultura. Ao lado desta havia um pequeno monte de terra de onde saía uma pá com fitas negras. St. James concordou com Deborah. Aquele era certamente o filho, Adrian Brouard, o único habitante da casa excepto a tia e os irmãos River, na noite anterior ao pai ter sido assassinado.
Os lábios de Brouard estremeceram. Empurrou a mãe para o lado e aproximou-se do monte de terra. No silêncio absoluto da multidão que rodeava a sepultura, lançou uma pá de terra para cima do caixão. Lá em baixo, a pancada da terra sobre a madeira ecoou como uma porta que se fecha.
Adrian Brouard foi logo imitado por uma mulher com silhueta de pássaro que, de costas, poderia ter sido facilmente confundida com um rapaz pré-adolescente. Entregou solenemente a pá à mãe de Adrian Brouard que também deitou terra para a sepultura. Quando esta ia devolver a pá ao monte de terra, surgiu outra mulher que agarrou o cabo da pá antes que a loura dos óculos escuros a largasse.
Um murmúrio percorreu a assistência e St. James observou a mulher com atenção. Pouco via dela, pois usava um chapéu do tamanho de umasombrinha, mas tinha uma figura espantosa, bem marcada por um fato' cinzento-escuro. Fez o que tinha a fazer com a pá e entregou-a a uma adolescente magra, de ombros curvos e tornozelos magros metidos em sapatos de plataforma. A rapariga curvou-se junto à sepultura e tentou lançar a pá de terra ao lado de um rapaz, mais ou menos com a mesma idade dela, cujo peso, feições e aparência sugeriam ser seu irmão. Mas este, em vez de desempenhar o seu papel no ritual, voltou as costas e desapareceu empurrando aqueles que estavam mais próximos da sepultura. Levantou-se um segundo murmúrio.
- Que se passa? - perguntou Deborah em voz baixa.
- Alguma coisa que merece ser investigada - disse St. James. Vira uma oportunidade que a acção do adolescente lhe dera. - Sentes-te à vontade para o sondar, Deborah? Ou preferes voltar para junto da China?
St. James ainda não conhecera a amiga de Deborah e não tinha a certeza de o querer fazer, embora não soubesse exactamente identificar a razão dessa relutância. Sabia que o seu encontro com ela seria inevitável, porém, dizia para consigo que preferia ter alguma esperança para lhe levar quando fossem finalmente apresentados. Entretanto queria que Deborah se sentisse livre para ir ter com a amiga. Naquele dia ainda lá não tinha ido e ele não duvidava que a americana e o irmão se interrogariam sobre as diligências que os amigos ingleses estavam a levar a cabo.
Cherokee telefonara-lhes de manhã cedo, desejando saber o que St. James tinha sabido da polícia. Manteve a voz determinada e alegre do outro lado da linha quando St. James lhe disse o pouco que havia a saber e St. James calculou que o jovem estava a telefonar na presença da irmã. Para concluir a conversa, Cherokee confessou a sua intenção em assistir ao funeral. Afirmou firmemente o seu desejo de fazer parte daquilo a que chamava "acção" e foi só quando St. James lhe fez notar, cheio de tacto, que a sua presença poderia oferecer uma distracção desnecessária que permitiria ao verdadeiro assassino diluir-se na multidão, que ele concordou em não aparecer. Ficaria à espera juntamente com China, para saber o que eles tinham descoberto.
- Se quiseres podes ir ter com ela - disse St. James à mulher. - Eu vou farejar um pouco mais. Posso arranjar uma boleia de volta para a cidade. Não deve haver problema.
- Não vim a Guernsey para ficar de mão dada com a China - replicou Deborah.
- Bem sei. É por isso que...
Ela interrompeu-o antes que ele pudesse terminar.
- vou ver o que ele tem a dizer, Simon.
St. James viu-a afastar-se atrás do rapaz. Suspirou e perguntou a si próprio por que razão comunicar com mulheres - particularmente com a sua - era freqüentemente falar de uma coisa enquanto se tentava adivinhar o que ela subentendia. E interrogou-se se a sua incapacidade de ler nas mulheres com perspicácia iria afectar o seu desempenho em Guernsey, onde cada vez lhe parecia mais que as circunstâncias que rodeavam a vida e a morte de Guy Brouard estavam cheias de mulheres importantes.
Quando Margaret Chamberlain viu o coxo aproximar-se de Ruth, já quase no final da recepção, soube que ele não era um membro legítimo da congregação que estivera presente em todo o serviço fúnebre. Primeiro que tudo, não se dirigira à cunhada no local em que o corpo ficara sepultado, tal como toda a gente tinha feito. Para além disso, passara todo o tempo da recepção a percorrer os aposentos abertos da casa, como se especulasse sobre sabia-se lá o quê, A princípio, Margaret pensou tratar-se de uma espécie de ladrão, apesar de coxear e usar um aparelho numa perna, mas quando ele finalmente se apresentou a Ruth - dirigindo-se a ela com o cartão na mão - percebeu que havia mais alguma coisa que tinha a ver com a morte de Guy. Se não fosse isso, teria a ver com a distribuição da fortuna de que iriam por fim ter conhecimento assim que os últimos visitantes partissem.
Ruth não quisera falar antes com o advogado de Guy. Era como se tivesse a sensação de que a esperavam más notícias e tentava poupar toda a gente do aborrecimento de ter de as ouvir. Toda a gente ou apenas alguém, pensou Margaret com argúcia. A questão era quem.
Se fosse o desapontamento de Adrian que tentava adiar, podia preparar-se para o que viria a seguir. Arrastaria a cunhada até ao tribunal e lavaria em público todas as peças de roupa suja, se por acaso Guy tivesse deserdado o filho. E ela sabia que haveria várias desculpas da parte de Ruth, se o pai de Adrian o tivesse feito. Mas que se atrevessem a sugerir que fora ela quem estragara a relação entre pai e filho, que fizessem uma única tentativa de a apresentar como responsável pela perda de Adrian... seria um verdadeiro inferno quando apresentasse todas as razões pelas quais os mantivera separados. Cada uma tinha um nome e um título, embora não o tipo de título que desculpasse as transgressões aos olhos dos outros: Danielle, a Hospedeira do Ar, Stephanie, a Dançarina de Striptease, Mary Ann, a Tratadora de Cães, Lucy, a Empregada de Quartos.
Elas tinham sido as razões pelas quais Margaret mantivera o filho afastado do pai. Que espécie de exemplo teria o rapaz, poderia perguntar a quem quer que lho exigisse. Que espécie de exemplo teria ela o dever de oferecer a um rapaz sensível de oito, dez ou quinze anos? Se o pai tinha uma vida que tornava pouco adequadas as visitas prolongadas da parte do filho, a culpa seria dele? E deveria agora ser privado daquilo que era seu por direito, porque o pai nunca tentara quebrar a cadeia de amantes durante todos aqueles anos?
Não. Tinha sido seu direito mantê-los afastados e oferecer-lhes apenas visitas que interrompera ou que apressara. Afinal, Adrian era uma criança sensível. Ela tinha de o proteger com o seu amor de mãe e não o deixar exposto aos excessos do pai.
Observava agora o filho que se enfiara num canto da sala onde se realizava a recepção, junto do calor das chamas que ardiam nas lareiras dos dois lados do aposento. Tentava dirigir-se para a porta, ou para se ir embora ou para sair pela sala de jantar onde a esplêndida mesa de mogno estava posta com um buffet enorme. Margaret franziu a testa. Não poderia ser assim. Ele deveria andar por entre as outras pessoas. Em vez de subir pelas paredes como um insecto, deveria agir como se se considerasse o homem mais rico das ilhas do canal. Como poderia esperar que a sua vida fosse mais do que já era - confinada e circunscrita à casa da mãe em St. Albans - se ele não agisse de outra maneira?
Margaret serpenteou por entre os convidados e interceptou o filho à porta do corredor que levava à sala de jantar. Deu-lhe o braço e fingiu não se aperceber do esforço dele para se escapar, dizendo-lhe sem um sorriso:
- Ainda bem que te encontro, querido. Sabia que havia alguém que me poderia apresentar as pessoas que ainda tenho de conhecer. Claro que é impossível conhecer toda a gente. Mas certamente há pessoas importantes para referências futuras, não é verdade?
- Que referências futuras? - Adrian pôs a sua mão sobre a dela para se soltar, mas ela agarrou-lhe os dedos, apertou-os e continuou a sorrir como se ele não quisesse escapar.
- As tuas, claro. Temos de ter a certeza de que estão asseguradas.
- Ah, temos, mãe? E como achas que o poderemos fazer?
- Uma palavra aqui. Outra ali - disse ela em tom ligeiro. - É espantoso como se podem conseguir influências, quando se sabe com quem se há-de falar. Aquele senhor ali, tão simpático, sabes quem é?
Em vez de responder, Adrian começou a afastar-se da mãe. Mas ela tinha a vantagem da altura e do peso sobre ele e obrigou-o a ficar onde estava.
- Querido? - perguntou em tom alegre. - Aquele homem. O que tem um casaco com cotoveleiras. E que tem o ar sedutor de um Heathcliff subalimentado?
Adrian lançou ao homem um olhar desinteressado.
- É um dos artistas do meu pai. Há muitos por aqui. Vieram dar graxa à tia Ruth para o caso de ela ter ficado com a maior parte da maquia.
- Mas deviam era dar-te graxa a ti. Que estranho - disse Margaret. Ele lançou-lhe um olhar que ela não gostou.
- Acredita, mãe. Ninguém é assim tão estúpido.
- Sobre o quê?
- Sobre a quem o meu pai deixou o dinheiro. Sabem que ele nunca teria...
- Querido, isso não faz a mínima diferença. Não sei a quem se destinava o dinheiro dele, mas sei a quem se há-de destinar. Um homem sábio apercebe-se disso e age em conformidade.
- E uma mulher também, mãe.
Ele falava como se a odiasse. Margaret não percebia o que tinha feito para merecer aquele tom de voz da parte dele.
- Pois bem, se falas das últimas aventuras do teu pai com essa tal senhora Abbott, acho que poderemos dizer seguramente que...
- Sabes muito bem que não.
- e a atracção do teu pai por mulheres mais novas...
- Sim, claro, mãe. Já te apercebeste do que estás a dizer? Margaret deteve-se, confusa.
- O que eu estava a dizer? A respeito de quê?
- A respeito de quê? A respeito das mulheres do meu pai. A respeito das mulheres mais novas. Pensa bem e acho que vais perceber tudo.
- Perceber o quê, meu querido? Francamente não sei...
- "Apresenta-a ao teu pai para que ela perceba, querido - disse o filho. - "Não há mulher neste mundo que lhe possa resistir." Calculo que ela tenha começado a ter dúvidas a meu respeito e que tu te tenhas apercebido disso, não é verdade? Só Deus sabe se tu não esperavas até que isso acontecesse. Pensaste que se ela soubesse que havia dinheiro no horizonte, poderia jogar bem as suas cartas e ficar comigo. Como se eu a quisesse depois de tudo isso. Como se eu ainda a quisesse.
Margaret sentiu um arrepio gelado na nuca.
- Estás a dizer-me... - Mas sabia que ele estava. Olhou em seu redor, com um sorriso semelhante a uma máscara mortuária. Puxou o filho para fora da sala. Fê-lo atravessar o corredor, a sala de jantar e levou-o até à despensa, fechando a porta. Não queria que ninguém ouvisse aquela conversa. Não queria que ninguém pensasse onde iria parar aquela conversa. E ainda menos queria pensar onde iria parar aquela conversa. Já para não falar que não gostaria nem queria pensar naquilo que ela poderia implicar sobre o passado recente. Mas como seria impossível deter as coisas que tinha posto em movimento, decidiu-se a falar.
- Que estás tu a dizer, Adrian? - Mantinha-se encostada à porta da despensa para que ele não pudesse fugir-lhe. Havia uma segunda porta, que dava para a sala de jantar, mas pensou que o filho não sairia por aí. O murmúrio das vozes dizia-lhes a ambos que a sala estava ocupada. Ele começou a tremer, com os olhos desfocados, num estado em que a mãe sabia que ele não gostava que os outros o vissem. Como não respondeu logo, Margaret repetiu a pergunta. Falou mais baixo, pois apesar de se sentir impaciente, apercebeu-se de que ele estava a sofrer. - Que se passa, Adrian?
- Sabes muito bem - respondeu ele. - Sabes tudo perfeitamente. Margaret apertou-lhe o rosto entre as mãos.
- Não. Não posso acreditar... - abraçou-o. - Tu eras filho dele. Há limites para tudo. Porque tu eras filho dele.
- Como se isso importasse. - Adrian afastou-se dela. - Tal como tu foste mulher dele. Isso também não teve a mínima importância.
- Mas o Guy e a Carmel? A Carmel Fitzgerald? A Carmel que nunca teve dez palavras divertidas para dizer a ninguém e provavelmente nunca faria um comentário inteligente...
Margaret deteve-se e voltou a cara.
- Exactamente. Era perfeita para mim - disse Adrian. - Como não estava habituada a ninguém inteligente era fácil de seduzir.
- Não foi isso que eu quis dizer. Não era nisso que eu estava a pensar. É uma rapariga amorosa. Tu e ela juntos...
- Que diferença faz aquilo que tu pensas? É a verdade. Ele viu. Ela ia ser fácil. O pai viu e tinha de tentar. Porque ele não havia de perder uma oportunidade daquelas, mãe... - disse ele com a voz entrecortada.
Por trás deles na sala de jantar, o tilintar dos pratos e dos talheres sugeria que os empregados tinham começado a retirar os restos da comida e que a recepção se aproximava do fim. Margaret olhou para a porta que ficava por detrás do filho e apercebeu-se que dentro de instantes seriam interrompidos. Não podia pensar que seria vista assim, com o rosto oleoso e os lábios trêmulos. Num instante o filho ficara reduzido à infância e ela à mulher que sempre fora, enquanto sua mãe, sem saber se lhe haveria de dizer que se controlasse antes que alguém o visse naquele estado, ou se o haveria de puxar para o seu peito, prometendo vingá-lo.
Foi a idéia de vingança que rapidamente levou Margaret a ver Adrian como o homem que era hoje e não como a criança que tinha sido. O arrepio que sentira na nuca transformou-se em gelo no sangue quando pensou naquilo que uma vingança poderia ter feito ali em Guernsey.
O puxador girou por trás do filho e a porta abriu-se batendo-lhe nas costas. Uma mulher de cabelos grisalhos meteu a cabeça lá dentro, viu o rosto rígido de Margaret e disse. "Oh, desculpe!", e desapareceu. Mas a interrupção bastara. Margaret empurrou o filho dali para fora.
Obrigou-o a subir as escadas e levou-o até ao seu quarto, dando graças por Ruth a ter instalado na ala oeste da casa, longe do seu próprio quarto e do que fora de Guy. Ali ela e o filho teriam a privacidade de que muito precisavam.
Obrigou Adrian a sentar-se no banco do toucador e foi buscar uma garrafa de uísque de malte à mala. Ruth não se mostrava generosa com a bebida e Margaret agradecia-o a Deus, pois de contrário nunca teria pensado em trazer provisões. Despejou dois dedos e bebeu de uma só vez. Serviu-se de novo e entregou o copo ao filho.
- Eu não...
- Queres. Tens de te acalmar. - Esperou até ele lhe ter obedecido, e esvaziado o copo que agora segurava entre as palmas das mãos. - Tens a certeza, Adrian? - perguntou-lhe. - Ele sempre gostou de se insinuar, bem sabes. Pode não ter sido mais do que isso. Viste-os juntos? Viste... - Odiou ter de lhe perguntar aqueles pormenores, mas tinha de conhecer os factos.
- Não precisei de os ver. Depois ela ficou diferente comigo. Adivinhei.
- Falaste com ele? Acusaste-o?
- Claro que sim. Por quem me tomas?
- E o que te disse ele?
- Ele negou tudo. Mas eu obriguei-o...
- Obrigaste-o? - Margaret mal conseguia respirar.
- Menti. Disse que ela tinha confessado. Por isso ele fez o mesmo.
- E depois?
- Nada. Eu e a Carmel voltámos para Inglaterra. Já sabes o resto.
- Meu Deus. Então, porque voltaste cá? - perguntou-lhe ela. - Ele meteu-se com a tua noiva mesmo debaixo do teu nariz. Porque foi que...
- Se bem te lembras, fui incentivado a vir - disse Adrian. - O que me disseste? Que ele ficaria tão satisfeito por me ver?
- Mas se eu tivesse sabido, nunca o teria sugerido, muito menos insistido... Adrian, por amor de Deus, porque não me contaste o que tinha acontecido?
- Porque decidi utilizá-lo - disse ele. - Se pela razão eu não conseguisse que ele me desse o dinheiro de que eu precisava, talvez fosse mais fácil pelos remorsos. Só que me esqueci de que o pai era imune aos remorsos. Era imune a tudo. - Depois sorriu. E naquele momento o arrepio que se transformara em gelo gelou ainda mais o sangue de Margaret quando o filho disse:
- bom, afinal, praticamente a tudo.
Capítulo 9
DEBORAH ST. JAMES SEGUIU DE LONGE O ADOLESCENTE. O SEU FORTE NÃO era meter conversa com desconhecidos, mas não queria abandonar o local sem pelo menos ter tentado. Sabia que a sua relutância se limitava a confirmar a preocupação do marido de que ela viesse sozinha para Guernsey com Cherokee para ajudarem China nas suas dificuldades e a presença de Cherokee não parecia impressionar grandemente Simon. Por isso sentia-se duplamente determinada a que a sua reticência natural não a derrotasse nas presentes circunstâncias.
O rapaz não sabia que ela o seguia e não parecia ter qualquer destino específico. Tratou primeiro de sair do jardim das esculturas e depois dirigiu-se a um verdejante relvado oval que ficava por trás de uma estufa enfeitada numa ponta da casa. No lado deste relvado, saltou por cima de dois rododendros e arrancou um ramo de castanheiro que crescia perto de um grupo de anexos. Aqui, voltou de repente para leste, onde, ao longe, e através das árvores, Deborah viu um muro de pedra que dava para os campos e para os prados. Porém, em vez de seguir nessa direcção - a maneira mais segura de deixar para trás de si o funeral e tudo o que lhe dizia respeito -, usou a estrada de seixos que levava de novo em direcção à casa. À medida que caminhava, batia com o ramo nos arbustos que cresciam frondosos na beira do caminho. Este dava a volta a uma série de jardins meticulosamente arranjados no lado oriental da casa, rnas o rapaz também não entrou em nenhum deles. Sem abrandar, meteu-se por entre um grupo de árvores atrás dos arbustos e apressou mesmo o passo quando ouviu que alguém se aproximava de um dos carros estacionados naquela zona.
Aí, Deborah perdeu-o por alguns momentos. Junto das árvores estava escuro e ele estava vestido de castanho dos pés cabeça, portanto era difícil de ver. Mas avançou na direcção que o vira tomar e apanhou-o num carreiro que levava ao prado. No meio, elevava-se o telhado de telha do que parecia ser uma espécie de casa de chá japonesa, por trás de uma cortina de delicados áceres e uma sebe de madeira ornamental envemizada para manter a sua bela cor original, salpicada de pinceladas vermelhas e negras. Viu que se tratava de mais um jardim da propriedade.
O rapaz atravessou uma frágil ponte de madeira que descrevia uma curva sobre uma depressão da terra. Lançou o pau para o lado, escolheu o caminho sobre algumas pedras e aproximou-se de um portão que havia na sebe. Abriu-o de par em par e desapareceu lá dentro. Este fechou-se silenciosamente atrás dele.
Deborah seguiu-o, atravessando a ponte que ligava o pequeno aterro sobre o qual tinham sido colocadas pedras cinzentas, com cuidado para que não destoassem da vegetação que crescia por entre elas. Aproximou-se do portão e viu aquilo em que antes não reparara: uma placa de bronze pregada na madeira. À Ia memoire de Míriam et Benjamim Brouard, assassines par lês Nazis à Auschwitz. Nous ríoublierons jamais6. Deborah leu a inscrição e percebeu dela o suficiente para saber que se encontrava num jardim construído em memória de alguém.
Empurrou o portão para um mundo diferente do que tinha visto dentro de Lê Reposoir. Aqui a vegetação luxuriante e viçosa estava disciplinada. Havia sido imposta uma ordem austera e tinham despido as árvores de grande parte da folhagem. Os arbustos estavam cortados de um modo formal. Eram agradáveis à vista e diluíam-se uns nos outros num padrão que conduzia o olhar a outro ponto do jardim, a outra ponte em arco e esta estendia-se sobre um lago serpenteante onde cresciam nenúfares. A seguir a este lago, ficava a casa de chá, cujo telhado Deborah avistara do outro lado da sebe. Tinha portas de pergaminho, como as casas particulares japonesas, e uma dessas portas estava aberta.
Deborah seguiu o carreiro que rodeava o jardim e atravessou a ponte. Viu lá em baixo uma enorme carpa colorida a nadar, enquanto diante dela se revelava o interior da casa de chá. A porta aberta mostrava o chão coberto de tapetes tradicionais e um único aposento mobilado com uma mesa de ébano redonda que tinha em volta seis almofadas.
1 À memória de Minam e Benjamin Brouard, assassinados pelos nazis em Auschwitz. Nunca esqueceremos. Em francês no original. [N. da T. ]
Um enorme alpendre acompanhava toda a fachada da casa, à qual dois degraus davam acesso a partir do caminho de gravilha que continuava em redor do jardim propriamente dito. Deborah subiu-os, sem tentar fazê-lo sub-repticiamente. O melhor era aparecer como outra pessoa que viera acompanhar o funeral e que agora andava a passear e não alguém que perseguia um rapaz que muito provavelmente não queria conversar.
Este estava ajoelhado junto a um armário de teca metido na parede do outro extremo da casa. Tinha-o aberto e tirava lá de dentro um pesado saco. Enquanto Deborah o olhava conseguiu extrair o saco, meter a mão lá dentro e retirar um recipiente de plástico. Depois voltou-se e viu Deborah a observá-lo. Não se sobressaltou ao ver uma completa desconhecida. Olhou-a abertamente e sem o menor receio. Depois pôs-se de pé e saiu para o alpendre e a seguir para o lago.
Quando ele passou, ela viu que o saco de plástico continha pequenas bolas redondas que ele levou para a beira de água. Sentou-se na pedra macia e retirou lá de dentro uma mão-cheia de bolinhas e lançou-as aos peixes. Imediatamente a água se transformou numa actividade fervente cor do arco-íris.
- Importas-te que eu olhe? - perguntou Deborah.
O rapaz abanou a cabeça. Viu que ele deveria ter cerca de dezassete anos e o rosto coberto de acne, que se tornou ainda mais vermelho quando ela se lhe juntou sobre a rocha. Deborah ficou a olhar os peixes por um instante, vendo as suas bocas ávidas saírem da água, abrindo-se e fechando-se instintivamente quando alguma coisa se movia à superfície. Tinham sorte em estar naquele ambiente protegido, onde tudo o que se mexia era de facto alimento e não isco.
- Não gosto muito de funerais - disse ela. - Acho que foi porque comecei cedo a ter de assistir a eles. A minha mãe morreu quando eu tinha sete e sempre que vou a um, recordo-me.
O rapaz não disse nada, mas abrandou a força com que lançava a comida dos peixes à água. Deborah ganhou coragem e continuou.
- É engraçado, porque não fiquei assim muito triste na altura em que aconteceu. As pessoas talvez pensassem que era por eu não ter percebido, mas percebi, sabes. Sabia exactamente o que era morrer uma pessoa. Partia e eu não voltava a vê-la. Podia estar com os anjos e com Deus mas, de qualquer modo, estava num lugar para onde eu não iria senão daí a muito tempo. Por isso sabia o que significava. Só que não percebia o que implicava. Só muito mais tarde é que me apercebi, quando se deveriam ter passado aquelas coisas entre mãe e filha que não aconteceram entre mim... bom, entre mim e mais ninguém.
Mesmo assim ele não disse nada. Mas deixou de alimentar os peixes e olhou para a água onde eles continuavam a debater-se para comer. Fizeram recordar a Deborah as pessoas numa fila para o autocarro: quando este chega, aquilo que era ordenado transformava-se numa massa de cotovelos, joelhos e guarda-chuvas todos empurrando ao mesmo tempo.
- Já morreu há quase vinte anos e ainda me interrogo sobre como teria sido - prosseguiu ela. - O meu pai nunca voltou a casar, não tenho mais parentes e há alturas em que seria tão bom fazer parte de uma família maior. Depois também pergunto a mim própria como seria se os meus pais tivessem tido outros filhos. Ela tinha só trinta e dois anos quando morreu; a mim parecia-me velha porque eu só tinha sete anos, mas agora vejo que naturalmente poderia ter tido mais filhos. Quem me dera que tivesse sido assim.
O rapaz olhou para ela. Ela afastou o cabelo do rosto.
- Desculpa, estou a aborrecer-te? Acontece-me por vezes.
- Quer experimentar? - Estendeu-lhe o saco de plástico.
- Que maravilha, claro que sim. Obrigada. - Meteu a mão no saco, aproximou-se da beira e deixou as bolas escorregarem-lhe lentamente por entre os dedos para dentro de água. Os peixes vieram imediatamente, empurrando-se uns aos outros na sua ansiedade para conseguir o alimento.
- Parece que a água está a ferver. Deve haver centenas.
- Cento e vinte e três - disse o rapaz em voz tão baixa que Deborah teve dificuldade em o ouvir, pois ainda por cima ele falava com os olhos no lago. - Ele fazia com que houvesse sempre o mesmo número, porque os pássaros perseguem-nos. São pássaros grandes, por vezes uma gaivota, mas geralmente não são suficientemente fortes e rápidos. E os peixes são espertos. Escondem-se. É por isso que as pedras estão colocadas tão distantes umas das outras nos cantos do lago: para que os peixes tenham tempo para se esconder quando aparecem os pássaros.
- É preciso pensar em tudo, suponho eu - disse Deborah. - Este local é fantástico. Eu andava a dar uma volta, porque precisava afastar-me daquela sepultura e, de repente, vi o telhado da casa de chá e a sebe e pareceu-me que aqui poderia estar em paz. Tranqüila, sabes. Foi por isso que entrei.
- Não minta. - Colocou entre os dois o saco da comida dos peixes, como se quisesse traçar uma linha na areia. - Eu vi-a.
- Viste...
- Vi que me seguia. Vi-a lá atrás nos estábulos.
- Ah! - Deborah irritou-se consigo própria por ser tão descuidada e dar nas vistas, o que provava que o marido tinha razão. Mas, mesmo assim, não se sentia tão fora do seu elemento como Simon, sem dúvida afirmaria que estava, e decidiu-se a prová-lo. - Vi o que aconteceu na altura do enterro - admitiu. - Quando te entregaram a pá. Parecias... bom, como eu também perdi uma pessoa há muitos anos, confesso... pensei que poderias querer... sei que foi presunção da minha parte... fui até muito arrogante. Mas é difícil perder uma pessoa. Por vezes ajuda poder conversar.
Ele agarrou no saco de plástico e despejou metade directamente dentro de água, o que provocou um fervilhar de actividade.
- Não preciso de falar de nada - disse ele. - E muito menos dele. Deborah espevitou as orelhas.
- O senhor Brouard era... Pareceu-me muito velho para ser teu pai, mas como estavas junto da família... Era talvez teu avô... - Ficou à espera, pois sabia que se tivesse paciência ele dir-lhe-ia aquilo que parecia inquietá-lo tanto. - A propósito, chamo-me Deborah St. James. Vim de Londres.
- Para o funeral?
- Sim. Como te disse não gosto muito de funerais. Mas também, quem gosta?
Ele fez um gesto de desdém.
- A minha mãe. Adora funerais e tem muita prática. Deborah teve a sensatez de nada dizer. Aguardou que o rapaz se
explicasse, coisa que ele fez, embora de má vontade. Disse-lhe que se chamava Stephen Abbott.
- Também eu tinha sete anos. Ele perdeu-se numa tempestade. Sabe como é?
Deborah abanou a cabeça.
- As nuvens baixam. Ou surge o nevoeiro. Mas é muito mau, porque não se sabe de que lado está a montanha, perdem-se de vista as pistas de esqui e não há saída possível. É tudo branco: a neve e o ar. As pessoas perdem-se. E por vezes... - Voltou o rosto. - Por vezes morrem.
- O teu pai? - perguntou ela. - Lamento muito, Stephen. É uma maneira horrível de se perder um ente querido.
- Ela disse que ele havia de encontrar o caminho, que era muito entendido, que sabia o que fazer. Os esquiadores com muita prática acabam sempre por escapar. Mas a tempestade durou muito tempo e depois começou a nevar muito e ele já estava a quilômetros do local onde devia estar. Quando por fim o encontraram tinham passado dois dias e ele tinha tentado caminhar com uma perna partida. Depois disseram... disseram que se tivessem chegado seis horas mais cedo... Meteu a mão dentro do saco e as bolas que restavam saltaram lá de dentro e espalharam-se pelas rochas. - Ele poderia ter sobrevivido. Mas ela não teria gostado muito.
- Porque não?
- Porque assim não poderia coleccionar namorados.
- Ah! - Deborah compreendeu o que se passava. Uma criança perde o pai que adora e depois vê a mãe passar de homem para homem, talvez para não ter de suportar um desgosto forte de mais, talvez num esforço frenético para substituir aquele que perdeu. Mas Deborah entendeu também que um filho se ressentiria com a situação: pensaria que a mãe nunca tinha amado o pai.
- Então o senhor Brouard era um dos amigos dela, não é verdade? perguntou Deborah. - Era por isso que ela estava com a família esta manhã? Foi a tua mãe que quis que pegasses na pá?
- Sim - respondeu ele. - Claro que era ela. - Sacudiu a comida dos peixes que tinha espalhado à sua volta. As bolas caíram na água uma a uma, como as desilusões de uma criança. - Vaca estúpida - resmungou.
- Maldita vaca estúpida.
- Porque ela queria que tomasses parte...
- Pensa que é muito esperta - interrompeu Stephen. - Pensa que é irresistível... a minha mãe pensa que abre as pernas e que os transforma em fantoches. Até agora não funcionou, mas com perseverança pode ser que consiga. - Stephen pôs-se de pé de um salto, agarrando o recipiente. Voltou para a casa de chá e entrou. Deborah seguiu-o mais uma vez.
- Por vezes as pessoas fazem coisas quando têm muitas saudades de alguém, Stephen - disse-lhe ela da porta. - À superfície parecem coisas irracionais. Insensíveis, sabes? Ou até cruéis. Mas se conseguirmos ultrapassar aquilo que nos parecem, se conseguirmos entender as razões que estão por trás...
- Ela começou logo a seguir a ele ter morrido, sabe? - Stephen atirou com o saco da comida dos peixes para dentro do armário e fechou a porta com força. - Um dos instrutores da patrulha de esqui, só que, naquela ocasião eu não percebi o que se passava. Só entendi quando fomos a Miami Beach e depois vivemos em Milão e a seguir em Paris e havia sempre um homem, sabe... sempre... é por isso que estamos aqui agora, entende? Porque o último foi em Londres e ela não conseguiu que ele casasse com ela e está a ficar desesperada porque se ficar sem dinheiro e não houver ninguém, que diabo vai ela fazer?
O pobre rapaz começou a soluçar desesperadamente. Deborah enterneceu-se e foi ter com ele do outro lado do aposento.
- Senta-te aqui, por favor, Stephen.
- Odeio-a - disse ele. -Odeio-a mesmo. É uma reles prostituta. E tão estúpida que nem vê... - Não conseguiu continuar de tanto que chorava.
Deborah obrigou-o a sentar-se numa das almofadas. Stephen ajoelhou e baixou a cabeça para o peito que arquejava.
Apesar de o desejar, Deborah não lhe tocou. com dezassete anos e um desgosto tão grande. Sabia como era. A luz do Sol desaparecia, a noite parecia interminável, o sentimento de desespero descia como uma mortalha.
- Parece ódio porque é muito forte - disse ela. - Mas não é ódio. É diferente. É o lado obscuro do amor, acho eu. O ódio destrói. Mas isso... Isso que tu sentes... Não faz mal a ninguém. Por isso não é verdadeiramente ódio.
- Mas a senhora viu-a - chorou ele. - Viu como ela é.
- É só uma mulher, Stephen.
- Não. É mais do que isso! Viu o que ela fez. Neste momento o espírito de Deborah ficou alerta.
- O que ela fez? - repetiu.
- Já é muito velha. Não agüenta. Não quer ver... e eu não lhe posso dizer. Como poderia dizer-lhe?
- Dizer o quê?
- Que é muito tarde. Que é muito tarde para aquilo. Ele não a ama. Nem mesmo a quer. Ela poderá fazer de tudo que nada dará resultado. Nem o sexo. Nem as operações plásticas. Nada. Ela perdeu-o e foi demasiado estúpida para perceber. Mas deveria ter visto. Porque foi que não viu? Porque foi que continuou a fazer as coisas para parecer melhor? Para tentar fazer que ele a quisesse quando ele já não queria?
Deborah absorveu tudo aquilo com muita cautela. Reflectiu sobre tudo o que o rapaz já lhe dissera. A implicação por trás das palavras dele era clara: Guy Brouard já não estava interessado na mãe. A conclusão lógica seria de que arranjara outra pessoa. Mas a verdade poderia também ser que ele se interessara por outra coisa. Se já não queria a senhora Abbott seria preciso descobrirem o que ele queria.
Paul Fielder chegou a Lê Reposoir transpirado, sujo e ofegante, com a mochila toda torta. Embora calculasse que seria muito tarde, pedalara a toda a pressa à beira-mar, do Bouet até Town Church, como se estivesse a ser perseguido pelos quatro Cavaleiros do Apocalipse. Pensou que poderia haver a possibilidade de o funeral do senhor Guy ter sido adiado por qualquer outra razão. Se tal tivesse ocorrido ainda poderia estar presente pelo menos numa parte.
Mas como já não havia carros junto a North Esplanade, nem nos parques de estacionamento do pontão, percebeu que o esquema de Billy tinha dado resultado. O irmão mais velho conseguira impedir Paul de ir ao funeral do seu único amigo.
Paul sabia que fora Billy que lhe avariara a bicicleta. Assim que saiu e a viu com o pneu de trás cortado e a corrente tirada e no meio da lama, reconheceu na brincadeira as cruéis impressões digitais do irmão. Soltara um grito abafado e entrara a correr em casa onde ele comia pão frito e bebia uma caneca de chá, sentado à mesa da cozinha. A seu lado, tinha um cigarro no cinzeiro e outro de que se esquecera a fumegar sobre o escorredouro por cima do lava-loiças. Fingia ver um programa de televisão enquanto a irmã pequenina brincava com um pacote de farinha sentada no meio do chão. Contudo já esperava que Paul entrasse casa a dentro para o confrontar e para que os dois pudessem discutir.
Paul percebeu-o assim que entrou, pois o sorriso malicioso de Billy denunciou-o.
Noutros tempos, poderia ter-se queixado aos pais, ou até atirado a Bill sem pensar nas diferenças de tamanho e força. Mas esses tempos tinham passado. O mercado da carne - uma parte do velho e orgulhoso complexo de colunas que formava a Praça do Mercado de St. Peter Port tinha definitivamente fechado as suas portas, destruindo o ganha-pão da família. A mãe era agora caixa no Boots da High Street, enquanto que o pai fora para as obras da estrada, onde os dias eram longos e o trabalho brutal. Nenhum deles estava em casa para o ajudar e mesmo que estivessem, Paul não os queria sobrecarregar mais. Quanto a atacar Billy/ Paul sabia que podia ser por vezes lento mas não era completamente estúpido. Billy queria ser atacado. Havia muito que o desejava e fizera os possíveis para que tal acontecesse. Desejava atirar-se a alguém, não importava a quem.
Paul mal lhe lançou um olhar. Preferiu ir ao armário que estava por baixo da pia da cozinha e retirar de lá a caixa das ferramentas do pai.
Billy seguiu-o até à rua, esquecendo-se da irmãzinha que ficara na cozinha com as mãos metidas no pacote de farinha. Os outros dois irmãos andavam à vontade no andar de cima. Billy tinha a obrigação de os mandar para a escola, mas Billy nunca fazia nada do que devia. Preferia passar os dias no jardim cheio de ervas daninhas a atirar moedas às latas de cerveja que bebia de manhã à noite.
- Oooh - disse Billy com ar de troça e os olhos a brilhar ao ver os estragos na bicicleta de Paul. - Mas que diabo aconteceu aqui, Paulie? Estragaram-te a bicicleta, foi?
Paul fingiu não o ter ouvido e deitou-se no chão. Começou por retirar o pneu. Taboo que ficara de guarda à bicicleta farejava com ar suspeito e a ganir. Paul deteve-se e levou Taboo para junto de um candeeiro da rua. Atou o cão e apontou para um ponto no chão, indicandolhe onde queria que se deitasse. Taboo obedeceu mas era óbvio que não ficara satisfeito. Não confiava no irmão de Paul e este sabia que o animal preferia não sair do seu lado.
- Precisas de ir a algum lado, não? - perguntou Billy. - E agora tens a bicicleta avariada. Que maldade. Vê lá o que fazem as pessoas.
Paul não queria chorar porque sabia que as lágrimas dariam mais razões ao irmão pgra o atormentar. Era verdade que as lágrimas lhe dariam menos satisfação do que derrotar Paul numa luta brutal, mas seriam melhor que nada e Paul não lhe queria dar essa satisfação. Havia muito que sabia que o irmão não tinha coração e, ainda menos, consciência. Vivia para atormentar a vida dos outros. Era a única contribuição que dava à família.
Paul fingiu não o ter ouvido, coisa que Billy não gostava. Resolveu encostar-se à casa e acender outro cigarro.
Que te apodreçam os pulmões, pensou Paul para consigo. Começou a remendar o pneu rasgado, pegando nos bocados de borracha e na cola e estendendo-os sobre a incisão.
- Ora deixa lá ver onde vai o meu maninho esta manhã - disse Billy com ar pensativo, puxando uma fumaça. - Irá ao Boots fazer uma visita à mama? Levar o almoço ao pai, às obras da estrada? Na... acho que está muito janota. Onde terá ido buscar a camisa? Ao meu armário? Espero bem que não, porque se roubas levas nos queixos. Talvez deva lá ir ver melhor, só para ter a certeza.
Paul não reagiu. Sabia que Billy gostava de atormentar os cobardes. Só atacava quando tinha a certeza de que a sua vítima tinha medo. Tal como os pais, pensou Paul desanimado, que mês após mês, o mantinham em casa como um hóspede que não pagava, porque tinham medo do que ele poderia fazer se o pusessem fora.
Antigamente, Paul era como eles e via o irmão levar os bens da família para vender em feiras de velharias para poder comprar cerveja e cigarros. Mas isso fora antes de o senhor Guy ter aparecido. O senhor Guy que parecia saber sempre o que se passava no coração de Paul e era capaz de falar do assunto sem dar lições de moral, fazer exigências ou esperar alguma coisa em troca mais do que não fosse amizade.
Mantém-te centrado no que é importante, meu Príncipe. Quanto ao resto? Se não tiver nada a ver com os teus sonhos, não ligues.
Era por isso que conseguia arranjar a bicicleta enquanto o irmão troçava dele, desafiando-o para lutar ou para chorar. Paul fechou os ouvidos e concentrou-se. Um pneu para remendar, uma corrente para limpar.
Poderia ter apanhado o autocarro para a cidade, mas só se lembrou depois de ter a bicicleta pronta e de já ir a meio caminho da igreja. Porém, nesse ponto já nem se censurou por ter sido tolo. Queria estar presente para se despedir do senhor Guy e o seu único pensamento ao ver passar o autocarro pela número cinco foi que teria sido mais fácil passar pela frente do veículo e pôr fim a tudo.
Foi então que, por fim, começou a chorar de frustração e desespero. Chorou pelo presente que contrariava todos os seus projectos e chorou pelo futuro que parecia negro e vazio.
Apesar de ver que não havia um único carro perto de Town Church, puxou a mochila mais para cima e entrou. Primeiro pegou em Taboo. Levou consigo o cão apesar de saber que não deveria fazê-lo. Mas não se importou. O senhor Guy fora também amigo de Taboo e fosse como fosse ele não ia deixar o animal na praça sem perceber o que se passava. Assim entrou com ele ao colo na igreja onde o cheiro das flores e do fumo das velas ainda impregnava o ar e um pendão com as palavras Requiescat in Face se encontrava à direita do púlpito. Mas eram apenas os sinais de que tinha havido um funeral na igreja de St. Peter Port. Depois de percorrer a nave central e de tentar fingir que fora um dos assistentes. Paul abandonou o edifício e voltou à sua bicicleta. Dirigiu-se para sul na direcção de Lê Reposoir.
Vestia naquela manhã as melhores roupas que tinha, desejando no dia anterior não ter fugido de Valerie Duffy quando esta lhe quisera oferecer uma das velhas camisas de Kevin. Assim, tudo o que tinha era um par de calças pretas com manchas de lixívia, um único par de sapatos velhos e uma camisa de flanela que o pai costumava usar nos dias mais frios dentro do mercado da carne. Em volta do colarinho da camisa enfiara uma gravata de malha que também pertencera ao pai. Sobre tudo aquilo, envergara o anoraque vermelho da mãe. Estava pavoroso e sabia-o, mas era o melhor que podia fazer.
Tudo o que levava vestido estava sujo ou encharcado de suor quando chegou à propriedade dos Brouard. Por isso, escondeu a bicicleta por trás de um enorme arbusto de camélias junto ao muro, baixou a cabeça e subiu o caminho que levava à casa por baixo das árvores, sempre acompanhado de Taboo.
Mais à frente, Paul viu que as pessoas estavam a sair da casa aos poucos e, quando fez uma pausa para se aperceber do que se passava o carro funerário que transportara o caixão do senhor Guy passou lentamente pelo local a leste' do caminho onde ele estava quase escondido e saiu pelos portões de regresso à cidade. Paul seguiu-o com o olhar apercebendo-se de que também tinha perdido o enterro. Perdera tudo.
Sentiu todo o corpo tenso mas palpitante, como se alguma coisa quisesse fugir de dentro dele e ele tentasse mantê-la prisioneira. Tirou a mochila e agarrou-a de encontro ao peito, tentando acreditar que aquilo que partilhara com o senhor Guy, não desaparecera como obra de um momento, mas fora antes santificado, abençoado para sempre através da mensagem que o senhor Guy deixara.
Este local, meu Príncipe, é especial. É um refúgio-meu-e-teu. Sabes guardar segredos, Paul?
Claro que sabia, prometera Paul Fielder. Não sabia ele fingir não ouvir as ameaças do irmão? Não sabia suportar o peso daquela perda sem se desintegrar completamente? Claro que sabia.
Ruth Brouard levou St. James lá acima ao escritório do irmão. Simon reparou que este ficava situado no canto noroeste da casa e que, de um lado, dava para um relvado oval e para a estufa e, do outro, para um semicírculo de anexos que pareciam ser antigos estábulos. Lá por trás estendia-se a propriedade: mais jardins, picadeiros, campos e bosques. St. James viu que as esculturas que começavam no jardim murado, onde Guy Brouard fora enterrado se estendiam também ao resto da propriedade. Aqui e ali, uma forma geométrica feita em mármore, bronze, granito ou madeira surgiam por entre as árvores e as plantas que cresciam à vontade pela terra.
- O seu irmão era um patrono das artes. - St. James afastou-se da janela, enquanto Ruth Brouard fechava silenciosamente a porta.
- O meu irmão era patrono de tudo - replicou ela.
Ruth não parecia bem, pensou St. James. Mexia-se com movimentos estudados e falava em voz esgotada. Deixou-se cair numa cadeira de braços. Por trás dos óculos, semicerrou os olhos. Se não se controlasse tão bem, pareceria ter feito um esgar de dor.
No centro da sala havia uma bela mesa de nogueira sobre a qual estava colocada a maqueta de um edifício no meio de uma paisagem que incluía uma estrada à frente, um jardim atrás e até mesmo as árvores e os arbustos que aí cresceriam. O modelo era tão pormenorizado que incluía portas e janelas. Na fachada, uma mão hábil inscrevera no friso Museu da Guerra Graham Ouseley.
- Graham Ouseley. - St. James afastou-se da maqueta. Era um edifício baixo, parecido com um bunker, excepto a entrada que se erguia dramaticamente como uma obra desenhada por Lê Corbusier.
- Sim - murmurou Ruth. - É um homem natural aqui de Guernsey. Já muito idoso. Tem mais de noventa anos. Foi um herói da Resistência na ilha. - Calou-se, mas era óbvio que aguardava o que Simon tinha a dizer. Lera o nome e a profissão de St. James no cartão que ele lhe entregara de imediato se dispusera a conversar com ele. Mas era evidente que ia esperar para ver o que ele queria antes de lhe oferecer voluntariamente mais informações.
- Esta é a versão do arquitecto daqui? - perguntou St. James. - Sei que ele fez uma maqueta para o seu irmão.
- Sim - confirmou Ruth. - Esta foi feita por um profissional de St. Peter Port, mas, no final, não foi a sua planta que Guy escolheu.
- Porque seria? Parece bastante adequada, não é verdade?
- Não faço idéia. O meu irmão não me disse.
- Deve ter sido uma desilusão para o arquitecto de cá. Dá idéia de que se esforçou muito. - St. James curvou-se de novo sobre a maqueta.
Ruth Brouard agitou-se na cadeira, mexendo o tronco como se procurasse uma posição mais cômoda, ajustando os óculos e cruzando as pequenas mãos no colo.
- Senhor St. James, que posso fazer por si? - perguntou. - Disse-me que tinha vindo por causa da morte do Guy. Como trabalha em medicina forense... tem novidades para mim? É por isso que cá veio? Disseram-me que iam analisar mais detalhadamente os órgãos dele. - Hesitou, provavelmente devido à dificuldade em se referir às partes do irmão em vez de ao todo. - Disseram-me que iriam analisar os órgãos e os tecidos do meu irmão - continuou momentos depois, com a cabeça baixa. - E também outras coisas. Como o senhor veio de Londres, talvez me tenha vindo informar. Embora se alguma coisa tivesse sido descoberta... alguma coisa inesperada... certamente o senhor Lê Gallez teria vindo dizer-mo pessoalmente, não é verdade?
- Ele sabe que aqui vim, mas não foi ele que me mandou - disse-lhe St. James. Depois explicou-lhe cautelosamente a missão que o trouxera a Guernsey. E concluiu dizendo: - O advogado de Miss River disse-me que a senhora era a testemunha com provas sobre as quais o inspector Lê Gallez está a construir o seu caso. Vim perguntar-lhe que provas são essas.
Ela afastou o olhar.
- Miss River - disse.
- Sei que ela e o irmão foram hóspedes da casa uns dias antes do assassínio.
- E ela pediu-lhe que a ajudasse a fugir da culpa do que fez ao Guy?
- Ainda não a conheço - disse St. James. - Nem falei com ela.
- Então, porquê?
- Ela e a minha mulher são velhas amigas.
- E a sua mulher não acredita que a amiga possa ter assassinado o meu irmão.
- Há a questão do motivo - disse St. James. - Miss River conheceu bem o seu irmão? Há alguma possibilidade de já o haver conhecido antes desta visita? O irmão dela não me disse tal coisa, mas pode nem sequer saber. E a senhora?
- Se ela alguma vez esteve em Inglaterra é possível. Pode ter conhecido o Guy. Mas só aí. Guy nunca esteve na América. Tanto quanto eu saiba.
- Tanto quanto a senhora saiba?
- Pode ter ido alguma vez e não me ter dito, mas não faço idéia porquê. Ou sequer quando. Se foi terá sido já há muito tempo. Não foi desde que viemos para Guernsey. Ter-mo-ia dito. Sempre que ia de viagem nos últimos nove anos, e fê-lo poucas vezes depois de se ter reformado, dizia-me onde poderia ser contactado. Nisso eu podia ter confiança. Podia ter confiança em muitas outras coisas.
- Não dava a pessoa alguma razões para que o matassem, pois não? A pessoa alguma, excepto China River que parece também não ter razão para tal?
- Não sei explicar.
St. James afastou-se da maqueta do museu e aproximou-se de Ruth Brouard, sentando-se no outro cadeirão do outro lado de uma mesinha redonda. Sobre ela havia uma fotografia em que ele pegou: uma enorme família judia reunida em redor de uma mesa a jantar, os homens com solidéus, as mulheres atrás deles, com livrinhos abertos nas mãos. Entre eles havia duas crianças, uma menina e um rapazinho. A menina usava óculos, o rapaz suspensórios às riscas. O patriarca encontrava-se à cabeça do grupo, preparando-se para cortar um enorme pão ázimo. Atrás dele, sobre o aparador, havia um candelabro de prata com velas acesas a iluminarem um quadro na parede e, a seu lado, uma mulher, certamente a sua esposa, inclinava a cabeça para ele.
- É a sua família? - perguntou a Ruth Brouard.
- Vivíamos em Paris - replicou ela. - Antes de Auschwitz.
- Lamento.
- Acredite que nunca se lamenta o suficiente. St. James concordou.
- Bem sei.
O facto de ele o ter admitido, juntamente com o modo delicado com que colocou a fotografia sobre a mesa pareceu até certo ponto satisfazer Ruth Brouard. Olhou para a maqueta que estava no centro do aposento e falou em voz baixa e sem rancor.
- Só lhe posso dizer o que vi nessa manhã, senhor St. James. Só lhe posso dizer aquilo que fiz. Fui à janela do meu quarto e vi o Guy sair de casa. Quando ele chegou às árvores e passou para o caminho, ela seguiu-o. Eu via-a.
- Tem a certeza de que se tratava de China River?
- A princípio não - respondeu ele. - Venha. vou mostrar-lhe. Levou-o por um corredor sombrio, cujas paredes estavam cobertas
de gravuras antigas da casa grande. Perto da escada abriu uma porta e conduziu St. James àquilo que era certamente o quarto dela: bem mobilado mas com simplicidade, com antigüidades e uma enorme tapeçaria bordada com várias cenas, todas elas combinando-se para contar uma história à maneira das tapeçarias anteriores aos livros. Aquela história em particular falava de uma fuga nocturna, enquanto um exército estrangeiro se aproximava. Uma viagem apressada pela costa, uma travessia do mar bravo, um desembarque no meio de estranhos. Havia duas personagens em todas as cenas: uma menina e um rapazinho. Ruth Brouard aproximou-se da janela e abriu o reposteiro.
- Venha cá ver - disse a St. James.
St. James aproximou-se e viu que a janela dava para a parte da frente da casa. Lá em baixo, o caminho dava a volta a um canteiro de terra plantada com relva e arbustos. Depois o relvado chegava até uma casinha distante, rodeada de árvores que se estendiam ao longo do caminho e chegavam de novo à casa principal.
O irmão saíra pela porta da frente conforme era seu hábito, disse Ruth Brouard a St. James. Ela vira-o atravessar o relvado e desaparecer por entre as árvores. China River saíra de entre as árvores e seguira-o. Vira-a perfeitamente. Estava vestida de negro, com a capa e o capuz puxado para cima, mas Ruth sabia tratar-se de China.
- Porquê? - Quis saber St. James. Parecia-lhe evidente que alguém pudesse ter pegado na capa de China. O feitio permitia que tivesse sido
usada tanto por um homem como por uma mulher. E o capuz não sugerira a Miss Brouard...
- Não me baseei só nisso, senhor St. James. - disse-lhe Ruth Brouard. - Achei estranho que ela seguisse o Guy àquela hora da manhã porque não me parecia haver razão para que o fizesse. Achei inquietante. Pensei que poderia estar enganada sobre o que acabara de ver, por isso fui ao quarto dela e ela não estava.
- Talvez estivesse noutro sítio da casa?
- Fui ver à casa de banho, à cozinha, ao escritório do Guy, à saleta.
À galeria lá de cima. Não estava cá em casa, senhor St. James, porque tinha saído atrás do meu irmão.
- A senhora tinha os seus óculos postos, quando a viu lá fora por entre as árvores?
- Foi por isso que fui ver a casa toda - disse Ruth. - Não tinha os óculos postos quando olhei pela janela. Pareceu-me ser ela... aprendi a aperceber-me bem dos tamanhos e das formas... mas quis ter a certeza.
- Porquê? Suspeitava dela? Ou de qualquer outra pessoa?
Ruth voltou a fechar as cortinas. Alisou com a mão o tecido macio e disse ao mesmo tempo:
- Outra pessoa? Não. Não. Claro que não. - Mas o facto de ela ter falado enquanto arranjava as cortinas, incentivou St. James a continuar.
- Quem mais estava em casa a essa hora, Miss Brouard? - perguntou.
- O irmão dela. Eu. E Adrian. O filho do Guy.
- Como eram as relações dele com o pai?
- Boas. Óptimas. Não se viam muito. Foi o que a mãe conseguiu há muito tempo. Mas quando estavam um com o outro eram muito amigos. Naturalmente que tinham as suas diferenças, que pai e que filho não as têm? Mas essas diferenças não eram graves. Nada que não se pudesse resolver.
- Tem a certeza disso?
- Claro que tenho. O Adrian é... é um bom rapaz, mas teve uma vida difícil. O divórcio dos pais foi muito desagradável e ele foi apanhado no meio. Gostava muito de ambos mas foi obrigado a escolher. Esse tipo de coisas causa mal-entendidos. Causa afastamentos. E não é justo! - Ela pareceu aperceber-se de que falava em voz emocionada e tentou controlar-se. - Gostavam um do outro como qualquer pai e qual quer filho gostam quando nenhum deles faz idéia de como o outro é.
- Onde pensa que esse tipo de amor pode levar?
- Não ao assassinio. Garanto-lhe.
- A senhora gosta muito do seu sobrinho - observou St. James.
- Os parentes de sangue significam mais para mim do que a maioria das pessoas - disse ela. - Pelas razões óbvias.
St, James acenou afirmativamente. Sabia que era verdade. Também viu outra realidade mas não a quis explorar naquele momento.
- Gostaria de ver a estrada por onde seguiu o seu irmão quando foi tomar banho naquela manhã, Miss Brouard.
- Fica a oriente da casa do caseiro - respondeu ela. - vou ligar para os Duffys a dizer-lhes que lhe dei autorização para lá ir.
- É uma praia privada?
- Não. A praia não. Mas se passar pela casa do Kevin ele quererá saber porque lá foi. Protege-nos muito. Ele e a mulher.
Mas não protegeu o suficiente, pensou St. James.
Capítulo 10
- JAMES ENCONTROU-SE DE NOVO com DEBORAH QUANDO ESTA SAÍA debaixo dos castanheiros do caminho. Contou rapidamente ao marido o seu encontro no jardim japonês e indicou-lhe onde ficava, apontando para sudoeste e para um bosque de árvores. Parecia ter esquecido a sua anterior irritação e ele sentiu-se grato, lembrando-se de novo das palavras do sogro para descrever Deborah quando St. James com uma formalidade divertida mas também terna e delicada, lhe pedira autorização para casar com ela: "A Deb é raiva e não se engane, meu rapaz", dissera-lhe Joseph Cotter. "Vai dar-lhe muito que fazer, mas pelo menos esquecerá tudo num abrir e fechar de olhos."
Descobriu que ela fizera um bom trabalho com o rapaz. Apesar das reticências, a sua natureza compadecida aproximava-a das pessoas de um modo que ele próprio nunca conseguira. Adequara-se à escolha da sua profissão - as pessoas posavam para as suas fotografias de muito melhor vontade quando sabiam que quem estava por detrás da câmara partilhava com eles uma humanidade comum - tal como o seu temperamento regular e analítico se adequara à sua. E o êxito de Deborah com Stephen Abbott sublinhava o facto de que naquela situação seriam necessárias mais do que a técnica e as capacidades laboratoriais.
- Então aquela outra mulher que veio pegar na pá - concluiu Deborah -, a do chapéu enorme? Parece que era a namorada actual e nada tinha a ver com a família. Embora pareça que estava à espera de vir a ter.
- "Viu o que ela fez" - murmurou St. James. - O que achas que o levou a dizer isso, meu amor?
- O que ela fez para se tornar atraente, penso eu - disse Deborah. Reparei... bom, seria difícil não o fazer, não é verdade? E aqui não é tão vulgar como nos Estados Unidos, onde os seios grandes parecem ser uma espécie de... fixação nacional, julgo eu.
- Ela não poderia ter feito outra coisa - perguntou St. James. - Como eliminar o amante quando ele arranjou outra mulher?
- Porque o faria se esperava casar com ele?
- Talvez precisasse de se ver livre dele.
- Porquê?
- Obsessão. Ciúme. Raiva que só se pode acalmar de uma maneira. Ou talvez uma coisa mais simples. Talvez ela seja lembrada no testamento dele e quisesse eliminá-lo antes que ele pudesse modificá-lo em prol de qualquer outra pessoa.
- Mas isso não leva em consideração o problema que enfrentamos. Como pôde uma mulher empurrar uma pedra para dentro da garganta do Guy Brouard, Simon? Qualquer mulher?
- Voltamos ao beijo do comissário Lê Gallez - disse St. James. Embora seja muito pouco provável. "Ela tinha-o perdido." Haverá outra mulher?
- Não pode ser a China - garantiu Deborah.
St. James escutou o tom determinado da voz da mulher.
- Então, tens a certeza absoluta.
- Ela disse-me que acabou tudo com o Matt. Ama-o desde os dezassete anos. Não percebo como se envolveria com outro homem assim tão depressa.
St. James sabia que aquela conversa os conduziria a terreno escorregadio, ocupado também por Deborah. Não tinham passado assim tantos anos desde que Deborah se separara dele e encontrara outro apaixonado. O facto de nunca terem discutido a rapidez e prontidão do seu envolvimento com Tommy Lynley não significava que este não resultasse do desgosto e enorme vulnerabilidade da parte dela.
- Mas ela agora estaria mais vulnerável que nunca, não achas? Não será possível que precisasse de uma paixão rápida... qualquer coisa que o Brouard pudesse ter tomado mais a sério do que ela tomou... para se animar?
- Ela não é assim
- Mas supondo...
- Muito bem, supondo. Mas ela de certeza que não o matou, Simon. Tens de concordar de que precisaria de um motivo.
Ele concordou. Mas também acreditava que uma noção preconcebida de inocência era tão perigosa como uma noção preconcebida de Iculpa. Por isso, quando lhe contou o que soubera da parte de Ruth Brouard, concluiu cautelosamente as suas palavras da seguinte forma: - Ela procurou a China em toda a casa e não conseguiu encontrá-la. - Isso é o que diz a Ruth Brouard - comentou razoavelmente Deborah. - Pode estar a mentir.
- De facto, pode. Os River não eram os únicos hóspedes desta casa. i Adrian Brouard também cá estava. l; - com razões para matar o pai? - Não as podemos ignorar.
- Ela é parente de sangue do rapaz - disse Deborah. - E, dada a sua história... os pais dela, o Holocausto... eu diria que, antes de mais nada, ela faria todos os possíveis para proteger um parente. Não farias o mesmo? - Faria.
Percorriam a alameda em direcção ao atalho. St. James conduziu a mulher por entre as árvores em direcção ao carreiro que Ruth Brouard lhe dissera ir dar à praia, onde o irmão tomava todos os dias o seu banho, Ao passar pela casa de pedra que já antes tinham observado, ele notou que duas das janelas davam directamente para o caminho. Segundo lhe [tinham dito, era ali que viviam os caseiros e os Duffy, concluiu St. James, podiam muito bem ter alguma coisa a acrescentar ao que Ruth Brouard já lhe dissera.
E O carreiro tornou-se mais frio e húmido à medida que se internavam na floresta. A fertilidade natural da terra ou a determinação do homem tinham criado um impressionante amontoado de folhagem que escondia o caminho do resto da propriedade. Mais perto floresciam rododendros e, entre eles, crescia meia-dúzia de variedades de fetos. As folhas caídas do Outono já decompostas tinham tornado o solo esponjoso e lá em cima os ramos nus dos castanheiros deixavam entrever o túnel verde que criavam no Verão. Apenas o ruído dos passos de ambos quebrava o silêncio. Porém o silêncio não durou. St. James estendia a mão à mulher para a ajudar a atravessar uma poça de água, quando de dentro dos arbustos surgiu um cãozinho de pêlo eriçado que se pôs a ladrar para eles. - Meu Deus! - Deborah sobressaltou-se e depois soltou uma gargalhada. - Oh, mas é tão querido! Anda cá, cãozinho. Não te fazemos mal. Estendeu-lhe a mão. Ao fazê-lo, um rapaz de casaco encarnado surgiu a correr do mesmo caminho de onde tinha vindo o cão e arrebatou o animal nos seus braços.
- Desculpa - disse St. James com um sorriso. - Parece que assustámos o teu cão.
O rapaz não disse nada. Olhou para St. James e para Deborah enquanto o cão continuava a ladrar com ar protector.
- Miss Brouard disse que este era o caminho para a praia - disse St. James. - Será que não nos enganámos?
O rapaz continuou sem pronunciar palavra. Estava num estado deplorável, com o cabelo oleoso pegado à cabeça e a cara cheia de riscos de sujidade. As mãos com que segurava o cão estavam negras de óleo e as calças pretas tinham gordura agarrada a um joelho. Recuou vários passos.
- Não te assustámos também a ti, pois não? - perguntou Deborah. Não pensávamos que alguém pudesse...
Deborah calou-se ao ver o rapaz dar meia volta e partir a correr na mesma direcção em que tinha vindo. Trazia uma mochila velha que lhe batia nas costas como um saco de batatas.
- Mas que diabo... - murmurou Deborah
St. James disse para consigo: "Será melhor vermos do que se trata."
Chegaram ao carreiro depois de passarem por um portão a alguma distância da alameda. Viram que os carros das pessoas que tinham assistido ao funeral já tinham partido, deixando o caminho desobstruído, de modo que foi fácil encontrar a descida para a praia, a uma centena de metros da propriedade dos Brouard.
A descida era um caminho um pouco mais largo que um atalho e serpenteava em direcção à água. Estava ladeado por muros rochosos e vegetação, bem como por um ribeiro que corria por entre as pedras da base do muro. Ali não havia casas ou cabanas, apenas um único hotel, encerrado no Inverno e rodeado de árvores, metido na depressão da colina, com todas as janelas fechadas.
Ao longe, por baixo do local em que St. James e a mulher se encontravam, surgia o canal da Mancha, iluminado pelos fracos raios de sol que conseguiam atravessar as nuvens. Ouviam também o som das gaivotas por entre maciços de granito no cimo dos rochedos que rodeavam a praia em forma de ferradura. Esta era a baía propriamente dita. Aqui crescia a urze em abundância e, nos locais em que o solo era mais profundo, havia moitas de ramos nus, marcando os sítios em que os espinheiros e as silvas floresciam na Primavera.
Ao fundo do caminho um pequeno parque de estacionamento deixava uma espécie de impressão digital na paisagem. Nele não se avistavam quaisquer carros, nem seria provável que isso acontecesse naquela época do ano. Era um local perfeito para um banho privado, ou uma actividade sem testemunhas.
Um aterro protegia o parque de estacionamento da erosão das marés e de um lado uma rampa descia até à água, sobre a qual flutuava um tapete de algas, do tipo que em qualquer outra estação do ano estaria infestada de moscas e outros insectos. Contudo, em meados de Dezembro, nada ali se mexia e St. James e Deborah puderam percorrer o seu caminho e assim ter acesso à praia. A água batia ritmicamente contra a areia e as pedras.
- Não há vento - comentou St. James enquanto observava a entrada da baía a alguma distância de onde se encontravam. - É muito bom para tomar banho.
- Mas é terrivelmente gelado - disse Deborah. - Não percebo como ele conseguia. Em Dezembro? É extraordinário, não achas?
- Há pessoas que gostam de extremos - disse St. James. - Vamos dar uma volta.
- O que é que devemos procurar exactamente?
- Alguma coisa que tenha escapado à polícia.
O local do assassínio foi fácil de encontrar: as marcas da cena do crime ainda estavam assinaladas com um bocado de fita amarela, duas caixas de película abandonadas pelo fotógrafo da polícia e um bocado de gesso que tinha espirrado quando alguém tirara o molde de uma pegada. St. James e Deborah começaram nesse local e trabalharam lado a lado, descrevendo uma circunferência cada vez maior.
O progresso foi lento. Deram voltas e voltas, rodeando as pedras maiores que encontravam, afastando cuidadosamente as algas, tocando na areia com as pontas dos dedos. Assim passou uma hora enquanto examinavam a pequena praia, descobrindo a tampa de um boião de comida de bebê, uma fita debotada, uma garrafa vazia de água Evian e setenta e oito pence em trocos.
Quando chegaram ao muro, St. James sugeriu que começassem de lados opostos e trabalhassem na direcção um do outro. Quando se encontrassem, disse ele, avançariam, para que ambos tivessem inspeccionado o muro a todo o comprimento.
Tinham de prosseguir com toda a cautela, pois havia pedras mais pesadas aqui e ali e fendas onde objectos poderiam cair. Mas embora qualquer dos dois se movesse a passo de caracol, encontraram-se a meio de mãos vazias.
- Não me parece que vá dar grande resultado - comentou Deborah.
- Pois não - concordou St. James. - Mas há sempre uma possibilidade. - Por uns momentos encostou-se à parede, com os braços cruzados a olhar para o Canal. Reflectiu sobre as mentiras: sobre quem as diz e sobre quem acredita nelas. Sabia que por vezes as pessoas eram iguais em ambos os casos. Se se dissesse a mesma coisa durante muito tempo todos acreditavam.
- Estás preocupado, não estás? - perguntou-lhe Deborah. - Se não encontrarmos nada...
Ele pôs-lhe o braço em redor da cintura e beijou-lhe a cabeça.
- Vamos continuar - disse-lhe, mas não lhe confessou nada do que para ele era óbvio: se encontrassem alguma coisa poderia ainda ser mais prejudicial do que não encontrar absolutamente nada.
Continuaram como caranguejos ao longo de uma parede, St. James mais inibido pelo aparelho da perna, o que dificultava um pouco mais para ele do que para a mulher os seus movimentos sobre as pedras maiores. Talvez fosse essa a razão do grito de alegria - marcar a descoberta de uma coisa até aí por descobrir - que Deborah soltou quinze minutos mais tarde, já na parte final da busca.
- Aqui! - exclamou ela. - Simon, olha para aqui.
Ele voltou-se e viu que ela tinha chegado à parte final do muro, onde a rampa mergulhava na água. Deborah apontava para o canto onde o muro e a rampa se juntavam e, quando St. James se aproximou, baixou-se para ver melhor o que tinha encontrado.
- O que é? - perguntou ele assim que chegou perto dela.
- Uma coisa metálica. Não quis apanhá-la.
- Está lá muito em baixo?
- Mais ou menos trinta centímetros, acho eu - respondeu ela. - Se quiseres que eu...
- Toma. - Entregou-lhe um lenço.
Para chegar ao objecto, Deborah teve de firmar uma perna numa fenda irregular, coisa que fez cheia de entusiasmo. Baixou-se o mais que pôde para agarrar aquilo que tinha visto lá de cima.
Era um anel. Deborah trouxe-o na palma da sua mão, dentro do lenço para que St. James o inspeccionasse.
Parecia feito de bronze e era um anel de homem. Estava decorado com uma caveira e tíbias cruzadas. Sobre a caveira havia os números Ij9/40 e por baixo quatro palavras gravadas em alemão. St. James semifechou os olhos para as conseguir ler: Die Festung im Westen1.
- Data da guerra - murmurou Deborah enquanto também ela exaIninava o anel. - Mas não pode estar aqui há tantos anos.
- Não. Pelo estado em que está, com certeza que não.
" - Então, o quê...
St. James enrolou-o no lenço, mas deixou-o na mão de Deborah.
- Temos de ver de que se trata - disse. - Lê Gallez vai querer tirar-lhe as impressões digitais. Não devem ser muitas, mas mesmo uma parcial talvez ajude.
- Como é possível que não o tenham encontrado? - perguntou Deborah e St. James percebeu que ela nem esperava resposta.
- O inspector Lê Gallez - disse ele, mesmo assim - considerou suficiente o testemunho de uma mulher idosa e sem óculos. Acho que poderemos concluir que não está muito interessado em procurar coisa alguma que o possa contrariar.
Deborah examinou o pequeno embrulho que tinha na mão e depois olhou para o marido.
- Isto pode ser uma prova - disse ela. - Para além do cabelo que têm, para além da pegada, para além da declaração de uma testemunha que pode muito bem estar a mentir. Isto pode mudar tudo, não é verdade, Simon?
- De facto pode - respondeu ele.
Margaret Chamberlain felicitou-se por ter insistido em que se lesse
o testamento logo a seguir à recepção do funeral. Já havia dito, "Chama o advogado, Ruth. Manda-o vir cá depois do funeral", e quando ela lhe tinha dito que o advogado de Guy estaria presente de qualquer modo
- era outro dos enfadonhos profissionais da ilha que teria de ser recebido no funeral -, pensou que estava tudo bem. E para o caso de a cunhada mudar E de idéias à última hora, Margaret foi ter com o homem enquanto este comia uma sanduíche de caranguejo. Miss Brouard, informou-o ela, queria tratar do testamento assim que os últimos convidados abandonassem a recepção. Tinha trazido os papéis, não é verdade? Sim? Ainda bem. Haveria alguma
1 A fortaleza no ocidente. Em alemão no original. [N. da T. ]
dificuldade em tratar dos pormenores logo que tivessem privacidade suficiente? Não. Óptimo.
Por isso agora estavam reunidos, mas Margaret não estava satisfeita com a constituição do grupo.
Ruth tinha feito mais do que contactar o advogado a insistências de Margaret. Tinha também convocado uma impressionante galeria de personagens para ouvirem o que o homem tinha a dizer. Aquilo queria dizer apenas uma coisa: Ruth sabia os pormenores do testamento e este favorecia outras pessoas estranhas à família. Senão, por que razão convidar uma assembléia pessoas praticamente estranhas para se juntarem à família naquela ocasião grave? E apesar de Ruth os receber carinhosamente e os mandar sentar na saleta eram estranhos, coisa que se poderia definir como - segundo as idéias de Margaret - pessoas não directamente ligadas pelo sangue ou casamento com o defunto.
Anais Abbott e a filha estavam entre eles, a primeira tão pesadamente maquilhada como no dia anterior e a segunda tão escanzelada e sem graça como de costume. A única coisa diferente era a roupa. Anais conseguira enfiar-se num fato preto cuja saia lhe cobria o pequeno traseiro como a película aderente sobre um melão, enquanto Jemima vestira um casaquinho curto com a mesma graça que um homem do lixo usa a sua bata. O filho, amuado, desaparecera, porque quando o grupo se juntara na saleta do primeiro andar sob outra das enfadonhas tapeçarias de Ruth representando mais um episódio da Vida de Uma Pessoa Refugiada - esta tinha a ver com uma criança que crescera numa família de acolhimento... como se fosse a única a suportá-lo nos dias do pós-guerra - Anais torcia as mãos e dizia a quem a quisesse ouvir que "Stephen anda não sei por onde... Está inconsolável" e depois os seus olhos marejavam-se-lhe de lágrimas numa aborrecida exibição de devoção eterna para com o falecido.
Juntamente com os Abbott estavam também os Duffy. Kevin - gerente, guardião, caseiro de Lê Reposoir e aparentemente tudo aquilo que Guy precisara que ele fosse. Afastara-se de toda a gente e ficara à janela a observar os jardins lá em baixo, aderindo à sua eterna política de se limitar a responder às pessoas com um resmungo. A mulher, Valerie, estava sentada com as mãos cruzadas no colo. Olhava ora para o marido, ora para Ruth, ora para o advogado que abria a pasta. Parecia, quanto muito, atônita por a terem incluído naquela cerimônia.
Depois, havia Frank. Margaret fora-lhe apresentada depois do enterro. Frank Ouseley, segundo lhe tinham dito, solteirão inveterado e amigo de Guy. Seu amigo do peito se era verdade o que lhe haviam contado. Tinham descoberto uma paixão mútua por coisas relacionadas com a guerra e estavam ligados por isso o que bastava para que Margaret olhasse o homem com suspeita. Soubera que ele estava por trás do maldito projecto do museu. Era por causa dele que sabia-se lá quantos milhões de Guy seriam desviados na direcção dele e não na do filho dela. Margaret achou-o repugnante com o seu fato de tweed malfeito e os dentes da frente com capas de má qualidade. E era gordo, o que também falava contra ele. A barriga significava gulodice e por sua vez ganância.
E naquele momento estava a falar com Adrian. Adrian que, como era óbvio, não era capaz de o reconhecer como adversário, apesar de estar diante dele e a respirar o mesmo ar. Se as coisas se passassem como Margaret pensava que se iriam passar nos trinta minutos seguintes, ela e o filho poderiam muito bem ver-se em palpos de aranha com aquele homem. Pelo menos, Adrian poderia aperceber-se disso e, quanto muito, manter as distâncias.
Margaret suspirou. Observou o filho e reparou pela primeira vez o muito que se parecia com o pai. Reparou também que fazia tudo para disfarçar essas parecenças, cortando o cabelo muito curto, para que não se notasse que era encaracolado como o de Guy, vestindo-se mal, rapando completamente o rosto para evitar a mais remota parecença com a barba bem cortada de Guy. Mas nada podia fazer em relação aos olhos, iguais aos do pai. Olhos de cama, era assim que ela lhes chamava, de pálpebras pesadas e sensuais. E nada podia fazer também quanto ao tom da pele, mais escura do que a da maioria dos ingleses.
Foi até junto da lareira onde ele conversava com o amigo do pai e deu-lhe o braço.
- Vem sentar-te ao pé de mim, querido - disse ao filho. - Posso roubar-lho, senhor Ouseley?
Não havia necessidade de resposta da parte de Frank Ouseley, pois Ruth tinha fechado a porta da sala, indicando que todos os interessados estavam presentes. Margaret levou Adrian até ao sofá junto da mesa em que o advogado - um indivíduo muito magro de nome Dominic Forrest - tinha poisado os seus papéis.
Margaret não pôde deixar de reparar que todos tentavam parecer o mais desprendidos possível, incluindo o seu próprio filho com quem ela tivera de insistir para que viesse àquela reunião. Atirara-se para cima do sofá e o seu corpo era uma perfeita declaração do pouco que se preocupava em ouvir aquilo que o pai tencionara fazer com o dinheiro.
Margaret, pelo contrário, preocupava-se. Por isso, quando Dominic Forrest pôs os seus óculos de meia-lua e aclarou a garganta, prestou toda a atenção. O advogado deixara bem claro que aquela leitura formal do testamento era completamente irregular. O melhor teria sido que os beneficiados tivessem tomado conhecimento da herança num local que lhes permitisse absorver as informações e fazerem as perguntas que quisessem sem passarem pela situação delicada de se exporem às partes que não tinham qualquer interesse no seu bem-estar.
Isto significava em linguagem legal que o senhor Forrest teria preferido receber separadamente cada um dos contemplados para depois lhes cobrar os honorários individualmente. Que homenzinho irritante.
Ruth inclinava-se como um pássaro sobre uma cadeira Queen Ann, perto de Valerie. Kevin deixou-se ficar à janela e Frank junto à lareira. Anais Abbott e a filha vieram sentar-se num canapé e enquanto uma torcia as mãos a outra tentava esconder algures as suas pernas de girafa, para que estas não parecessem intrometer-se.
O senhor Forrest sentou-se e sacudiu os papéis com um movimento do pulso. As últimas vontades e o testamento do senhor Brouard, começou ele, tinham sido escritos, assinados e testemunhados no dia 2 de Outubro do corrente ano. Era um documento simples.
Margaret não gostou do caminho que as coisas estavam a tomar. Preparou-se para ouvir notícias desagradáveis, o que afinal provou ser sensato porque, em muito poucas palavras, o senhor Forrest revelou que toda a fortuna de Guy consistia numa única conta bancária e num portefólio de acções. A conta e o portfólio, segundo as leis de Guernsey - fossem elas quais fossem - seriam divididas igualmente em duas partes. A primeira parte, mais uma vez segundo as leis de Guemsey, seria distribuída em partes iguais pelos três filhos de Guy. A segunda parte seria dividida entre um tal Paul Fielder e uma tal Cynthia Moullin.
Ruth, irmã adorada e companheira de toda a vida do falecido não era sequer mencionada. Mas levando em conta as propriedades que Guy possuía em Inglaterra, França, Espanha e nas Seychelles, levando em conta os seus investimentos no estrangeiro, as suas acções de todos os tipos, as obras de arte - já para não falar em Lê Reposoir - que não tinham sido mencionados no testamento, não era difícil ver como Guy Brouard tinha manifestado os seus sentimentos acerca dos filhos, ao mesmo tempo que se encarregava da irmã. Deus do céu, pensou Margaret, deveria ter legado tudo a Ruth enquanto estava vivo.
Um silêncio, a princípio espantado, mas ofendido da parte de Margaret, recebeu a conclusão da leitura do senhor Forrest. A primeira coisa que ela pensou foi que Ruth tinha orquestrado todo aquele acontecimento para a humilhar. Ruth nunca gostara dela. Nunca, nunca, nunca tinha gostado dela. E durante os anos em que Margaret afastara Guy do filho, Ruth criara certamente um verdadeiro ódio por ela. Portanto seria com verdadeiro prazer que assistiria à retribuição de Margaret: não só por saber que a fortuna de Guy não era aquilo que parecia ser, mas também por ter de testemunhar o facto de o filho receber menos dessa fortuna do que dois completos desconhecidos chamados Fielder e Moullin.
Margaret voltou-se para a cunhada pronta a discutir. Mas viu no rosto de Ruth uma verdade em que não quis acreditar. Ruth empalidecera tanto que os seus lábios estavam cor da cal da parede e a sua expressão ilustrava perfeitamente que o testamento do irmão não era aquilo que ela esperara que fosse. Mas havia mais informações na combinação da expressão de Ruth e no convite que fizera aos outros para assistirem à leitura do testamento. De facto esses dois factos levaram Margaret a uma inevitável conclusão: Ruth não só sabia da existência de um testamento anterior, como também do seu conteúdo.
Senão, porquê convidar a última amante de Guy para estar presente? E Frank Ouseley? E também os Duffy? Só poderia haver uma razão: Ruth convidara-os de boa fé porque Guy deixara a cada um deles um legado.
Um legado, pensou Margaret. O legado de Adrian. O legado do seu próprio filho. Sentiu a visão obscurecida por um véu vermelho ao aperceber-se do que realmente tinha acontecido. O filho Adrian ficara sem o que lhe pertencia por direito... Fora excluído do testamento do pai apesar das bonitas palavras do pai quererem fazer parecer o contrário... Fora colocado na humilhante posição de receber menos do que duas pessoas - Fielder e Moullin, quem quer que fossem - que aparentemente não tinham qualquer parentesco com Guy... A grande maioria das posses do pai já tinha sido aplicada noutro lado... Ele fora praticamente despojado pelo homem que lhe dera o ser e depois o abandonara sem lutar por ele e que nada sentira nesse abandono, selando a rejeição que o abandono implicava roubando a namorada do filho quando essa namorada estava prestes - sim, prestes - a aceitar um compromisso que poderia ter mudado para sempre a vida de Adrian, que por fim o poderia ter tornado normal... era inconcebível. O acto em si era revoltante. E alguém teria de pagar.
Margaret não sabia como nem quem. Mas estava decidida a pôr tudo em ordem.
Pôr tudo em ordem significava arrebatar o dinheiro que o seu ex-marido tinha deixado a dois perfeitos desconhecidos. Afinal quem eram eles? Onde estavam? Mais importante ainda, o que tinham eles a ver com Guy?
Certamente que duas pessoas tinham a resposta a essas perguntas. Dominic Forrest era uma delas, ele que agora guardava os papéis na pasta e falava de contabilistas forenses, contas bancárias e corretores. Ruth era a outra, ela que se inclinava para Anais Abbott - logo para ela - para lhe segredar qualquer coisa ao ouvido. Margaret sabia que Forrest não daria mais nenhuma informação do que aquela que já dera durante a leitura do testamento. Mas Ruth, como sua cunhada e - mais importante ainda - como tia de Adrian, Adrian que fora tão descurado pelo pai... Sim, Ruth fomecer-lhe-ia os factos se ela a abordasse convenientemente.
Margaret apercebeu-se de que, a seu lado, Adrian tremia e voltou-se abruptamente. Estivera tão concentrada a pensar naquilo que haveria de fazer a seguir que nem levara em conta o impacto que aquele momento provavelmente teria no filho. Só Deus sabia como as relações de Adrian com o pai tinham sido difíceis, por Guy preferir coleccionar ligações sexuais em vez de se aproximar do filho mais velho. Mas era cruel ter sido tratado daquele modo, muito mais cruel do que ter sido separado da influência paterna. E agora sofria certamente.
Voltou-se então para ele, pronta a dizer-lhe que, naquele momento, ainda não tinham chegado ao fim de coisa alguma, pronta a fazer-lhe notar que havia caminhos legais, recursos, modos de fazer acordos, manipulações, ameaças para se chegar àquilo que se queria. Portanto não devia preocupar-se e, mais ainda, não devia acreditar que os termos do testamento do pai significavam outra coisa que não um momento de loucura inspirado sabia-se lá por quê... Preparava-se para dizer isto, para lhe rodear os ombros com o braço, para o animar e comunicar a sua vontade de ferro. Mas viu que nada daquilo seria necessário.
Adrian não estava a chorar. Nem sequer amuava.
O filho de Margaret ria em silêncio.
Valerie Duffy partira para a leitura do testamento preocupada por mais de uma razão, mas apenas ficou descansada em relação a uma delas depois da conclusão do acontecimento. Era o receio de perder a sua casa e o ganha-pão, coisa que poderia acontecer devido à morte de Guy Brouard. Mas como Lê Reposoir não tinha sido mencionado no testamento, provavelmente haveria já outras disposições a seu respeito e Valerie tinha a certeza de saber a quem a propriedade pertencia agora. Significava que ela e Kevin não seriam imediatamente postos na rua sem emprego, o que era um alívio.
Porém, mantiveram-se as restantes preocupações de Valerie. Tinham a ver com o ar taciturno de Kevin, a que geralmente não dava importância mas que agora a estava a pôr nervosa.
Ela e o marido atravessaram os jardins depois de terem saído de Lê Reposoir, para voltarem a casa. Valerie vira uma variedade de reacções no rosto daqueles que se tinham reunido na sala e lera nelas as esperanças perdidas. Anais Abbott confiara na exumação financeira da campa que escavara para si própria ao tentar agarrar-se ao seu homem. Frank Ouseley antecipara um legado suficientemente importante para poder construir um monumento a seu pai. Margaret Chamberlain esperara que o dinheiro fosse bastante para afastar permanentemente o filho de debaixo do seu tecto. E Kevin... bom, era mais do que evidente que Kevin tinha muito em que pensar e a maior parte das coisas não tinha nada a ver com testamentos e legados, por isso entrara na sala sem qualquer problema em relação a aspirações não realizadas.
Enquanto caminhavam lado a lado, lançou-lhe um olhar enviesado. Sabia que ele acharia estranho que ela não comentasse coisa alguma, mas queria ter cuidado com o que pudesse dizer. Havia coisas de que era melhor não falar.
- Achas que devemos telefonar ao Henry? - perguntou por fim ao marido.
Kevin desapertou a gravata e o botão de cima da camisa, pouco habituado ao tipo de vestuário com que os outros homens se sentiam à vontade.
- Suponho que em breve há-de saber. Não tenho dúvidas de que à hora do jantar toda a ilha estará ao corrente.
Valerie esperou que o marido dissesse mais alguma coisa, mas ele não o fez. Queria ficar aliviada mas o facto de ele não a encarar disse-Lhe que os seus pensamentos andavam à solta.
- Como será que ele vai reagir? - perguntou Valerie.
- Sei lá, querida - respondeu ele tão baixo que Valerie quase não o ouviu, mas o seu tom de voz foi suficiente para a fazer estremecer.
- Porque dizes isso, Kev? - perguntou ela na esperança de conseguir dele mais alguma coisa.
- O que as pessoas dizem que farão e o que realmente fazem são por vezes duas coisas diferentes, não é verdade? - disse, olhando-a.
Valerie sentiu-se completamente arrepiada. Esse arrepio invadiu-a pelas pernas até ao estômago, onde se enrolou como um gato esfolado e aí ficou, exigindo-lhe que fizesse alguma coisa. Esperou que o marido apresentasse o tópico mais óbvio, aquele em que certamente pensavam todos os que se encontravam na sala. Como ele não o fez disse-lhe:
- O Henry estava no funeral, Kev. Falaste com ele? Também foi ao enterro e à recepção. Viste-o lá? Suponho que isso significa que ele e o senhor Brouard foram amigos até ao fim. E isso é bom, penso eu. Seria terrível se o senhor Brouard morresse zangado com toda a gente e principalmente com o Henry. O Henry não gostaria que a amizade deles ficasse manchada. Ficaria com remorsos na consciência, não achas?
- Não - disse Kevin. - É horrível ter remorsos na consciência. Não se consegue dormir. É uma obsessão. - Deteve-se no caminho e Valerie imitou-o. Deixaram-se ficar sobre a relva. Uma súbita rajada de vento do canal trouxe consigo o ar salgado e a recordação do que tinha acontecido na baía.
- Vai, achas que o Henry vai estranhar o testamento? - perguntou ele depois de teren passado uns bons trinta segundos sem que Valerie tivesse feito qualquer comentário.
Ela desviou os olhos, sabendo que ele continuava a fitá-la para tentar fazê-la falar. Geralmente conseguia-o, porque apesar de terem vinte e sete anos de casados ela amava-o como no primeiro dia em que ele a despira e amara o corpo dela com o seu. Sabia o verdadeiro valor de ter esse tipo de relação com um homem e o medo de a perder levava-a a falar e a pedir perdão a Kevin pelo que fizera apesar da promessa de não o fazer, por causa do mal que poderia causar.
Mas a insistência do olhar de Kevin não foi suficiente para que se atrevesse a dar o salto. Manteve-se em silêncio, o que o obrigou a continuar.
- Não sei como não há-de estranhar. A estranheza vai exigir a resposta a algumas perguntas. E se ele não as fizer... - disse Kevin, olhando na direcção do lago dos patos, onde o pequeno cemitério continha os corpos das aves inocentes. - Há demasiadas coisas que significam poder para um homem e quando lhe retiram esse poder não se aceita de ânimo leve. Porque não dá vontade de rir. Se o homem já tinha identificado esse poder e se depois o perdeu, não terá vontade de dizer, "Ah, afinal não tinha grande importância, pois não?"
Valerie começou de novo a caminhar, decidida a não ser perfurada pelo olhar do marido como uma borboleta capturada, com a etiqueta mulher perjura por baixo.
- Achas que foi o que aconteceu, Kev? Que alguém perdeu o seu poder? Achas que é disso que se trata?
- Não sei - replicou ele. - E tu?
Uma mulher tímida ter-se-ia feito desentendida, mas Valerie era tudo menos tímida. Sabia exactamente por que razão o marido lhe fazia aquela pergunta e também onde levaria uma resposta directa: ao exame de promessas feitas e à discussão dos seus cumprimentos.
Mas para além das coisas que Valerie não queria ter presentes em conversa alguma com o marido, agora tinha também de levar em conta os seus sentimentos. Não era fácil viver sabendo que se era responsável pela morte de um homem bom. Era uma verdadeira provação viver todos os dias com aquilo na consciência. Mas saber que outra pessoa estava também ao corrente daquela responsabilidade tornava o fardo intolerável. Restava-lhe apenas uma solução: esquivar-se e ocultar as coisas. Qualquer decisão que tomasse não lhe pareceria ser certa, mas sim uma curta viagem no longo caminho das combinações quebradas e das responsabilidades por enfrentar.
Queria, mais do que tudo, reverter a roda do tempo. Mas não podia fazê-lo. Por isso continuou a andar firmemente em direcção a casa, onde, pelo menos, ambos tinham emprego e algo que ocupasse os seus espíritos, fazendo-os esquecer do abismo que se abria entre eles.
- Viste aquele homem a falar com Miss Brouard? - perguntou Valerie ao marido. - Aquele com a perna esquisita? Ela levou-o lá acima, no final da recepção. Não é uma pessoa conhecida por estas bandas. Nunca o tinha visto, por isso fiquei a pensar... Será o médico dela? Ela não está bem, sabes, não sabes, Kev? Tem tentado escondê-lo, mas agora está pior. Quem me dera que ela dissesse alguma coisa, para que eu a pudesse ajudar mais. Compreendo porque não o fez enquanto ele foi vivo... não queria preocupá-lo, não achas?... Mas agora que ele já não está entre nós... Podíamos fazer muito por ela, se ela nos deixasse, Kev.
Saíram do relvado e atravessaram a parte do caminho que passava por casa deles. Aproximaram-se da porta e Valerie ia à frente. Teria entrado imediatamente para pendurar o casaco e prosseguir com os seus afazeres, mas as palavras de Kevin obrigaram-na a deter-se.
- Quando vais deixar de me mentir, Vai?
A pergunta era exactamente aquela a que ela acabaria por ter de lhe responder. Implicava tanto sobre a natureza da sua relação que, noutras circunstâncias, o único modo de refutar a implicação seria ter dado ao marido aquilo que ele lhe estava a pedir. Mas na presente situação, Valerie não tinha de o fazer, porque ao mesmo tempo que Kevin pronunciara aquelas palavras, o homem de quem tinham acabado de falar naquele preciso momento atravessou os arbustos que ladeavam o caminho para a praia.
Vinha acompanhado por uma mulher ruiva. Ambos viram os Duffy e, depois de uma breve troca de palavras, aproximaram-se imediatamente. O homem disse que se chamava Simon St. James e apresentou-lhes a sua mulher, Deborah. Tinham vindo de Londres para o funeral, explicou ele e perguntou se os Duffy se importavam de ter uma conversa com eles.
O analgésico mais recente - aquele a que o seu oncologista chamara "a última coisa" que iam tentar - já não tinha força para acabar com a dor brutal nos ossos de Ruth. Chegara certamente a ocasião física de passar a utilizar morfina. Mas a ocasião mental, definida pelo momento em que ela admitira ter sido derrotada na sua tentativa de resolver como terminaria a vida, ainda não chegara. Até esse momento, Ruth estava disposta a seguir em frente como se a doença não lhe tivesse invadido o corpo como um exército de Vikings desgovernados.
Naquela manhã acordara com uma estranha agonia que não diminuíra à medida que o dia avançava. Nas primeiras horas concentrara-se em levar a cabo os seus deveres para com o irmão, a família, os amigos e a comunidade e assim conseguira ignorar o estrangulamento do fogo sobre quase todo o seu corpo. Mas à medida que as pessoas se iam despedindo, tornava-se-lhe cada vez/mais difícil ignorar o que tentava apoderar-se dela. A leitura do testamento proporcionara a Ruth uma momentânea distracção da doença. O que se seguiu à leitura continuou a ter o mesmo efeito.
A sua conversa com Margaret fora espantosamente breve. "Depois trato desta história", afirmara a cunhada, cheia de indignação e com a expressão de quem se encontra na presença de carne rançosa. "Por enquanto só quero saber quem diabo são eles."
Ruth sabia que Margaret se referia aos dois beneficiários do testamento de Guy para além dos filhos. Deu a Margaret a informação que esta desejava e viu-a sair a toda a pressa da sala pronta a envolver-se naquilo que Ruth sabia muito bem ser uma batalha dúbia.
Ruth ficou então com os outros. Frank Ouseley fora surpreendentemente fácil. Quando se aproximou dele para lhe dar uma explicação embaraçada, dizendo que certamente alguma coisa se poderia fazer em relação àquela situação pois Guy tinha tornado muito claros os seus sentimentos a respeito do museu da guerra, Frank respondera: "Não se preocupe com isso, Ruth", e despedira-se dela sem o mínimo rancor. Mas certamente que se sentiria desapontado, levando em conta o tempo e o esforço que ele e Guy tinham gasto no projecto da ilha, por isso, antes de ele sair, disse-lhe que, segundo ela, a situação não era desesperada, que tinha a certeza de que se poderia fazer alguma coisa para que os sonhos de ambos se realizassem. Guy sabia o quanto o projecto significava para Frank e certamente tencionara... Mas não podia dizer mais nada. Não podia trair o irmão e os seus desejos só por não compreender ainda o que ele tinha feito e porquê.
Frank tomara-lhe as mãos nas dele, dizendo:
- Mais tarde pensaremos no assunto. Agora não se preocupe.
Depois partira, deixando-a com Anais.
Síndrome pós-traumática, foi a palavra de que Ruth se lembrou quando, por fim, se encontrou sozinha com a amante do irmão. Anais sentava-se imóvel no mesmo canapé onde se instalara durante a leitura que Dominic Forrest fizera do testamento, sem ter alterado a postura, só que agora estava sozinha. A pobre Jemima desejava tanto sair dali que, quando Ruth murmurou, "E se fosses lá fora ver se encontras o Stephen, querida...", ela tropeçou na ponta do canapé e quase derrubou uma mesinha na sua pressa de abandonar a sala. Essa pressa era compreensível. Jemima conhecia perfeitamente a mãe e provavelmente previa o que lhe haveria de ser pedido nas semanas seguintes em termos de devoção filial. Anais precisaria tanto de uma confidente como de um bode expiatório. Só o tempo diria que papel desejaria que a filha representasse.
Por isso Ruth e Anais estavam sozinhas e Anais puxava a orla da pequena almofada do canapé. Ruth nem sabia o que haveria de lhe dizer. O irmão fora um homem bom e generoso e, apesar das suas fraquezas, já em testamentos anteriores se tinha lembrado de Anais e dos filhos de um modo que muito aliviaria a ansiedade dela. De facto, era assim que Guy procedia com as mulheres. De cada vez que arranjava nova amante por um período superior a três meses, alterava o testamento, de modo a reflectir como lhe era dedicado. Ruth sabia-o porque Guy sempre partilhara com ela o conteúdo desse testamento. Exceptuando o documento mais recente e final, Ruth lera todos e cada um na presença de Guy e do seu advogado, porque o irmão sempre quisera ter a certeza de que Ruth compreenderia o modo como ele desejava que o seu dinheiro fosse distribuído. O último testamento que Ruth lera fora feito cerca de seis meses depois de ele ter iniciado a sua relação com Anais Abbott, algum tempo após ambos terem regressado da Sardenha, onde, pelos vistos, pouco mais haviam feito do que explorar todas as permutas daquilo que um homem e uma mulher podiam fazer um ao outro com as respectivas partes físicas. Guy regressara com os olhos vítreos da viagem dizendo: "Esta é que é a tal, Ruth", e o seu testamento reflectira aquela crença optimista. Fora por essa razão que Ruth pedira a Anais que estivesse presente e podia agora ler no rosto da amante do irmão que esta acreditava que Ruth o tinha feito por maldade.
Ruth não sabia o que seria pior naquele momento, se permitir que Anais acreditasse que ela guardava um desejo tão grande de a ferir que permitira que todas as suas esperanças tivessem sido varridas em público, ou dizer-lhe que tinha existido um testamento anterior no qual lhe teriam sido deixadas quatrocentas mil libras, provavelmente a resposta ao seu actual dilema. Teria de escolher a primeira alternativa, decidiu Ruth. Embora não quisesse receber a antipatia de ninguém, falar a Anais de um testamento anterior resultaria provavelmente em ter de falar nas razões pelas quais tinha sido alterado.
Ruth sentou-se lentamente.
- Anais, lamento muito - murmurou. - Nem sei o que dizer mais. Anais voltou a cabeça como quem retoma aos poucos a consciência.
- Se ele queria deixar dinheiro a adolescentes, porque não o deixou aos meus filhos? - perguntou. - Jemima, Stephen. Era só fingimento...
- Apertou a almofada contra si. - Porque me fez ele isto, Ruth?
Ruth não sabia como explicar. Naquele momento, Anais estava arrasada. Seria desumano arrasá-la ainda mais.
- Creio que tem a ver com o facto de Guy ter perdido os seus próprios filhos, minha querida. Por terem ficado com as respectivas mães, por causa dos divórcios. Acho que via os outros como uma maneira de voltar a ser pai, quando já não podia ser pai dos seus.
- E os meus não lhe bastavam? - perguntou Anais num tom exigente. - A minha Jemima? O meu Stephen? Eram menos importantes? Contavam menos do que dois jovens praticamente desconhecidos...
- Para o Guy não o eram - corrigiu-a Ruth. - Há anos que conhecia o Paul Fielder e a Cynthia Moullin. - Há mais tempo do que te conhecia a ti e aos teus filhos, teve vontade de acrescentar, mas não o fez porque queria terminar aquela conversa antes que ela chegasse a um ponto de que não desejava falar. - Sabes o que é o GAYT, Anais. Sabes como o Guy estava comprometido com o seu papel de tutor.
- Insinuaram-se na vida dele, não foi? Sempre com a esperança... Foram apresentados quando aqui chegaram, deram uma volta pela casa e aperceberam-se de que se jogassem adequadamente as cartas, havia uma possibilidade de que ele lhes deixasse alguma coisa. Foi isso que aconteceu. Foi isso! - Atirou a almofada para o lado.
Ruth escutou e observou. Encantava-a a capacidade que Anais tinha de se enganar a si própria. Sentiu-se inclinada a perguntar-lhe: E não foi isso que tu vieste cá fazer, minha querida? Ligaste-te a um homem vinte anos mais velho do que tu por puro afecto? Acho que não, Anais. No entanto, preferiu dizer:
- Penso que ele tinha a certeza de que a Jemima e o Stephen não teriam dificuldades nesta vida orientados por ti. Ao passo que os outros dois... À partida não tinham as mesmas vantagens que os teus filhos. Quis ajudá-los.
- E eu? O que queria fazer de mim?
Ah, pensou Ruth. Agora chegámos à verdadeira questão. Mas não se sentindo disposta a responder àquela pergunta, limitou-se a repetir:
- Lamento mesmo muito, minha querida.
- Oh, claro que lamentas - replicou Anais. - Olhou em seu redor como se tivesse acordado completamente, como se só naquele momento se tivesse apercebido do sítio onde se encontrava. Pegou nas suas coisas, levantou-se e dirigiu-se para a porta. Aí fez uma pausa e voltou-se para Ruth.
- Ele fez-me promessas - afirmou. - Disse-me coisas, Ruth. Será que me mentiu?
Ruth deu-lhe uma resposta contida.
- Que eu saiba, o meu irmão nunca mentiu.
E nunca o fizera, nem uma vez, pelo menos a ela. Sois forte, dissera-lhe. Ne crains rien. ]e reviendrais te chercher, petite soeur1. E cumprira aquela simples promessa: viera buscá-la à família de acolhimento, onde fora depositada por um país em guerra, para quem duas crianças francesas
1 Sé forte... nada temas. Virei buscar-te, irmãzinha. Em francês no original. [N. da T. ]
refugiadas significavam apenas mais duas bocas para comer, mais dois lares para encontrar, mais dois futuros dependentes do regresso aleatório dos pais agradecidos. Como os pais não voltaram e a grande enormidade do que se passara nos campos de concentração se tornou conhecida, o próprio Guy viera buscá-la. Apesar de aterrorizado jurara ferozmente que cela n'a d'importance, dailleurs rien n'a d'importancel, para mitigar os receios da irmã. Passara a vida a provar que podiam viver sem pais - até sem amigos, se necessário fosse - numa terra que não tinham escolhido, mas que lhes tinha sido imposta pelas circunstâncias. Por isso Ruth nunca viu nem vira o irmão como mentiroso, apesar de saber que ele tivera de o ser para ter criado uma virtual teia de enganos, de modo a trair duas esposas e uma dezena de amantes, ao passar de mulher para mulher.
Quando Anais saiu, Ruth reconsiderou aquelas questões à luz das actividades de Guy nos últimos meses. Apercebeu-se de que se ele lhe mentira, mesmo que fosse por omissão - como era o caso do testamento de que ela não tivera conhecimento - também lhe poderia ter mentido acerca de outras coisas.
Levantou-se e foi ao escritório de Guy.
1 Não tem importância. Nada tem importância. Em francês no original. [N. da T. ]
Capítulo 11
- TEM A CERTEZA ABSOLUTA DAQUILO QUE VIU NESSA MANHÃ? - perguntou St. James. - Que horas seriam quando ela passou diante da casa? - Foi pouco depois das sete - replicou Valerie Duffy.
- Então ainda não era dia claro.
- Não, mas eu tinha ido à janela.
- Porquê?
Ela encolheu os ombros.
- Estava a beber uma chávena de chá. O Kevin ainda não se tinha levantado. O rádio estava ligado. Eu estava aqui a organizar mentalmente o dia, como é meu costume.
Estavam na sala da pequena casa dos Duffy, para onde Valerie os levara enquanto Kevin desaparecia na cozinha para pôr água ao lume e fazer chá. Até ao regresso dele, ficaram sentados sob o tecto baixo, por entre prateleiras de álbuns de fotografias, enormes livros de arte e todos os vídeos da irmã Wendy1. Mesmo normalmente mobilada seria difícil a sala conter confortavelmente quatro pessoas. com os livros empilhados no chão e vários montes de caixas junto às paredes - já para não falar nas dezenas de fotografias da família que havia por todo o lado a presença humana parecia excessiva. Tal como o era a prova - por sinal desnecessária - da surpreendente educação acadêmica de Kevin Duffy. Ninguém exigiria que um caseiro e ajudante tivesse um mestrado em História da Arte e talvez fosse por isso que, juntamente com as fotografias de família, as paredes contivessem os diplomas emoldurados dos graus
1 Freira, nascida na África do Sul, protagonista de filmes e documentários sobre arte. [N. da T. ]
universitários de Kevin e várias fotografias do licenciado, muito mais novo e sem esposa.
- Os pais do Kev acreditavam que o objectivo da instrução era a educação - disse Valerie, como que em resposta a uma pergunta óbvia mas não colocada. - Não eram de opinião que tivesse necessariamente de levar a um emprego.
Nenhum dos Duffy tinha questionado o aparecimento de St. James ou o seu direito de fazer perguntas acerca da morte de Guy Brouard. Depois de ele lhes ter explicado a sua profissão e entregue o seu cartão para que o observassem, tinham-se mostrado dispostos a falar com ele. Também não tinham feito perguntas sobre a razão por que viera com a mulher e St. James nada dissera que indicasse que a acusada de assassínio tivesse alguma coisa a ver com Deborah.
Valerie disse-lhes que geralmente se levantava às seis e meia da manhã para tratar do pequeno-almoço de Kevin antes de se dirigir à casa grande e preparar a refeição dos Brouard. Explicou que o senhor Brouard gostava de tomar um pequeno-almoço quente quando voltava da praia, por isso naquele dia em particular, ela levantara-se à hora do costume, apesar de se ter deitado muito tarde na noite anterior. O senhor Brouard comentara que iria nadar como sempre fazia e, conforme afirmara, passara junto à janela de Valerie enquanto esta ali bebia o chá. Meio minuto depois viu que era seguido por uma pessoa com uma capa vestida.
A capa tinha capuz? Quis saber St. James.
Tinha.
Estava puxado para cima ou lançado para trás?
Puxado para cima, disse-lhe Valerie Duffy. Mas o facto não a tinha impedido de ver o rosto da pessoa que o usava, porque ela passara muito perto do raio de luz que vinha da janela. Assim fora fácil vê-la.
- Era a senhora americana - disse Valerie. - Tenho a certeza. Vi-lhe o cabelo.
- Não podia ser outra pessoa mais ou menos da mesma estatura? perguntou St. James.
Mais ninguém, garantiu Valerie.
- Outra mulher loura? - sugeriu Deborah.
Valerie garantiu-lhes que vira China River o que não seria de admirar, continuou. China River andara muito com o senhor Brouard durante a sua estada em Lê Reposoir. O senhor Brouard era sempre encantador para as senhoras, claro, mas mesmo pelos seus padrões, as coisas tinham-se desenrolado muito depressa com a americana.
St. James viu a mulher franzir a testa ao ouvir aquilo e ele próprio hesitou em tomar como certas as palavras de Valerie Duffy. Havia qualquer coisa de desconcertante no à-vontade com que respondia às perguntas. Também não podia ignorar o modo como ela evitava olhar para o marido.
Foi Deborah quem se resolveu a perguntar:
- Também reparou nisso, senhor Duffy?
Kevin Duffy mantinha-se em silêncio e na sombra. Encostou-se a uma das estantes com a gravata desapertada e uma expressão indecifrável no rosto moreno.
- Geralmente a Valerie levanta-se antes de mim - disse. St. James concluiu dali que ele nada vira.
- E nesse dia em particular? - perguntou, mesmo assim.
- O mesmo de sempre - replicou Kevin Duffy.
- Andava muito, como? - perguntou Deborah a Valerie e quando esta a olhou sem perceber, esclareceu-a: - Disse-me que a China River e o senhor Brouard andavam muito um com o outro? Gostava de saber como.
- Andavam sempre por aí. Ela gostava muito da propriedade e queria fotografá-la. Ele queria ver. E depois foi o resto da ilha. Ele dispôs-se a mostrar-lha.
- E o irmão dela? - perguntou Deborah. - Não os acompanhava?
- Algumas vezes sim, outras, deixava-se ficar por aí. Ou saía sozinho. A senhora americana parecia gostar que fosse assim, para ficar sozinha com o senhor Brouard. Mas não é nenhuma surpresa. Ele tinha muito jeito para as mulheres.
- Mas o senhor Brouard tinha uma relação séria com a senhora Abbott, não é verdade? - perguntou Deborah.
- Ele tinha sempre uma ou outra relação mas nunca duravam muito tempo. A senhora Abbott era a penas a última. Depois chegou a americana.
- Mais alguém? - perguntou St. James.
Fosse porque fosse o próprio ar pareceu sufocar momentaneamente com aquela pergunta. Kevin Duffy arrastou os pés e Valerie alisou a saia num movimento estudado.
- Ninguém, que eu saiba - disse.
St. James e Deborah trocaram um olhar. Pela expressão da mulher, St. James apercebeu-se da necessidade de dar novo rumo ao interrogatório e não discordou. Porém, não podia ignorar o facto de, diante deles, se encontrar outra testemunha de que China River tinha seguido Guy Brouard na direcção do canal da Mancha e de esta ser uma testemunha mais fiável do que Ruth Brouard, levando em conta a pouca distância entre a sua casa e o caminho para a praia.
- Disse essas coisas ao inspector Lê Gallez?
- Disse-lhe tudo.
St. James perguntou a si próprio por que razão nem o inspector nem o advogado de China River lhe tinham passado aquela informação.
- Encontrámos uma coisa que talvez a senhora possa identificar disse e retirou do bolso o lenço onde enrolara o anel que Deborah retirara das rochas. Abriu o pano de linho, primeiro diante de Valerie e depois de Kevin Duffy. Nenhum deles reagiu.
- Parece uma coisa do tempo da guerra - disse Kevin Duffy. - Do tempo da Ocupação. Deve ser uma espécie de anel nazi. Caveira e tíbias cruzadas. Já tinha visto.
- Anéis como este? - perguntou Deborah.
- A caveira e as tíbias cruzadas - replicou Kevin, lançando um olhar à mulher. - Não conheces alguém que tenha um, Vai?
Ela abanou a cabeça enquanto observava o anel na palma da mão de St. James.
- É uma memória, não é? - perguntou ao marido e depois a St. James e a Deborah. - Há tantas coisas dessas pela ilha. Podia ter vindo de qualquer parte.
- Como por exemplo? - perguntou St. James.
- Da loja de antigüidades militares - disse Valerie. - Ou talvez de uma colecção particular.
- Ou da mão de um hooligan - comentou Kevin Duffy. - A caveira e as tíbias? Não é um dos símbolos que os meninos da Frente Nacional gostam de exibir para os camaradas? Sentem-se verdadeiros homens, sabem? Mas pode tê-lo perdido por ser grande de mais.
- Poderá ter vindo de mais algum lado? - perguntou St. James. Os Duffy reflectiram sobre o assunto. Trocaram um novo olhar. Foi
Valerie quem disse lentamente, como se estivesse a pensar nalguma coisa de especial:
- Não me lembro de mais nenhum lugar.
Frank Ouseley sentiu a aproximação de um ataque de asma no momento em que descreveu a curva para Fort Road. Não ficava a grande distância de Lê Reposoir e como no caminho não se expusera a nada que pudesse ter-lhe perturbado os tubos brônquicos, teve de concluir que se tratava de uma reacção à conversa que teria de ter.
Nem sequer era um diálogo necessário. Frank não tinha qualquer responsabilidade no modo como Guy Brouard quisera distribuir o dinheiro, pois ele nunca lhe pedira conselhos sobre o assunto. Assim não tinha nada de ser o portador de más notícias, pois dentro de poucos dias o testamento seria certamente do conhecimento público, através da maledicência da ilha. Mas, no entanto, sentia uma obrigação que lhe vinha dos seus tempos de professor. Não o entusiasmava aquilo que tinha de fazer e devia ser por isso que sentia aquela opressão no peito.
Quando estacionou junto à casa em Fort Road tirou a bomba do porta-luvas e usou-a. Esperou um momento até que o medicamento fizesse efeito e, entretanto, avistou no relvado do outro lado da rua um homem alto e magro e dois rapazinhos a jogar futebol. Nenhum deles tinha muito jeito.
Frank saiu do carro e sentiu um leve vento frio. Vestiu o sobretudo e dirigiu-se ao relvado. As árvores que o ladeavam estavam nuas, naquele local mais alto e exposto da ilha. Recortando-se no céu cinzento, os ramos movimentavam-se como braços suplicantes, enquanto os pássaros se abrigavam neles e assistiam ao jogo cá em baixo.
Frank tentou preparar a sua nota de abertura enquanto se aproximava de Bertrand Debiere e dos filhos. A princípio, Nobby não o viu, o que foi até bom, pois Frank sabia que a expressão do seu rosto provavelmente comunicaria aquilo que a sua fala sentia relutância em revelar.
Os dois rapazinhos gritavam de prazer por terem a atenção exclusiva do pai. O rosto de Nobby, quase sempre contraído de ansiedade parecia momentaneamente relaxado enquanto brincava com eles, lançando-lhes a bola devagar e encorajando-os quando eles tentavam devolvê-la a pontapé. Frank sabia que o rapaz mais velho tinha seis anos e viria provavelmente a ser alto como o pai e provavelmente também desajeitado. O mais novo tinha apenas quatro e corria alegremente em círculos, abrindo os braços quando a bola era lançada na direcção do irmão. Chamavam-se Bertrand Júnior e Norman, nomes provavelmente pouco adequados à actualidade, mas só na escola se aperceberiam disso e começariam a procurar alcunhas que tivessem mais aceitação do que a que o pai recebera da parte dos colegas.
Frank sabia que, em parte, fora por aquilo que viera visitar o seu ex-aluno: a passagem de Nobby pela adolescência fora difícil. Frank não fizera o bastante para lhe facilitar o caminho.
Quem primeiro o viu foi Bertrand Júnior. Deteve-se com um pé no ar a olhar para Frank. Tinha o barrete amarelo puxado para o rosto de modo que o cabelo estava todo coberto e apenas se lhe viam os olhos. Pelo seu lado, Norman aproveitou para se deitar na relva e rebolar como um cão sem trela. "Chuva! Chuva! Chuva!", gritava, agitando as pernas
no ar.
Nobby voltou-se para onde o filho mais velho estava a olhar. Ao ver Frank, apanhou a bola que finalmente Bertrand lhe conseguira lançar e devolveu-lha dizendo:
- Bert, toma conta do teu irmão. - E foi ter com Frank enquanto Bertrand Júnior imediatamente caiu sobre Norman para lhe fazer cócegas no pescoço.
Nobby acenou a Frank e disse:
- São tão bons como eu em desporto. Norman mostra algum jeito, mas não se concentra. Mas são bons meninos. Principalmente na escola. O Bert faz contas e lê como um gênio. Ainda é cedo para se saber como será o Norman.
Frank sabia que aquilo seria muito importante para Nobby, que também fora sobrecarregado com problemas de aprendizagem e pelo facto, de os pais terem concluído que esses problemas resultavam de ele ser o único rapaz - e por isso se ter desenvolvido mais lentamente - numa família de raparigas.
- Herdaram isso da mãe - disse Nobby. - Miúdos felizardos. Bert! - exclamou. - Não o magoes!
- Está bem, pai! - respondeu o miúdo.
Frank viu como Nobby se orgulhava de ouvir aquelas palavras, em especial Pai, coisa que ele sabia significar tudo para Nobby Debiere. Precisamente por a família ser o centro do seu universo é que Nobby se encontrava naquela posição naquele momento. As suas necessidades - reais e imaginárias - tinham sido sempre da máxima importância para ele.
Exceptuando as palavras que dissera a respeito dos filhos, o arquitecto não disse mais nada a Frank enquanto não chegou junto dele. Assim que se afastou dos filhos ficou com uma expressão grave, como se se preparasse para o que já sabia poder seguir-se, e uma animosidade inesperada brilhou-lhe no olhar. Frank deu por si desejando dizer que não poderia ser considerado culpado por decisões que Nobby tomara impulsivamente, mas o facto é que se sentia até certo ponto responsável. Sabia que tudo aquilo era o resultado de não ter conseguido demonstrar-lhe mais amizade quando ele ainda se sentava numa carteira da sua sala de aula, sofrendo os tormentos da criança lenta e um pouco estranha que fora.
- Vim de Lê Reposoir, Nobby - disse. - Já abriram o testamento. Nobby ficou em silêncio. Um músculo tremia-lhe no rosto.
- Julgo que foi a mãe do Adrian que insistiu para que fosse lido prosseguiu Frank. - Parecia fazer parte de um drama que quase todos nós ignorávamos.
- E então? - perguntou Nobby, tentando manter-se indiferente, coisa que Frank sabia que ele não estava.
- Pareceu-me um pouco estranho. Não foi directo como se poderia esperar, levando em conta todas as coisas. - Frank passou a explicar os termos simples do testamento: a conta bancária, o portfólio, Adrian Brouard e as irmãs, os dois adolescentes da ilha.
Nobby franziu a testa.
- Mas o que fez ele com... A fortuna deve ser enorme. Tem de ser maior do que uma conta e um simples portfólio de acções. Como conseguiu dar a volta a isso?
- A Ruth - disse Frank.
- Não lhe pode ter deixado Lê Reposoir.
- Não, claro que não. A lei não lho permitiria. Portanto deixar-lho estava fora de questão.
- Então o que foi?
- Não sei. Qualquer manobra legal. Deve ter descoberto uma. E ela deve ter concordado com tudo o que ele quis.
Ao ouvir aquilo a coluna e as pálpebras de Nobby pareceram descontrair-se.
- É bom sinal, não é? - perguntou. - A Ruth sabe quais eram os planos dele, aquilo que ele queria fazer. Vai continuar com o projecto. Quando começar, não vai haver problema em nos sentarmos a ver aqueles desenhos e plantas que vieram da Califórnia. Vai ver que ele escolheu o pior projecto. Completamente inapropriado para o local, já para não falar para esta parte do mundo. E com enormes custos de manutenção. Quanto às despesas de construção...
- Nobby - interrompeu Frank. - Não é assim tão simples. Atrás dele um dos miúdos gritou e Nobby voltou-se e viu que
Bertrand Júnior tinha tirado o gorro e batia com ele na cara do irmão.
- Bert, pára com isso - disse em tom ríspido. - Se não brincarem como deve ser têm de ficar lá dentro com a mãe.
- Mas eu estava só...
- Bertrand!
O rapaz arrancou o gorro ao irmão e começou aos pontapés à bola. Norman correu atrás dele. Nobby olhou-os antes de voltar a dar atenção a Frank. Esgotado o breve alívio que sentira, a sua expressão era agora cautelosa.
- Não é assim tão simples? - perguntou. - Porquê, Frank? O que pode ser mais simples? Não me está a dizer que prefere realmente o projecto americano, pois não? Que é melhor que o meu?
- Não. Não estou.
- Então o que é?
- É o que está implícito no testamento.
- Mas acabou de dizer que a Ruth... - O rosto de Nobby mostrava de novo a sua dureza, uma expressão que Frank se recordava de ver nele enquanto adolescente, aquela raiva contida de ser um jovem entre muitos, o solitário que não recebia qualquer tipo de amizade para lhe tornar o caminho mais fácil ou talvez mais acompanhado. - Afinal o que está implícito no testamento?
Frank pensara naquilo. Considerara-o de todos os ângulos enquanto percorrera o caminho entre Lê Reposoir e Fort Road. Se Guy Brouard tencionava prosseguir com o projecto do museu, o seu testamento teria reflectido esse facto. Não importava nem como, nem quando dispusera do resto dos seus bens, teria deixado um legado apropriado para construir o museu da guerra. Não o tinha feito e para Frank isso mostrava bem quais tinham sido os seus desejos finais.
Explicou-o a Nobby Debiere que o escutou com crescente incredulidade.
- Enlouqueceu? - perguntou este quando Frank terminou os seus comentários. - Então para que foi a festa? A grande comunicação? O champanhe e o fogo-de-artifício? A exibição daqueles malditos desenhos?
- Não sei explicar. Só posso falar dos factos concretos.
- Parte desses factos foram aquilo que se passou nessa noite, Frank. Aquilo que ele disse. E como agiu.
- Sim, mas afinal que disse ele? - insistiu Frank. - Falou nos alicerces? Nas datas de construção? Não é estranho que não o tenha feito? Creio que há apenas uma razão para isso.
- Que razão?
- Que não tencionava construir o museu.
Nobby ficou a olhar para Frank enquanto as crianças saltavam na relva por trás dele. Ao longe, uma pessoa de fato de treino azul aproximava-se de Fort George com um cão pela trela. Soltou o animal que correu à vontade a abanar as orelhas. Os miúdos de Nobby soltavam gritos de alegria, mas, dessa vez, o pai não se voltou. Olhou em frente para as casas de Fort George e principalmente para a sua: um edifício grande, amarelo e branco, com um jardim lá atrás para as crianças brincarem. Frank sabia que, lá dentro, Caroline Debiere estaria provavelmente a trabalhar no seu romance, no romance há muito sonhado que Nobby tinha insistido para que a mulher escrevesse, abandonando o seu emprego como editora da Architectural Review que era onde trabalhava com prazer antes de ter conhecido Nobby e ter criado com ele um conjunto de sonhos que estavam a ser varridos pela fria realidade da morte de Guy Brouard.
Nobby corou violentamente ao entender as implicações das palavras de Frank.
- N-não t-tinha inten-inten-mfenfões... N-nunca teve? Est-tá a d-dizer-me que esse ca-canalha... - deteve-se, parecendo querer acalmar-se, mas sem o conseguir.
Frank interveio.
- Não te estou a dizer que quisesse enganar-nos. Mas julgo que possa ter mudado de idéias por qualquer razão. Pensou que foi isso que aconteceu.
- E ent-t-ão a festa?
- Não sei.
- E ent-t-ão... - Nobby fechou os olhos com força. Repetiu três vezes a palavra como se fosse um feitiço para o livrar daquela aflição e, quando voltou a falar, já controlara a gaguez. - E a grande comunicação, Frank? E os desenhos? Mostrou-os. O senhor estava lá. Mostrou-os a toda a gente. Ele... meu Deus. Porque foi que o fez?
- Não sei. Não te sei dizer. Também não compreendo.
Nobby examinou Frank, recuando uns passos. Semicerrou os olhos e as suas feições tornaram-se mais crispadas que nunca.
- Então o parvo fui eu, não é verdade? Como dantes.
- Parvo, porquê?
- O senhor e o Brouard riram-se à minha custa. Para si não chegou quando eu andava na escola, pois não? "Não ponha o Nobby no "osso grupo, professor Ouseley. Se for ele a apresentar o trabalho deixa-nos ficar mal."
- Não sejas absurdo. Ouviste o que te disse?
- Claro. Percebo muito bem como o fizeram. Dá-se-lhe esperança e depois tira-se. Vamos levá-lo a pensar que tem comissão e depois puxamos-lhe o tapete. As regras são as mesmas. Só o jogo é que é diferente.
- Nobby! - disse Frank. - Ouve só o que estás a dizer. Pensas mesmo que o Guy preparou isto... tudo isto pelo prazer mesquinho de te humilhar?
- Penso - respondeu ele.
- Que absurdo. Porquê?
- Porque ele gostava. Porque lhe dava o gozo que perdeu quando vendeu o negócio. Porque lhe dava poder.
- Nada disso faz sentido.
- Não? Veja o filho dele. Olhe para a pobre Anais. E se for preciso, Frank, olhe para si.
Temos de fazer qualquer coisa, Frank. Percebe, não é verdade? Frank evitou-lhe o olhar. Sentiu o aperto, o aperto, o aperto. Mas, mais uma vez o ar nada trazia que lhe pudesse impedir a respiração.
- Ele disse-me: "Ajudei-te o mais que podia" - afirmou calmamente Nobby. - Ele disse-me: "Dei-te um empurrão, filho. Não podes esperar mais do que isso, e não pode ser para sempre, rapaz." Mas prometeu-me, percebe? Fez-me acreditar... - Nobby pestanejou furiosamente e voltou-se de costas. Desalentado, meteu as mãos nos bolsos. - Ele fez-me acreditar...
- Sim - murmurou Frank. - Ele era muito bom nisso.
St. James e a mulher separaram-se a pouca distância da casa dos Duffy. Perto do final da entrevista surgira um telefonema de Ruth que fez com que St. James entregasse o anel que tinham encontrado na praia à mulher e voltasse à casa grande para se encontrar de novo com Miss Brouard. Quanto a Deborah, levaria o anel embrulhado no lenço ao inspector Lê Gallez para uma possível identificação. Tendo em conta a natureza do desenho, era pouco provável que conseguissem encontrar nele uma impressão digital capaz, mas havia sempre essa possibilidade. Como St. James não tinha nada consigo para o examinar - e muito menos jurisdição para o fazer - Lê Gallez teria de tratar das coisas.
- Mais tarde vou ter contigo ao hotel - disse St. James à mulher. Que pensas de tudo isto, Deborah? - acrescentou, lançando-lhe um olhar franco.
Não se estava a referir à tarefa de que a incumbira, mas sim àquilo que tinham acabado de saber da parte dos Duffy, particularmente de Valerie, que mantinha uma inabalável convicção de que vira China River a seguir Guy Brouard até à baía.
- Ela pode ter razões que a levem a querer que acreditemos que havia alguma coisa entre a China e o Guy. Se ele era irresistível às mulheres, porque não também a Valerie?
- É mais velha do que as outras.
- Mais velha do que a China, mas não muito mais velha do que a Anais Abbott. Só uns anos, calculo eu. Mesmo assim é... o quê? Vinte anos mais nova do que o Guy Brouard?
St. James não podia ignorá-lo, mesmo que a mulher parecesse ansiosa por se convencer.
- Lê Gallez não nos está a dizer tudo o que sabe - comentou mesmo assim. - Nunca o faria. Para ele sou um desconhecido e mesmo que não o fosse, não é assim que se fazem as coisas. O responsável de uma investigação não abre o processo a quem aparentemente faça parte do lado oposto de uma investigação por assassínio. E eu nem sequer sou isso. Sou um desconhecido que cá apareceu sem as credenciais necessárias e sem poder tomar oficialmente parte no que se passa.
- Então pensas que há mais. Uma razão. Uma ligação algures entre o Guy Brouard e a China. Simon, não posso acreditar nisso.
St. James olhou-a afectuosamente e pensou em todas as razões pelas quais a amava e em todas as razões pelas quais continuava a querer protegê-la. Mas sabia que devia dizer-lhe a verdade.
- Sim, minha querida, penso que possa haver.
Deborah franziu a testa. Olhou em frente para onde o caminho para a praia desaparecia numa frondosa moita de rododendros.
- Não posso acreditar - disse. - Mesmo que ela estivesse assim tão vulnerável por causa do Matt, sabes. Quando uma coisa dessas acontece... essa ruptura entre um homem e uma mulher... mesmo assim, leva tempo, Simon. Uma mulher precisa sentir que há mais qualquer coisa entre ela e o homem seguinte. Não quer acreditar que seja só... bom, sexo... - Um leque rosado abriu-se sobre a pele do seu pescoço e depois a cor espaLhou-se-lhe pelas faces.
St. James desejava dizer-lhe: "Para ti foi assim, Deborah." Sabia que ela estava a fazer ao amor de ambos o maior elogio possível. Dizia-lhe que não tinha sido fácil passar dele para Tommy Lynley quando fora o seu caso. Mas nem todas as mulheres eram como Deborah. Sabia que outras teriam necessitado de uma garantia imediata de que ainda eram capazes de seduzir depois de terminarem um longo romance. Para elas, saberem que um homem ainda as desejava era mais importante do que saberem que eram amadas por ele. Mas não podia dizer nada daquilo. Havia muita coisa ligada ao amor de Deborah por Lynley. Muita coisa envolvida na sua amizade com Tommy.
- Vamos manter-nos atentos, até sabermos mais - disse.
- Sim, boa idéia - respondeu ela.
- Encontramo-nos mais tarde?
- No hotel.
Beijou-a rapidamente e depois mais duas vezes. A boca dela era suave e quando a mulher lhe tocou com a mão no rosto, apeteceu-lhe ficar, mesmo sabendo que não podia.
- Pergunta por Lê Gallez na esquadra - disse-lhe. - Não entregues o anel a mais ninguém.
- Claro - respondeu ela.
Ele retomou o caminho da casa grande.
Deborah ficou a ver como o aparelho da perna lhe dificultava aquilo que de contrário teria graça e beleza natural. Apeteceu-lhe chamá-lo para lhe contar que conhecera China River em circunstâncias que ele não poderia compreender, circunstâncias em que se forma uma amizade perfeita entre duas mulheres. Há histórias entre mulheres que estabelecem uma determinada verdade que nunca pode ser destruída ou negada, que nunca precisam de uma longa explicação. A verdade existe simplesmente e cada mulher age de um modo fixo dentro dessa verdade se a amizade for verdadeira. Mas como explicá-lo a um homem? E não a um homem qualquer, mas ao marido que vivera mais de uma década num esforço para ultrapassar a verdade da sua própria incapacidade - e até negá-la - tratando-a como uma simples bagatela quando, conforme ela tinha conhecimento, lhe estragara grande parte da sua juventude.
Era impossível. Tudo o que poderia fazer era mostrar que China River não era uma China River que se deixaria facilmente seduzir e que nunca poderia ter cometido um assassínio.
Deborah saiu da propriedade e regressou a St. Peter Port, penetrando na cidade pela longa encosta arborizada de Lê Vai dês Terres e saindo um pouco acima de Havelet Bay. Alguns peões caminhavam à beira-mar. Uma rua subia a colina, onde os bancos, cuja actividade era famosa nas Ilhas do Canal, deveriam fervilhar de negócios em qualquer época do ano. Porém, não havia praticamente sinais de vida: nem praticantes da evasão fiscal, apanhando sol nos seus barcos, nem turistas tirando fotografias ao castelo ou à cidade.
Deborah estacionou perto do hotel em ArnYs Place, a menos de um minuto a pé da esquadra que ficava por trás do alto muro de pedra em Hospital Lane. Depois de ter desligado o motor, deixou-se ficar sentada no carro. Tinha pelo menos uma hora - talvez mais - antes que Simon regressasse de Lê Reposoir. Decidiu utilizar esse tempo fazendo uma ligeira alteração àquilo que ele planeara para ela.
Em St. Peter Port nada era longe de nada. Estava-se a vinte minutos a pé de tudo e, na parte central da cidade - mais ou menos delimitada por uma série de ruas que formavam uma espécie de oval que ia de Vauvert e descrevia uma curva no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para terminar em Grange Road -, o tempo para chegar de um ponto a outro era reduzido a metade. Mesmo assim, como a cidade existira muito antes dos transportes motorizados, as ruas mal tinham largura para a passagem de um carro e descreviam curvas em redor do monte, sobre o qual se tinha desenvolvido St. Peter Port que, estranhamente, se expandira para cima a partir do velho porto.
Deborah atravessou as ruas em ziguezague até aos apartamentos Queen Margaret mas, quando lá chegou e bateu à porta, encontrou a casa de China vazia. Regressou à parte da frente do edifício para pensar no que haveria de fazer.
Onde estaria China? Poderia ter ido encontrar-se com o advogado, apresentar-se na esquadra, andar a fazer exercício ou a passear. O irmão estaria provavelmente com ela, por isso Deborah decidiu ir ver se os conseguia encontrar. Caminharia em direcção à esquadra. Desceria a High Street e depois seguiria a estrada que acabaria por conduzi-la de volta ao hotel.
Em frente aos apartamentos Queen Margaret havia uma escada que descia para o porto. Deborah dirigiu-se a ela e mergulhou por entre paredes altas e edifícios de pedra para, por fim, chegar a uma das partes mais antigas da cidade, onde um edifício outrora grandioso feito de pedra encarniçada se estendia por um dos lados da rua enquanto em frente, havia uma série de entradas em forma de arco que davam acesso a lojas de flores, de presentes e de fruta.
O edifício grandioso tinha janelas altas e era escuro, parecendo já não ser usado, pois não estava iluminado por dentro apesar de o dia estar escuro. Porém, em parte dele funcionavam ainda algumas bancas que pareciam pertencer a um mercado. Deborah cruzou a entrada do cavernoso edifício por uma velha porta azul aberta para Market Street.
Assaltou-a o cheiro inconfundível do sangue e da carne dos talhos. Os balcões de vidro exibiam costeletas, carne para assar, carne picada. Contudo havia poucos abertos, apesar de, antigamente, aquele mercado ter por certo sido muito movimentado. Embora noutras condições o edifício com os seus elementos de ferro forjado pudesse ter interessado China como fotógrafa, Deborah sabia que o cheiro dos animais mortos teria rapidamente afastado dali os irmãos River e, portanto, não se espantou por não os encontrar ali. Mesmo assim, andou por todo o edifício para se assegurar, percorrendo o enorme local abandonado que contivera outrora dezenas de pequenos negócios rendosos. Na parte central, o eco erguia-se sobre ela, fazendo com que os seus passos soassem misteriosamente. Havia uma fila de bancas fechadas, e sobre uma delas estavam escritas a marcador as palavras, Safeway, vai-te lixar! exprimindo os sentimentos de pelo menos um dos comerciantes que tinha perdido o seu ganha-pão por causa do hipermercado do mesmo nome que provavelmente chegara à cidade.
No outro extremo do mercado da carne, Deborah encontrou uma banca de frutas e legumes ainda aberta e depois saía-se de novo para a rua. Parou para comprar uns lírios de estufa antes de sair do edifício e ir examinar as outras lojas lá fora.
Nas arcadas do outro lado podia ver não só as lojas, mas também quem fazia compras lá dentro, pois havia muito pouca gente. Nem China nem Cherokee estavam entre os clientes. China tentou adivinhar onde estariam.
Viu-os mesmo ao lado das escadas que descia, numa pequena mercearia chamada Cooperativa das Ilhas do Canal Sociedade Limitada, nome que atrairia os River, pois embora troçassem, eram certamente filhos de uma mãe vegetariana.
Deborah atravessou e entrou na loja. Ouviu-os logo, porque a mercearia era pequena, embora as altas estantes escondessem os clientes das montras.
- Não quero nada - dizia China impaciente. - Não consigo comer. Conseguirias comer se estivesses no meu lugar?
- Tem de haver alguma coisa - replicou Cherokee. - Olha. Não queres sopa?
- Odeio sopa de lata.
- Mas costumavas fazê-la para o jantar.
- Exactamente. Não tenho vontade de me lembrar da vida nos motéis, Cherokee. Ainda é pior do que ficar em caravanas.
Deborah aproximou-se e foi ter com eles diante de uma pequena prateleira da Campbell, Cherokee tinha numa mão uma lata de sopa de tomate com arroz e na outra um pacote de lentilhas. China enfiara no braço um cesto de metal que apenas continha um pão, um pacote de esparguete e um frasco de molho de tomate
- Debs! - exclamou Cherokee com um sorriso de boas-vindas e sobretudo de alívio. - Preciso de uma aliada. Ela recusa-se a comer.
- Eu como. - China ainda parecia mais exausta do que no dia anterior e tinha olheiras enormes que tentara, em vão, esconder com maquilhagem. - Cooperativa das Ilhas do Canal. Pensei que se tratasse de comida saudável. Mas... - Fez um gesto indicando a loja em seu redor.
Os únicos produtos frescos que a cooperativa parecia conter eram ovos, queijo, carne embalada e pão. Tudo o resto era enlatado ou congelado. Uma desilusão para quem estava habituada a abastecer-se nos mercados de comida orgânica da Califórnia.
- O Cherokee tem razão. Precisas de comer.
- Não tenho mais nada a declarar. - Cherokee começou a encher o cesto sem grande atenção ao que escolhia.
China parecia demasiado desanimada para discutir. Poucos minutos depois tinham terminado as compras.
Lá fora, Cherokee estava desejoso de ouvir um relatório daquilo que o dia revelara até ali aos St. James. Deborah sugeriu que regressassem ao apartamento para conversarem, mas China protestou:
- Não, por favor. Acabei de sair. Vamos passear.
Assim caminharam pelo porto e dirigiram-se ao pontão mais longo que chegava a Havelet Bay e se estendia formando uma reentrância sobre a qual, tal como uma sentinela do porto, se encontrava Castle Comet.
Continuaram para além desta fortificação até ao fim, descrevendo a modesta curva até às águas do canal.
No final do pontão, foi China quem verdadeiramente abordou o assunto.
- As coisas estão más, não é verdade? Vejo pela tua cara. Diz já de uma vez. - Mas apesar destas palavras, voltou-se para a enorme massa de água cinzenta. A pouca distância outra ilha... Deborah perguntou a si própria se seria Sark ou Aldemey... erguia-se como um leviatã em repouso na bruma.
- Que tens para nos dizer, Debs? - Cherokee poisou o saco das compras e pegou no braço da irmã.
China afastou-o. Parecia preparar-se para o pior. Deborah quase se decidiu a apresentar as coisas de um ângulo mais positivo, mas não havia ângulo positivo possível e, mesmo que houvesse, sabia que devia a verdade à amiga.
Por isso disse aos River aquilo que ela e Simon tinham conseguido descobrir a partir da conversa que tinham tido em Lê Reposoir. Como não era tola, China viu imediatamente qual a direcção lógica dos pensamentos de qualquer pessoa razoável assim que se tornasse claro que ela não só passara algum tempo sozinha com Guy Brouard, como também fora vista - ostensivamente e por mais de uma pessoa - a segui-lo na manhã da sua morte.
- Achas que eu tive alguma coisa com ele, não é verdade, Deborah? Mas que bom. - A sua voz era uma mistura de animosidade e desespero.
- De facto, eu...
- E afinal, porque não? É assim que toda a gente deve pensar. Umas horas sozinha, uns quantos dias... E ele era podre de rico. Claro que fornicávamos sem parar.
Deborah pestanejou ao ouvir palavras tão cruas. Não pareciam próprias da China que conhecia, que sempre fora a mais romântica das duas, dedicada vários anos a um só homem, pintando o futuro em tons pastel.
- Não importa que ele tivesse idade para ser meu avô - prosseguiu. - Que diabo, havia o dinheiro. Essas coisas não importam quando há dinheiro metido no assunto, pois não?
- China! - exclamou Cherokee. - Francamente!
Logo que o irmão falou, China apercebeu-se do que tinha dito. Mais, pareceu entender, num abrir e fechar de olhos, que aquilo se poderia facilmente aplicar à vida de Deborah,
- Valha-me Deus, Deborah. Desculpa - disse apressadamente.
- Não faz mal - respondeu Deborah.
- Não quis dizer... não estava a pensar em ti e... bem sabes. Tommy, pensou Deborah. China queria dizer que não pensara em
Tommy e no dinheiro de Tommy. Nunca fora importante, mas sempre existira, era apenas uma das coisas boas que parecia tão agradável do exterior quando não se conheciam os sentimentos interiores.
- Não faz mal, eu sei - respondeu.
- É que... Acreditas mesmo que eu... com ele? Acreditas?
- Ela só estava a dizer o que sabe, Chine - disse Cherokee. - Precisamos de saber o que todos pensam, não é verdade?
China voltou-se para ele.
- Escuta, Cherokee. Cala-te! Não sabes o que... Oh meu Deus, esquece! Mas cala-te, está bem?
- Só tentava...
- Muito bem, não tentes mais. Deixa de andar em cima de mim. Quase que nem consigo respirar. Não posso dar um passo sem que venhas atrás.
- Olha, ninguém quer que tenhas de passar por isto - disse-lhe Cherokee.
Ela soltou uma gargalhada que se transformou num soluço. Tentou sufocá-lo, tapando a boca com o punho fechado.
- És estúpido ou quê? - perguntou ela. - Todos querem que eu passe por isto. Precisam de uma vítima. Eu tenho o perfil adequado.
- Está bem. É por isso que agora temos cá amigos. - Cherokee lançou um sorriso a Deborah e depois apontou com a cabeça para os lírios que ela tinha na mão. - Amigos com flores. Onde as arranjaste, Debs?
- No mercado. - Estendeu-as impulsivamente a China. - O teu apartamento precisa de um pouco de alegria.
China olhou para as flores e depois para o rosto de Deborah.
- Acho que és a melhor amiga que já tive.
- Ainda bem.
China recebeu as flores e a sua expressão suavizou-se ao olhar para elas. Depois disse ao irmão:
- Cherokee, deixa-nos ficar um bocado sozinhas, sim?
Ele olhou primeiro para a irmã e depois para Deborah, dizendo:
- Claro. vou metê-las na água. - Pegou nos dois sacos das compras e meteu as flores debaixo do braço. - Então, até mais tarde - disse para Deborah, lançando-lhe um olhar que mais parecia significar boa sorte.
Afastou-se pelo pontão e China seguiu-o com o olhar.
- Sei que as intenções dele são boas. Sei que está preocupado. Mas tê-lo aqui torna as coisas piores. A situação já é bastante complicada para ter também de olhar por ele. - Abraçou-se a si própria e só nesse momento Deborah viu que ela tinha apenas uma camisola vestida para se abrigar. A capa ainda devia estar nas mãos da polícia, claro, e a capa era o cerne do problema.
- Onde deixaste a capa nessa noite? - perguntou-lhe Deborah. China observou a água por uns instantes antes de responder.
- Na noite da festa? Devia estar no meu quarto. Não sei bem. Entrei e saí o dia inteiro, mas devo tê-la levado para cima em determinada altura, porque, quando nos preparámos para partir nessa manhã, estava... Tenho a certeza de que estava em cima da cadeira. Junto da janela.
- Não te lembras de a teres posto lá? China abanou a cabeça.
- Deve ter sido um gesto automático. Vesti-la, despi-la. Nunca fui fanática da arrumação, sabes muito bem.
- Então qualquer pessoa a poderia ter levado para usar de manhã cedo, quando o Guy Brouard foi à praia, e depois tê-la devolvido?
- Acho que sim. Mas não sei como. Nem sequer quando.
- Estava lá quando foste para a cama?
- Devia estar. - China franziu a testa. - Não faço idéia.
- A Valerie Duffy jura que te viu segui-lo, China - disse Deborah o mais delicadamente possível. - A Ruth Brouard afirma que procurou por ti em toda a casa assim que viu da janela alguém que pensou seres tu.
- Acreditas nelas?
- Não é isso - disse Deborah. - Queria saber se houve alguma coisa que possa ter acontecido anteriormente, alguma coisa que faça com que aquilo que elas dizem pareça fazer sentido para a polícia.
- Alguma coisa que tenha acontecido?
- Entre ti e o Guy Brouard.
- Voltamos à mesma.
- Não importa o que eu penso. É o que a polícia...
- Esquece - interrompeu-a China. - Vem comigo.
Partiu à frente percorrendo o pontão. Atravessou na Esplanade sem sequer prestar atenção ao trânsito. Contornou vários autocarros parados na estação e percorreu um caminho em ziguezague até Constitution Steps que descreviam um ponto de interrogação invertido do lado de uma das colinas. Os degraus - como os que Deborah descera havia pouco até ao mercado - levaram-nas lá acima a Clifton Street e aos apartamentos Queen Margaret. China conduziu a amiga até às traseiras do apartamento B. Entrou e sentou-se à pequena mesa antes de pronunciar qualquer outra palavra. Depois disse:
- Pronto. Lê isto. Se for a única maneira de te fazer acreditar, podes verificar todos os pormenores macabros, se quiseres.
- China, eu acredito em ti - disse Deborah. - Não precisas...
- Não me digas o que eu não preciso - insistiu China. - Achas que existe uma possibilidade de eu estar a mentir.
- A mentir não.
- Muito bem. Então posso ter interpretado mal qualquer coisa. Mas digo-te que não pode ter acontecido. E não há nada que qualquer outra pessoa possa ter interpretado mal porque não aconteceu nada. Nem entre mim e o Guy Brouard, nem entre mim e qualquer outra pessoa. Por isso, peço-te que leias isto. Para que tenhas a certeza. - Bateu com a mão no bloco onde tinha feito o relato dos dias que passara em Lê Reposoir.
- Eu acredito na tua história - disse Deborah.
- Lê - foi a resposta de China.
Deborah viu que a amiga só ficaria satisfeita se lesse o que ela tinha escrito. Sentou-se à mesa e pegou no bloco, enquanto China se dirigiu à bancada em que Cherokee poisara os sacos e as flores antes de sair para qualquer parte.
Ao ler o documento escrito pela amiga, Deborah viu que China fora muito precisa. Mostrava também ter uma memória fantástica. Todas as interacções que levara a cabo com os Brouard estavam ali relatadas e prestava também contas do tempo em que não se encontrara na companhia de um dos irmãos Brouard ou de ambos. Passara-o com Cherokee e, muitas vezes, sozinha a fotografar a propriedade.
Documentara onde cada interacção tivera lugar durante a sua estada em Lê Reposoir. Assim, era possível localizar os seus movimentos, o que era bom, pois certamente alguém os poderia confirmar.
Sala, escrevera, a ver antigas fotografias de L. R. Guy, Ruth, Cherokee e Paul F. presentes. Seguiam-se a hora e o dia.
Sala de jantar, continuava, almoço com Guy, Ruth, Cherokee, Frank O. e Paul F. AA chegou mais tarde à sobremesa, com a Patinha e Stephen. Provoca-me a mim e ainda mais a Paul F.
Escritório com Guy, prosseguia, Frank O. e Cherokee, discussão sobre o futuro museu. Frank O. sai. Cherokee vai também, para conhecer o pai dele e ver a azenha. Guy e eu ficamos. Conversamos. Ruth entra com AA. A Patinha fica lá fora com Stephen e Paul F.
Galeria, escrevera, cimo da casa com Guy. Guy mostra-me os quadros, posa para mim. Aparece Adrian que acaba de chegar. Apresentações.
Propriedade, continuou, Guy e eu. Falamos acerca de tirar fotografias do local. Falamos sobre a Architectural Digest. Explico que faço as coisas sem compromisso. Vejo o edifício e os diferentes jardins. Alimentamos os peixes.
Quarto de Cherokee, continuou, ele e eu. Discutimos para saber se havemos de ficar ou de partir.
E continuara a escrever um relatório fiel e pormenorizado do que se passara nos dias anteriores à morte de Guy Brouard. Deborah leu tudo e tentou procurar momentos-chave, provavelmente espiados por alguém que os tivesse usado para levar China à sua presente situação.
- Quem é o Paul F. - perguntou Deborah.
China explicou: um protegido de Guy Brouard. Este representava o papel de irmão mais velho, coisa habitual nos Estados Unidos. Os britânicos não tinham o mesmo conceito? Um homem mais velho responsabilizava-se por um rapaz privado de uma figura paternal? Era aquele o compromisso entre Guy Brouard e Paul Fielder. Este não dizia mais de dez palavras de cada vez. Limitava-se a olhar para Guy com os olhos muito abertos e seguia-o para todo o lado como se fosse um cão.
- Que idade tem o rapaz?
- É um adolescente. Muito pobre pelo aspecto da roupa e da bicicleta. Aparecia todos os dias nessa pasteleira que mais parecia um monte de ferrugem. Era sempre bem recebido. E o cão também.
O rapaz, as roupas e o cão. A descrição estava de acordo com o adolescente que ela e Simon tinham encontrado a caminho da praia.
- Ele esteve na festa?
- O quê? Na noite anterior? - Quando Deborah acenou afirmativamente, China disse: - Claro. Estava lá toda a gente. Tanto quanto percebi, era uma espécie de acontecimento social da temporada.
- Quantas pessoas? China ficou a pensar.
- Mais ou menos trezentas.
- Todas no mesmo sítio?
- Não. Isto é, a casa não estava de portas abertas, mas houve gente por lá durante toda a noite. Os fornecedores de comida entravam e saíam da cozinha. Havia quatro bares. Não foi um caos, mas não creio que alguém pudesse dizer exactamente quem esteve presente.
- Então a tua capa pode ter sido roubada - disse Deborah.
- Acho que sim. Mas estava lá quando eu precisei dela, Debs. Quando Cherokee e eu nos fomos embora na manhã seguinte.
- Não viste ninguém quando te ias embora?
- Nem vivalma.
Depois ficaram em silêncio. China esvaziou os sacos das compras. Procurou um recipiente para as flores e acabou por se decidir por uma panela. Deborah observava-a, sem saber como lhe haveria de perguntar o que precisava de saber, de modo a que amiga não a considerasse desconfiada. Já tinha dificuldades suficientes.
- Nos dias anteriores, já alguma vez tinhas acompanhado o Guy Brouard num dos seus banhos matinais? Talvez só para o ver?
China abanou a cabeça.
- Sabia que ele costumava tomar banho na baía. Toda a gente o admirava por isso. Água fria, de manhã cedo, nesta altura do ano. Acho que ele gostava que as pessoas se espantassem por ele ir nadar sempre todas as manhãs. Mas nunca fui com ele.
- Mais alguém foi?
- Acho que a namorada foi, ou pelo menos as pessoas falavam disso. Como por exemplo: "Anais, não podes fazer alguma coisa para que esse homem tenha mais juízo?" E ela dizia: "É o que tento fazer sempre que cá estou."
- Ela não teria ido com ele nessa manhã?
- Só se cá tivesse passado a noite. Mas não sei se passou. Nunca o fez enquanto eu e Cherokee cá estivemos.
- Mas às vezes ficava?
- Tornava-o muito óbvio. Isto é, certificava-se de que eu o soubesse. Por isso podia ter cá ficado na noite da festa, mas acho que não.
O facto de China se recusar a usar o pouco que sabia para lançar suspeitas sobre outras pessoas era uma coisa que Deborah considerava reconfortante. A amiga demonstrava ter um caracter muito mais forte do que o dela.
- China, creio que a polícia poderá dirigir as suas investigações para outros lados se olhasse para isso.
- Achas mesmo?
- Acho.
Ao ouvir estas palavras, China pareceu desistir de conter a emoção que guardava depois de Deborah a ter descoberto na mercearia juntamente com o irmão.
- Obrigada, Debs - disse.
- Não precisas de me agradecer.
- Claro que preciso. Por teres cá vindo. Por seres minha amiga. Sem ti e sem o Simon, seria uma vítima. vou conhecer o Simon? Gostaria muito.
- Claro que vais - disse Deborah. - Ele está desejoso.
China voltou para a mesa e pegou no bloco. Observou-o por um momento, como se quisesse reflectir melhor e depois estendeu-o a Deborah como esta tinha feito quando lhe oferecera os lírios.
- Entrega-lhe isto. Diz-lhe que continue a passar tudo a pente fino. Pede-lhe que me interrogue quantas vezes achar necessário. Diz-lhe que chegue à verdade.
Deborah recebeu o documento e prometeu entregá-lo ao marido.
Deixou o apartamento sentindo-se mais leve. Lá fora, deu a volta ao edifício e encontrou Cherokee encostado a um corrimão, do outro lado da rua diante de um hotel de férias que fechava no Inverno. Erguera a gola do casaco por causa do frio e estava a beber qualquer coisa fumegante enquanto vigiava os apartamentos Queen Margaret como se fosse um polícia à paisana. Afastou-se do corrimão quando viu Deborah e aproximou-se dela.
- Como foi? - perguntou. - Correu tudo bem? Ela tem estado tão nervosa todo o dia.
- Ela está bem - disse Deborah. - Mas um pouco ansiosa.
- Queria fazer alguma coisa, mas ela não me deixa. Tento mas ela irrita-se. Acho que não devia ficar sozinha por isso fico por lá e digo-lhe que deveríamos dar uma volta de carro, passear, jogar às cartas ou ver a CNN para ver o que se passa lá em casa. Ou qualquer outra coisa. Mas ela recusa-se.
- Está assustada. Acho que ela não quer que tu saibas disso.
- Sou irmão dela.
- Pode ser por isso mesmo.
Ele ficou a pensar no assunto, esvaziando o resto do copo e esmagando-o entre os dedos.
- Foi sempre ela que tomou conta de mim quando éramos pequenos - disse ele. - Quando a minha mãe era... bom, era a minha mãe. Os protestos. As causas. Não era sempre, mas quando alguém precisava de uma pessoa para se atar a uma sequóia ou andar com um cartaz, ou outra coisa qualquer, lá ia ela. Semanas seguidas. Era China que era forte e agüentava. Não era eu.
- Sentes-te em dívida para com ela?
- Claro que sim. Quero ajudar.
Deborah reflectiu sobre isto: a necessidade dele equilibrava a situação que enfrentavam. Olhou para o relógio e decidiu que já era tempo.
- Vem comigo - disse. - Há uma coisa que podes fazer.
Capítulo 12
- JAMES VIU QUE NA SALETA DA CASA GRANDE TINHA SIDO COLOCADO um enorme bastidor, semelhante aos que se usavam para fazer tapeçarias. Mas em vez de ser tecido, este parecia mais um bordado a uma escala incomensurável. Ruth Brouard nada disse enquanto ele observou o tecido esticado no bastidor e depois uma peça terminada já colocada na parede da sala, semelhante à que vira anteriormente no quarto dela.
O enorme bordado parecia mostrar a queda de França durante a Segunda Guerra Mundial, começando a história com a Linha Maginot e terminando com uma mulher a fazer as malas. Duas crianças observavam-na - um rapaz e uma menina -, enquanto por trás deles um velho de barbas com uma estola de oração e um livro aberto nas mãos e uma mulher da mesma idade choravam enquanto consolavam um homem que poderia tratar-se do seu filho adulto.
- É notável - disse St. James.
Ruth Brouard poisou sobre uma escrivaninha o envelope que segurava na mão quando abrira a porta.
- Para mim é uma forma de terapia - disse. - E é muito mais barato do que a psicanálise
- Quanto tempo já lhe ocupou?
- Oito anos. Mas antes não era assim tão rápida. Não precisava sê-lo. St. James observou-a. Apercebeu-se da doença pelos movimentos
demasiado cuidadosos e pela tensão que se lhe lia no rosto. Mas sentiu relutância em falar do assunto, por isso decidiu manter a ilusão da vitalidade.
- Quantas planeou fazer? - perguntou, passando a dar atenção para o trabalho inacabado esticado no bastidor.
- Quantas forem precisas para contar toda a história - replicou ela.
- Essa - apontou para a parede - foi a primeira. Está muito imperfeita, mas melhorei com a prática.
- Conta uma história importante.
- Julgo que sim. E a si o que lhe aconteceu? Sei que é indelicado perguntar, mas neste ponto já ultrapassei todas essas conveniências sociais. Espero que não se importe.
Certamente ter-se-ia importado se a pergunta tivesse sido feita por outra pessoa. Mas da parte dela parecia haver uma capacidade de entendimento que ultrapassava a vã curiosidade e fazia dela uma alma gêmea, Talvez, pensou St. James, porque estivesse a morrer.
- Um acidente de automóvel - respondeu.
- Quando foi isso?
- Quando tinha vinte e quatro anos.
- Ah, lamento.
- É perfeitamente desnecessário. Vínhamos ambos embriagados.
- O senhor e uma amiga?
- Não. Um antigo colega da escola.
- Que, suponho eu, vinha a conduzir. E que não teve um único arranhão.
St. James sorriu.
- A senhora é feiticeira, Miss Brouard? Ela devolveu-lhe o sorriso.
- Quem me dera. Teria lançado vários feitiços em todos estes anos.
- Sobre algum felizardo?
- Sobre o meu irmão. - Voltou a cadeira de costas direitas de modo a ficar de frente e sentou-se apoiando a mão no assento. Indicou a St. James um cadeirão junto dela. Este ficou à espera que ela lhe dissesse por que razão quisera falar com ele pela segunda vez.
Ruth esclareceu-o imediatamente. O senhor St. James conhecia o direito sucessório na ilha de Guernsey? Ou tinha conhecimento das restrições destas leis à disposição do dinheiro e dos bens de uma pessoa depois da sua morte? Era um sistema bastante antiquado, disse, e tinha as suas raízes no direito consuetudinário normando. A sua principal característica era a preservação dos bens de família dentro da família e a sua marca distinta era ser impossível deserdar um filho fosse em que caso fosse. Um filho tinha sempre o direito de herdar uma determinada percentagem dos bens, independentemente da sua relação com os pais.
- O meu irmão gostava de muitas coisas das Ilhas do Canal - disse Ruth Brouard a St. James. - O tempo, a atmosfera, o forte sentido de comunidade. E claro que do direito fiscal e do acesso a facilidades bancárias. Mas Guy não gostava que um sistema legal lhe dissesse como haveria de distribuir os bens após a sua morte1.
- É compreensível - replicou St. James.
- Procurou então contornar a questão de uma maneira legal. E encontrou-a. Quem o conhecesse poderia tê-lo previsto.
Ruth Brouard explicou que, antes de terem vindo para a ilha, o irmão doara-lhe todos os seus bens. Mantivera para si próprio uma simples conta bancária, na qual depositara uma quantia substancial da qual sabia poder viver e fazer bons investimentos. Mas todos os seus restantes bens - as propriedades, as acções, os títulos, as outras contas, os negócios - tinham sido postos no nome de Ruth. Houvera apenas uma condição: que assim que chegassem a Guernsey ela concordasse em assinar um testamento delineado por ele e por um advogado. Como ela não tinha marido ou filhos, poderia fazer com os bens aquilo que lhe aprouvesse e assim o irmão poderia fazer com as suas coisas aquilo que queria, desde que ela fizesse o seu testamento à vontade dele. Era uma maneira inteligente de contornar a lei.
- Durante muitos anos, o meu irmão foi afastado das duas filhas mais novas, sabe - explicou Ruth. - Não percebia por que razão seria obrigado a deixar a fortuna às duas raparigas só porque era pai delas e porque as leis da ilha assim o exigiam. Sustentou-as até à idade adulta. Enviou-as para as melhores escolas, puxou os cordelinhos para conseguir que uma entrasse em Cambridge e a outra na Sorbonne. Não recebeu nada em troca. Nem lhe agradeceram. Por isso disse basta e procurou um modo de dar alguma coisa a quem, ao contrário dos filhos lhe tinha dado tanto. Estou a falar de dedicação, de amizade, de aceitação e de amor. Podia mostrar-se generoso para com essas pessoas desde que tudo passasse por mim. Por isso foi o que fizemos.
- E o filho?
- O Adrian?
- O seu irmão também o quis cortar do testamento?
- Não o quis cortar completamente. Só quis diminuir a quantia que seria obrigado por lei a entregar-lhe.
1 Nos países anglo-saxónicos é possível deserdarem-se os filhos. [N. da T. ]
- Quem tinha conhecimento disto? - perguntou St. James.
- Tanto quanto sei, apenas o Guy e o Dominic Forrest, que é o advogado, e eu. - Pegou no envelope mas não abriu os fechos metálicos. Colocou-o no colo e alisou-o enquanto continuava. - Concordei, em parte para dar paz de espírito ao meu irmão. Sentia-se terrivelmente infeliz com as relações que as suas ex-mulheres lhe permitiam ter com os filhos, por isso pensei: que diabo, porque não? Porque não permitir que ele se lembre das pessoas que o acompanharam em vida, quando a sua própria família nem se quer chegar a ele? Sabe, não esperava... - Hesitou, e entrelaçou cuidadosamente as mãos como se reflectisse aquilo que deveria revelar. Depois pareceu resolver-se ao observar o envelope em que segurava, porque continuou.
- Nunca esperei sobreviver ao meu irmão. Pensei que, quando por fim lhe confessei o meu... o meu estado de saúde, ele pudesse sugerir que voltássemos a escrever o meu testamento e eu lhe deixasse tudo a ele. Ficaria de novo impedido pela lei, no que dizia respeito ao seu próprio testamento, mas penso que teria sido preferível a ficar apenas com uma conta bancária, alguns investimentos e sem maneira de lá depositar dinheiro, se precisasse de o fazer.
- Sim. Compreendo - disse St. James. - Percebo o que tencionava fazer. Mas afinal não aconteceu assim, pois não?
- Acabei por não lhe falar do meu... estado. Por vezes apanhava-o a olhar para mim e pensava. Ele sabe. Mas nunca me disse nada. Eu nunca lhe disse nada. Amanhã, dizia para comigo. Amanhã falo-lhe no assunto. Mas nunca o fiz.
- Então, quando ele morreu inesperadamente...
- Criaram-se expectativas.
- E agora?
- Há ressentimentos compreensíveis.
St. James acenou afirmativamente. Olhou para o enorme mural que mostrava uma parte vital da existência dos dois irmãos. Viu que a mãe que fazia a mala chorava e que as crianças se agarravam, uma à outra, assustadas. Pela janela, os tanques nazis passavam ao longe e uma divisão de tropas alemãs descia a rua estreita marchando a passo de ganso.
- Não creio que me tenha pedido para cá vir para que eu a aconselhe sobre o que há-de fazer a seguir - disse ele. - Parece-me que já sabe.
- Devo tudo ao meu irmão e sou uma mulher que paga as suas dívidas. Por isso, tem razão, não lhe pedi que cá viesse para me dizer o que hei-de fazer com o meu testamento agora que o Guy morreu. De modo algum.
- Então se me permite que pergunte... Como posso ajudá-la?
- Até hoje - disse ela -, sempre tive conhecimento dos termos exactos dos testamentos do Guy.
- No plural?
- Ele voltava a escrever o testamento mais vezes do que as outras pessoas. De cada vez que pensava fazê-lo, marcava uma reunião entre mim e o seu advogado para que eu tomasse conhecimento dos termos do testamento. Fazia-o bem e sempre de modo coerente. No dia em que o testamento devia ser assinado e reconhecido íamos ao escritório do senhor Forrest, revíamos todos os papéis, víamos se eram necessárias alterações no meu testamento, assinávamos e reconhecíamos tudo e depois íamos almoçar.
- Mas julgo que tal não tenha acontecido com o último testamento.
- Não aconteceu.
- Talvez ainda não tivesse tratado de tudo - sugeriu St. James. Evidentemente que não esperava morrer.
- Este último testamento foi escrito em Outubro, senhor St. Jame. Há mais de dois meses. Desde essa altura não saí da ilha. Nem o Guy. Para que este último testamento fosse legal, teve de ir a St. Peter Port para assinar os papéis. Como não me levou com ele, parece-me que não queria que eu soubesse o que planeava fazer.
- E que era...
- Cortar Anais Abbott, Frank Ouseley e os Duffy. Manteve tudo isso em segredo. Quando o descobri, apercebi-me de que seria possível que também me tivesse ocultado outras coisas.
St. James percebeu que seria então que ela lhe ia dizer a razão por que o chamara de novo. Ruth Brouard abriu os fechos metálicos do envelope que tinha no colo. Retirou de lá o conteúdo e Simon viu que se tratava do passaporte de Guy Brouard que Ruth imediatamente lhe estendeu.
- Este foi o seu primeiro segredo - disse ela. - Repare no último carimbo, no mais recente.
St. James folheou o documento e encontrou os carimbos da alfândega. Viu que, contrariamente ao que Ruth Brouard lhe dissera durante a conversa anterior, o irmão tinha entrado no estado da Califórnia no mês de Março, pelo Aeroporto Internacional de Los Angeles.
- Ele não lhe falou disto? - perguntou St. James.
- E ele não lhe falou disso? - perguntou St. James.
- Claro que não. De contrário ter-lhe-ia dito. - Entregou-lhe a seguir vários documentos. St. James viu que eram contas de cartões de crédito, de hotéis e facturas de restaurantes e de firmas de aluguer de rent-a-car. Guy Brouard ficara cinco noites no Hilton de uma cidade chamada Irvine. Comera num sítio chamado II Fornaio, bem como no Scotfs Seafood em Costa Mesa e no Citrus Grille em Orange. Encontrara-se com um advogado chamado William Kiefer em Tustin a quem pagara mais de mil dólares por três consultas em cinco dias e conservara o cartão desse advogado bem como o recibo de uma firma de arquitectos chamada Southby, Strange, Wiüows & Ward. O nome Jim Ward estava rascunhado no fundo de um talão do cartão de crédito juntamente com o número de um telemóvel e de um telefone fixo.
- Então parece que se encarregou pessoalmente das disposições a tomar em relação ao museu - comentou St. James. - Isto coincide com o que sabemos serem os seus planos.
- É verdade - disse Ruth. - Mas não me disse nada. Nem uma palavra sobre esta viagem. Está a ver o que isso significa?
A pergunta de Ruth estava cheia de sinistros subentendidos, mas St. James viu que aquela informação apenas significava que o irmão dela poderia ter desejado um pouco de privacidade. De facto poderia mesmo ter levado companhia e não ter querido que a irmã soubesse. Mas quando Ruth continuou, percebeu que os factos novos de que tivera conhecimento em vez de a desconcertarem só tinham vindo confirmar aquilo em que ela acreditava.
- A Califórnia, senhor St. James. - disse. - Ela mora na Califórnia. Por isso ele deve tê-la conhecido antes de ela ter chegado a Guernsey. Ela veio até cá com tudo planeado.
- Sim, Miss River. Mas ela não vive nessa parte da Califórnia comentou St. James. - Ela é de Santa Barbara.
- E é muito longe?
St. James franziu a testa. De facto não sabia, pois nunca lá tinha estado e as cidades, excepto Los Angeles e São Francisco que sabia situarem-se em locais mais ou menos opostos do estado, eram-lhe completamente desconhecidas. Porém sabia que o estado era vasto, ligado por uma incompreensível rede de auto-estradas que estavam geralmente cheias de carros. Deborah saberia se seria possível Guy Brouard ter dado um salto a Santa Barbara durante a sua estada na Califórnia. Quando lá vivera viajara muito, não só com Tommy mas também com China.
China. Lembrou-se então de que a mulher lhe tinha falado nas visitas que fizera à mãe e ao irmão de China. Uma cidade como uma cor, dissera: Orange, era aí que ficava o Citrus Grille cuja factura Guy Brouard metera entre os seus papéis. E Cherokee River - não a irmã China vivia algures nessa zona. Não seria então provável que, não China, mas Cherokee River tivesse conhecido Guy Brouard antes de ter vindo para Guernsey?
St. James pensou nas implicações e disse a Ruth.
- Onde ficavam os aposentos dos River nas noites que cá passaram?
- No segundo andar.
- Esses aposentos davam para onde?
- Para a frente, para sul
- Tinham uma vista nítida para o caminho? Para as árvores? Para a casa dos Duffy?
- Sim, porquê?
- O que a fez ir à janela nessa manhã, Miss Brouard? Quando viu uma pessoa atrás do seu irmão, o que foi que a fez ir logo à procura? Era seu hábito?
Ela reflectiu sobre a pergunta e por fim disse lentamente
- Geralmente não estava levantada à hora que o Guy saía de casa. Penso que deve ter sido... - Parecia pensativa. Entrelaçou as suas mãos magras sobre o envelope e St. James reparou que a pele dela era transparente e estava esticada como um lenço de papel sobre os ossos. Tenho de confessar que ouvi barulho, senhor St. James. O barulho acordou-me e assustou-me um pouco, porque pensei que estava no meio da noite e que andava alguém a rastejar. Estava tão escuro. Mas quando olhei para o relógio vi que eram quase horas do Guy ir tomar o seu banho. Pus-me uns momentos à escuta e depois ouvi-o no quarto. Concluí que tinha sido ele a fazer o barulho. - Percebeu o que St. James poderia pensar e acrescentou: - Mas poderia ter sido qualquer outra pessoa, não é verdade? Poderia não ter sido o Guy, mas alguém que já se tivesse levantado e andasse por aí. Alguém que já tivesse saído para se ir esconder nas árvores.
- Parece que sim - disse St. James.
- E os quartos deles ficavam por cima do meu - disse ela. - Os quartos dos River. No andar de cima, por isso já vê...
- Possivelmente - disse St. James. Mas viu mais do que isso. Viu que uma pessoa se podia concentrar sobre informações parciais e ignorar as restantes. - E onde ficava o Adrian? - perguntou então.
- Ele não poderia...
- Ele conhecia a situação dos testamentos? A sua e a do seu irmão?
- Senhor St. James, garanto-lhe. Ele não podia... acredite, ele não o faria...
- Partindo do princípio que conhecia as leis da ilha e de que ignorava o que o pai tinha feito para lhe reduzir drasticamente a fortuna, acreditaria que poderia herdar... quanto?
- Ou metade de toda a fortuna do Guy dividida em terços com as irmãs... - disse Ruth com visível relutância.
- Ou um terço de tudo, se o pai tivesse deixado tudo aos filhos?
- Sim, mas...
- Uma fortuna considerável - comentou St. James.
- Claro que sim. Mas tem de me acreditar, Adrian não tocaria num cabelo da cabeça do pai. Nem por nada. E decerto não seria por causa da herança.
- Tem então dinheiro próprio?
Ela não respondeu. Um relógio trabalhava sobre a pedra da chaminé e o som crescia, como o de uma bomba. O silêncio dela bastou a St. James.
- E o seu testamento, Miss Brouard? - perguntou ele. - Que acordo tinha a senhora com o seu irmão? Como queria ele que distribuísse os bens que tinha posto em seu nome?
Ela humedeceu o lábio inferior. A língua era quase tão pálida como o resto do rosto.
- O Adrian é um rapaz perturbado, senhor St. James. Os pais puxaram por ele como se fosse uma corda num jogo durante a maior parte da sua vida. O casamento acabou mal e a Margaret fez do Adrian o instrumento da sua vingança. Não fez qualquer diferença ela ter voltado a casar e casado bem... a Margaret casa sempre bem, sabe... continuava a estar de pé o facto de o Guy a ter traído e de ela não o ter sabido a tempo, não ter sido suficientemente esperta para o ter apanhado em flagrante que era o que ela desejava mais do que tudo: o meu irmão com uma mulher na cama e Margaret atirando-se a eles como uma das fúrias. Mas não aconteceu assim. Foi uma espécie de descoberta sórdida... nem sequer sei bem o que foi. E não conseguiu ultrapassar aquilo, não conseguiu conformar-se. O Guy teria de sofrer o mais possível por tê-la humilhado. Para isso, serviu-se de Adrian. E ao ser usado dessa maneira... a árvore não pode ser forte quando lhe estragaram as raízes. Mas o Adrian não é um assassino.
- Então deixou-lhe tudo como recompensa?
Ela examinava as mãos mas, nesse momento, ergueu os olhos.
- Não. Fiz o que o meu irmão queria.
- E que era...
Lê Reposoir, disse, seria deixado às gentes de Guernsey para seu uso e prazer, com um fundo para a manutenção da propriedade, dos edifícios e do recheio. Tudo o resto... as propriedades de Espanha, França e Inglaterra... as acções e os títulos, as contas bancárias e todos os bens pessoais não usados na altura da sua morte para mobilar a casa grande ou para decorar a propriedade... seriam vendidos, e os lucros da venda reverteriam para esse fundo.
- Concordei porque era o que ele queria - disse Ruth Brouard. Prometeu-me que os filhos seriam recordados no seu testamento. Não tão generosamente como se as coisas tivessem sido normais. Mas mesmo assim lembrados.
- Como?
- Utilizou a opção que lhe restava para dividir a fortuna ao meio. Os três filhos ficavam com a primeira metade, dividida igualmente entre eles. A segunda metade iria para os outros dois jovens aqui de Guernsey.
- Deixando-lhes efectivamente mais do que os seus próprios filhos receberiam.
- Eu... sim - disse ela. - Acho que sim.
- Quem são esses jovens?
Ela disse-lhe que se chamavam Paul Fielder e Cynthia Moullin. O irmão, continuou, instituíra-se seu mentor. O rapaz chegara-lhe através de um programa de apadrinhamento da escola secundária da terra. Conhecera a rapariga por intermédio do pai dela, Henry Moullin, um vidraceiro que construíra a estufa e substituíra os vidros de Lê Reposoir.
- As famílias são muito pobres, principalmente os Fielder - concluiu Ruth. - O Guy apercebeu-se rapidamente disso e, como gostava de crianças, desejou fazer alguma coisa por eles, alguma coisa que os pais nunca pudessem fazer.
- Mas porquê fazer disso um segredo? - perguntou St. James.
- Não sei - disse ela. - Não compreendo.
- A senhora não teria concordado?
- Poderia ter-lhe dito que iria causar problemas.
- com a sua família?
- E também com a deles. Paul e Cynthia têm outros irmãos.
- Que não foram contemplados no testamento do seu irmão?
- Que não foram contemplados no testamento do meu irmão. Era um legado deixado a um e não aos outros... Ter-lhe-ia dito que tinha o potencial para causar rupturas nas famílias.
- E ele tê-la-ia escutado, Miss Brouard?
Ela abanou a cabeça. Parecia infinitamente triste.
- Era essa a fraqueza do meu irmão - disse-lhe. - O Guy nunca escutava ninguém.
Margaret Chamberlain já não se lembrava de se ter sentido tão furiosa e com tanta vontade de se vingar. Talvez só no dia em que as suspeitas a respeito de Guy andar com outras mulheres se tivessem transformado em certezas incontornáveis, semelhantes a socos no estômago. Mas esse dia já passara havia muito tempo e muita coisa acontecera nos anos intermédios - mais três casamentos e mais três filhos, para ser mais precisa - de modo que o tempo esbatera-se e ela não desejava reavivá-lo, porque não lhe serviria de nada. Mesmo assim, calculava que aquilo que a consumia era semelhante à provocação anterior. E como era irônico que tanto naquela altura como agora a semente daquilo que a consumia tivesse a mesma origem?
Quando se sentia assim, geralmente era-lhe difícil decidir onde haveria de atacar primeiro. Sabia que teria de falar com Ruth, pois as disposições do testamento de Guy eram tão inconcebíveis que apenas poderia haver uma explicação para elas e Margaret estava disposta a apostar a sua vida de que o nome da explicação era Ruth. Porém, para além de Ruth, havia os dois beneficiários de metade do que fingia ser toda a fortuna de Guy. Não haveria qualquer lugar no céu, na terra ou no inferno em que Margaret Chamberlain concordasse em ficar a assistir a dois zés-ninguém - que não tinham qualquer parentesco de sangue com Guy partirem com mais dinheiro do que o filho legítimo daquele canalha.
Adrian poucas informações lhe dera. Metera-se no quarto e quando ela lá fora exigindo saber quem eram e por que razão Ruth não lhe quisera dizer mais nada, apenas lhe respondera: "São miúdos. Miúdos que olhavam para o pai do modo que ele achava que os frutos dos seus testículos deviam olhar. Nós não colaborámos. Eles não se fizeram rogados. Sabias que o pai era assim, não sabias? Sempre pronto a recompensar a devoção.
- Onde estão eles? Onde posso encontrá-los?
- Ele no Bouet - replicou. - Não sei onde. Talvez no bairro social. Pode estar em qualquer lado.
- E a outra?
Isso era mais fácil. Os Moullins viviam em La Corbière, a sudoeste do aeroporto, numa freguesia chamada Forest. Viviam na casa mais extravagante da ilha. As pessoas chamavam-lhe a Casa das Conchas e quem estivesse nos arredores de La Corbière não podia deixar de reparar nela.
- Óptimo. Vamos lá - disse Margaret ao filho.
Neste momento ele tornou bem claro que não ia a lado nenhum.
- Que pensas que vais conseguir?
- vou mostrar-lhes com quem estão a tratar. vou dizer-lhes que se estão à espera de te roubar daquilo que por direito te pertence...
- Não te preocupes. - Fumava sem parar, andando de um lado para o outro no quarto, pisando o tapete persa, como se tivesse decidido a abrir nele um atalho. - Foi o que o pai quis. Foi a sua última... sabes... a sua última bofetada de despedida.
- Deixa-te disso, Adrian. - Não conseguia conter-se. Era de mais ter de aceitar o facto de o filho estar perfeitamente disposto a aceitar uma derrota humilhante, só porque o pai decidira que teria de ser assim. - Há mais coisas metidas nisto do que os desejos do teu pai. Há os teus direitos de família. E há também os direitos das tuas irmãs e não me podes dizer que a JoAnn Brouard vai ficar sentada sem fazer nada assim que souber o que o teu pai fez às filhas. Isto tem potencial para se arrastar durante anos nos tribunais se fizermos alguma coisa. Por isso primeiro vamos falar com os dois beneficiários. E depois com a Ruth.
Adrian decidiu-se por fim a alterar o comportamento e dirigiu-se à cômoda e apagou o cigarro no cinzeiro que fornecia ao quarto noventa por cento do seu mau cheiro. Acendeu imediatamente outro.
- Não vou a lado nenhum - disse-lhe. - Não quero saber de nada, mãe.
Pelo menos naquele momento, Margaret recusou-se a acreditar. Disse a si própria que ele estava simplesmente deprimido. Que estava humilhado. Que estava a fazer o seu luto. Não por Guy, claro, mas por Carmel que perdera para Guy, maldita a sua alma por ter traído o seu único filho homem daquela maneira, como um Judas. Mas essa mesma Carmel voltaria a correr pedindo perdão se Adrian ocupasse o lugar que lhe pertencia à frente da fortuna do pai. Margaret poucas dúvidas tinha a esse respeito.
Adrian não perguntou nada quando Margaret disse "muito bem" e andou à procura das coisas. Também não protestou quando ela lhe foi buscar as chaves do carro ao bolso do casaco que ele deixara no assento de uma cadeira.
- Muito bem. Então, por enquanto, não te metas nisto. - E saiu deixando-o sozinho.
Margaret encontrou um mapa da ilha no porta-luvas do Range-Raver. Era o tipo de mapas fornecido pelas firmas de rent-a-car com as filiais marcadas de tal maneira que tudo o resto não se podia ler. Mas, como a firma era de o aeroporto e La Corbière também não era longe, conseguiu localizar a pequena aldeia na costa sul da ilha, ao longo de um caminho com as dimensões aproximadas às do bigode de um felino.
Ligou o motor, dando livre curso à sua raiva e partiu. Perguntou a si própria que dificuldade poderia haver em regressar ao aeroporto e depois voltar à esquerda na Rue de Ia Villiaze? Não era parva. Sabia ler as placas das ruas. Não se haveria de perder.
Claro que essas idéias pressupunham que houvesse placas com o nome das ruas. Margaret em breve descobria que parte da natureza bizarra da ilha estava no modo como se escondiam os nomes das ruas. Geralmente encontravam-se à altura da cintura e por trás de uma trepadeira. Também descobriu rapidamente que seria necessário saber para que freguesia a pessoa se queria dirigir, para não acabar no meio de St. Peter Port que, tal como Roma, parecia ser o local onde levavam todos os caminhos.
Depois de quatro tentativas, e encharcada de transpiração encontrou por fim o aeroporto, mas passou pela Rue de Ia Villiaze sem dar por ela, tão pequena era. Margaret estava habituada a Inglaterra, onde as ruas principais se assemelhavam às estradas principais. No mapa, a rua era vermelha, por isso pensou que tivesse duas faixas, já para não falar de uma placa indicando aquilo que procurava. Infelizmente foi parar ao meio da ilha, a um cruzamento triangular perto de uma igreja quase escondida por uma depressão e foi então que pensou que se poderia ter afastado de mais. Estacionou aí para estudar o mapa e viu - cada vez mais irritada - que tinha ultrapassado o ponto onde desejava chegar e teria de recomeçar.
Foi então que amaldiçoou o filho. Se ele não tivesse sido um parvalhão e um exemplar tão patético... Mas não, não. Na verdade teria sido mais conveniente tê-lo consigo naquele momento para lhe evitar tantas falsas partidas, para a ter levado directamente ao seu destino. Mas Adrian precisava de se recuperar do golpe do testamento do pai - do maldito, maldito, maldito testamento do pai - e se desejava uma hora ou mais para se conformar, melhor para ele, pensou Margaret. Ela arranjar-se-ia sozinha.
Aquilo fê-la perguntar a si própria se não teria sido o que acontecera com Carmel Fitzgerald: um daqueles momentos em que a jovem se apercebera de que se teria de arranjar sozinha, porque Adrian recolheria ao seu quarto, ou pior ainda. Só Deus sabia como Guy era capaz de abater uma pessoa com uma natureza sensível, ou até fazer com que ela se odiasse a si própria e se isso acontecera a Adrian enquanto ele e Carmel tinham sido hóspedes de Lê Reposoir, o que teria a jovem pensado, de que modo teria sido vulnerável aos avanços de um homem no seu elemento perfeito, tão viril e tão capaz. Extremamente vulnerável, pensou Margaret. Coisa que sem dúvida Guy teria visto sem qualquer problema de consciência.
Mas o maldito havia de pagá-las. Não tinha podido ser em vida, mas pagaria agora.
Tão decidida estava que quase passou a Rue de Ia Villaze pela segunda vez. Porém, no último momento, viu um atalho estreito que curvava à direita nas proximidades do aeroporto. Entrou às cegas e deu por si passando por um pub e por um hotel, entrando depois em pleno campo, passando por sebes altas que dividiam as quintas e os campos em pousio. Em volta dela começaram a surgir caminhos secundários que mais pareciam os atalhos abertos por um tractor e, no momento em que decidira meter-se por um qualquer, na esperança que a levasse a um lado identificável, chegou a um cruzamento e descobriu milagrosamente uma seta para a direita indicando La Corbière.
Margaret resmungou os seus agradecimentos ao deus dos motoristas que a enviara até ali e virou num caminho exactamente igual aos outros. Se tivesse encontrado outro carro, um dos dois teria de fazer marcha atrás até ao princípio do caminho, mas a sorte dela manteve-se e não encontrou nenhum na estrada que seguia junto ao muro caiado de uma quinta e a duas casas de tijolo cor de carne.
O que viu por fim, depois de uma curva apertada, foi a Casa das Conchas. Tal como Adrian sugerira só um cego poderia não a encontrar.
Era uma construção de estuque amarelo. As conchas, que lhe davam o nome, decoravam o caminho sobre o muro e dentro o enorme jardim.
Era a maior exposição de mau gosto que Margaret já vira, uma coisa que parecia ter sido feita por um louco. Vieiras e conchas de marisco enfeitavam as bordas dos canteiros nos quais mais conchas, coladas a rebentos, a ramos e a metal flexível, fingiam ser flores. No meio do relvado, um lago rodeado de conchas erguia os seus lados cobertos de conchas, e dentro dele havia peixinhos dourados que, felizmente, não eram feitos de conchas. Mas em redor do lago viam-se pedestais incrustados de conchas, sobre os quais tinham sido colocados ídolos também formados por conchas para serem adorados. Sobre duas mesas de jardim feitas de conchas, com as suas respectivas cadeiras, também de conchas encontravam-se serviços de chá de conchas e comida e pratos de sanduíches de conchas. E junto ao muro, havia um quartel de bombeiros em miniatura, uma escola, um celeiro, uma igreja, todos eles de um branco cintilante resultante das conchas dos moluscos que tinham dado a vida para os criar. Bastava ver aquilo para nunca mais querer comer caldeirada de marisco, pensou Margaret ao sair do Range Rover.
Estremeceu ao observar aquele monumento ao mau gosto. Trazia-lhe recordações desagradáveis: as férias de Verão da sua infância na costa do Essex, aqueles sotaques populares, o consumo de tantas batatas fritas gordurentas, toda aquela carne, antes cor de massa de pão, depois avermelhada para proclamar que se tinha poupado dinheiro suficiente para passar férias na praia.
Margaret pôs de lado tais pensamentos, a lembrança dos pais nos degraus de uma cabana alugada, enlaçados com uma garrafa de cerveja na mão. Os beijos ternurentos e as gargalhadinhas da mãe e o que se seguia a essas gargalhadinhas.
Basta, pensou Margaret. Determinada, subiu o caminho da casa. Chamou com ar confiante uma vez, depois outra e ainda outra. Ninguém apareceu. Porém havia utensílios de jardim na frente da casa e só deus saberia para que serviriam naquele cenário. Mesmo assim sugeriam a presença de alguém em casa e a trabalhar no jardim, por isso aproximou-se da porta. Nesse momento, apareceu um homem vindo do lado da casa com uma pá. Tinha umas calças de ganga tão sujas que se teriam mantido de pé sem ninguém dentro delas. Apesar do frio, não vestia casaco, apenas uma desbotada camisa de trabalho com as palavras Vidros Moullin bordadas a vermelho. O homem transportava até aos pés a sua indiferença climática, usando apenas sandálias apesar de calçar meias. Mas estas mostravam mais de um buraco e o dedo grande do seu pé direito saía de dentro de uma delas.
Ao ver Margaret, deteve-se em silêncio. Ela reconheceu-o: era o bem nutrido Heathcliff que vira na recepção do funeral de Guy. De perto viu que a sua pele escura se devia ao facto de estar tão queimada pelas intempéries que mais parecia feita de couro e que tinha as mãos cobertas por vários cortes cicatrizados e por cicatrizar. Observava-a com olhos tão hostis que se não fosse a sua própria animosidade, Margaret sentir-se-ia intimidada. Mas mesmo se não fosse esse o caso não era mulher para se assustar com facilidade.
- Procuro a Cynthia Moullin - disse ao homem o mais delicadamente que pôde. - Por favor, pode dizer-me onde posso encontrá-la?
- Porquê? - Levou a pá para o relvado, onde começou a cavar junto à base de uma das árvores.
Margaret irritou-se. Estava habituada a que as pessoas ouvissem a sua voz - e passara vários anos a desenvolvê-la para isso - e lhe obedecessem imediatamente.
- Pode ou não pode ajudar-me. Não percebe o que lhe digo?
- Sabe que isso é-me indiferente? - O seu sotaque era tão cerrado que parecia ter saído de uma peça histórica onde tinha de utilizar o dialecto da ilha.
- Preciso de falar com ela - disse Margaret. - É essencial que fale com ela. O meu filho disse-me que ela vivia nesta casa. - Tentou que nesta casa não parecesse neste monte de lixo, mas concluiu que teria desculpa se falhasse. - Mas se ele se enganou, gostava que me dissesse. E depois deixo-o em paz com o maior prazer.
- O seu filho? Quem é ele?
- Adrian Brouard. O pai dele era o Guy Brouard. Conhecia o Guy Brouard, não é verdade? Vi o senhor na recepção do funeral.
Estes últimos comentários pareceram conseguir a atenção dele, pois levantou os olhos da pá e inspeccionou Margaret dos pés à cabeça. Depois atravessou silenciosamente o relvado até ao alpendre, onde foi buscar um balde. Encheu-o com uma espécie de pedrinhas redondas que levou até à árvore e despejou numa cova propositadamente aberta em redor do tronco. Poisou o balde, passou para a árvore seguinte e começou a cavar.
- Olhe - disse Margaret. - Ando à procura da Cynthia Moullin. Gostaria de falar com ela imediatamente, por isso se me disser onde a posso encontrar... Ela vive aqui, não é verdade? Esta é a Casa das Conchas?
Margaret sabia que aquela era a pergunta mais ridícula que poderia ter feito. Se aquela não fosse a Casa das Conchas, haveria um pesadelo maior algures à espera dela, e ela não conseguia imaginar tal coisa.
- Então você é a primeira - disse o homem com um aceno de cabeça. - Sempre tive vontade de saber como seria a primeira. A primeira revela muito a respeito de um homem, sabe? Explica as escolhas seguintes.
Margaret esforçou-se por decifrar as palavras através daquele sotaque. No entanto compreendeu que ele se referia, de maneira pouco elogiosa, às relações sexuais entre ela e Guy. Não podia ser. Queria ter ela o controlo. Os homens reduziam tudo a conversa de cama. Pensavam tratar-se de uma maneira eficaz para envergonhar a mulher com quem falavam. Porém, Margaret Chamberlain não era uma mulher qualquer. E juntava as suas forças para o tornar claro àquele homem quando o telemóvel dele tocou e ele se viu obrigado a retirá-lo do bolso, abri-lo e revelar-se uma fraude.
- Henry Moullin - disse, e escutou durante quase um minuto. Depois, numa voz completamente diferente daquela com que falara com Margaret, continuou: - Primeiro tenho de tirar as medidas, minha senhora. Não lhe posso dizer quanto tempo demora esse tipo de obra até ver aquilo com que tenho de trabalhar. - Escutou mais uma vez e retirou um caderno preto do outro bolso. Aí marcou um encontro com uma pessoa a quem disse: "com certeza, com todo o prazer, senhora Felix." Voltou a meter o telefone no bolso e olhou para Margaret, como se não tivesse acabado de querer convencê-la de que era um rústico qualquer.
- Ah - disse Margaret sarcástica -, agora que já sei com quem estou a falar, talvez me responda à pergunta e me diga onde posso encontrar a Cynthia Moullin. Suponho que seja pai dela.
Ele não pareceu nem arrependido nem embaraçado.
- A Cyn não está cá, senhora Brouard.
- Chamberlain - corrigiu-o Margaret. - Onde está ela? É imprescindível que fale com ela imediatamente.
- Não é possível - disse ela. - Foi para Alderney ajudar a avó.
- E essa avó não tem telefone?
- Tem. Quando funciona.
- Percebo. bom, talvez seja melhor assim, senhor Moullin, e o senhor e eu possamos resolver as coisas sem que ela saiba de nada. Nem sequer terá de ficar desiludida.
Moullin retirou do bolso um tubo de pomada que espremeu para a palma da mão. Olhou-a, enquanto esfregava o creme nos muitos cortes, sem se importar por estar a esfregar ao mesmo tempo a terra do jardim.
- O melhor será dizer-me o que se passa - disse ele com uma certa objectividade masculina nos seus modos que era ao mesmo tempo desconcertante e excitante. Margaret teve por instantes uma visão bizarra de si própria como sendo uma mulher fraca e indefesa nas mãos daquele homem, coisa que nunca pensara ser possível. Ele aproximou-se um passo e ela recuou também um num movimento reflexo. Os lábios dele pareceram quase esboçar um sorriso divertido. Margaret sentiu um arrepio. Parecia ter-se transformado numa personagem de um romance de má qualidade, prestes a sucumbir.
Foi o suficiente para se sentir furiosa e capaz de lutar com todas as suas forças.
- Trata-se de uma coisa que o senhor e eu podemos provavelmente resolver, senhor Moullin. Não me parece que deseje ser arrastado para uma batalha legal. Não será assim?
- Batalha legal porquê?
- Por causa dos termos do testamento do meu ex-marido.
Pelo brilho dos olhos dele, Margaret apercebeu-se que ficara interessado. Deveria ser possível um compromisso: estabelecer uma quantia inferior para evitar gastar tudo com advogados que arrastariam as coisas no tribunal por muito tempo.
- Não vou mentir-lhe, senhor Moullin. O meu ex-marido deixou à sua filha em testamento uma soma considerável. O meu filho... o filho mais velho do Guy e o seu único herdeiro homem, como deve saber... ficou com muito menos. Certamente concorda que há aqui uma injustiça grosseira. Por isso gostaria de restabelecer aquilo que é justo, sem recorrer aos tribunais.
Margaret não tinha calculado qual seria a reacção do homem ao saber da herança da filha. Nem se importara com tal coisa. Pensara apenas em resolver a situação em benefício de Adrian, por todos os meios que estivessem ao seu alcance. Pensou que uma pessoa razoável veria as coisas da mesma maneira que ela, quando mencionasse um possível processo.
A princípio Henry Moullin nada disse. Voltou-lhe as costas. Continuou a cavar mas com a respiração alterada. Mais rouca e com um ritmo acelerado. Agarrou na pá e meteu-a na terra. Uma, duas, três vezes.
Entretanto a cor da nuca alterou-se-lhe e passou da cor curtida do couro para um vermelho tão vivo que Margaret receou que ele pudesse ter um ataque.
- A minha filha, caramba, meu Deus!. - e deixou de cavar. Pegou no balde das pedras. Lançou-as no segundo buraco, sem se importar que saltassem para os lados. - Ele pensa que pode... Nem por sombras... e antes que Margaret pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse mostrar-se falsamente solidária, com a evidente aflição do homem por Guy se ter intrometido na sua capacidade de sustentar a filha, Henry Moullin agarrou de novo na pá. Mas dessa vez voltou-se para ela. Ergueu-a e avançou.
Margaret soltou um grito, recuou interiormente, odiando-se por ter de o fazer e odiando-o por ele a obrigar a fazer tal coisa, ao mesmo tempo que procurava uma fuga rápida. Mas a sua única opção seria saltar sobre o quartel de bombeiros de conchas, a cadeira de estender de conchas, a mesa de conchas, ou - como uma atleta de salto em comprimento sobre o lago incrustado de conchas. Porém, enquanto começava a dirigir-se à cadeira, Henry Moullin passou por ela, dirigiu-se ao quartel de bombeiros e atacou-o cegamente com a pá.
- Maldição! - Os fragmentos voaram por todos os lados. Reduziu-o a entulho com três golpes brutais. Passou para o celeiro e depois para a escola enquanto Margaret o observava, atônita, com a força da sua raiva.
Nada dizia. Passava de uma obra de conchas à seguinte: a escola, a mesa do chá, as cadeiras, o lago, o jardim de flores feitas de conchas. Nada parecia esgotá-lo. Não se deteve enquanto não chegou ao fundo do carreiro que levava até à porta de casa. Aí atirou finalmente a pá contra a própria casa amarela. Quase acertou numa das janelas com grades antes de cair no chão com grande ruído.
O homem ofegava. Alguns cortes da sua mão tinham aberto de novo. Havia novos cortes feitos pelos fragmentos das conchas e pelo cimento que as agregava. Tinha as calças brancas do pó e, quando limpava as mãos nelas, o sangue manchava esse branco com riscos finos.
- Não - disse Margaret sem pensar. - Não deixe que ele o ponha nesse estado, Henry Moullin.
Ele olhou-a, respirando com força, como se assim conseguisse clarear as idéias. Toda a agressão se esgotara nele. Olhou em volta para a devastação que causara na frente da casa e disse:
- O canalha já tinha duas.
As filhas de JoAnn, pensou Margaret. Guy tinha as suas filhas. Tivera e perdera a oportunidade que lhe fora oferecida de ser pai. Mas não aceitara de bom grado uma tal perda, por isso substituíra por outros todos os seus filhos abandonados, por outros que provavelmente fechariam os olhos aos defeitos tão evidentes aos seus descendentes legítimos. Porque eram pobres e ele era rico. O dinheiro comprava amor e devoção onde podia.
- Precisa tratar das mãos - disse Margaret. - Cortou-as. Estão a sangrar. Não, não as limpeMas, mesmo assim, ele limpou-as, acrescentando mais traços de
sangue ao pó e à sujidade das calças e como se não bastasse, limpou-as também à camisa suja.
- Não queremos o maldito dinheiro - disse. - Não precisamos. Pode deitar-lhe fogo no meio da praça que eu não me importo.
Margaret pensou que ele poderia ter dito logo aquilo e poupado a ambos uma cena assustadora e também o seu jardim.
- Fico muito satisfeita por o ouvir dizer isso, senhor Moullin. É justo que o Adrian...
- Mas o dinheiro é da Cyn, não é verdade? - continuo Henry Moullin desfazendo-lhe as esperanças tal como desfizera em mil bocados as criações de concha e cimento que os rodeavam. - Se ela quiser o pagamento... - Aproximou-se da pá que estava no chão do carreiro. Pegou nela, no ancinho e num balde de lixo. Assim que os teve nas mãos olhou ern seu redor, como se não se lembrasse porque lhes pegara.
Olhou para Margaret com os olhos avermelhados do desgosto.
- Ele vinha cá - disse. - Eu ia lá. Trabalhámos lado a lado durante anos. E dizia-me: "És um verdadeiro artista, Henry. Não foste feito para construíres estufas a vida inteira." Dizia: "Deixa-te disto, homem. Acredito em ti, quero ajudar-te. Deixa-me ajudar-te. Quem nada tenta, nada tem." E eu acreditei nele. Quis mais do que esta vida aqui. Queria sim, para as minhas filhas, mas também para mim. Que pecado há nisso?
- Não há pecado nenhum - disse Margaret. - Todos queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Eu também quero. É por isso que aqui estou, por causa do Adrian, que é meu filho e do Guy. Por causa daquilo que ele lhe fez. Não lhe deixou o que lhe era devido, senhor Moullin. Percebe que não é correcto, não percebe?
- Fomos todos enganados - disse Henry Moullin. - O seu ex-marido fazia-o muito bem. Passou anos a criar-nos sonhos. Não fez nada de mal.
Nunca infringiu a lei. Fez-nos comer na mão dele, sem sabermos que essa comida estava envenenada.
- Não quer ajudar a acertar as coisas? - perguntou Margaret. - Sabe que pode fazê-lo. Pode falar com a sua filha. Pode explicar-lhe. Não podemos pedir à Cynthia que devolva todo o dinheiro que ele lhe deixou. Só queremos equilibrar um pouco a balança. Que se saiba que Adrian era seu filho legítimo.
- É isso que quer? - perguntou Henry Moullin. - É isso que pensa que vai equilibrar a balança? A senhora é tal e qual como ele, não é verdade? Pensa que o dinheiro perdoa todos os pecados. Mas não perdoa nem nunca perdoará.
- Então não fala com ela? Não lhe quer explicar? Vamos ter de tratar disto de outra maneira.
- Não percebe, pois não? - perguntou Henry Moullin. - Já não há conversas possíveis com a minha filha. Não há mais explicações.
Voltou-se e levou os utensílios para junto do sítio de onde trouxera a pá momentos antes. Desapareceu na esquina da casa.
Por um momento Margaret ficou imóvel no carreiro e descobriu que, pela primeira vez na vida, se sentia atrapalhada e sem saber o que dizer. Estava praticamente arrasada pela força do ódio que Henry Moullin deixara atrás de si. Era como uma corrente que a puxava para o mar e da qual não tinha a mínima esperança de poder escapar.
Quando menos pensara, encontrara afinidades naquele homem desconexo. Compreendia pelo que ele estava a passar. Os filhos são dos pais e não pertencem a ninguém do mesmo modo que lhes pertencem a eles. Não são o mesmo que um cônjuge, que pais, irmãos, companheiros, ou amigos. Os filhos são carne da carne dos pais. Nenhum intruso pode quebrar facilmente o laço que se cria desse tipo de substância.
Mas se um intruso tentasse, ou livre-nos Deus, conseguisse...
Ninguém sabia melhor do que Margaret Chamberlain até onde um pai podia ir para preservar a sua relação com um filho.
Capítulo 13
- JAMES PASSOU PRIMEIRO PELO HOTEL QUANDO REGRESSOU A ST. PETER Port, mas encontrou o quarto vazio e não havia qualquer recado da mulher. Por isso dirigiu-se à esquadra da polícia, onde interrompeu o inspector Lê Gallez que comia uma baguette recheada de salada de gambás. O inspector levou-o ao seu gabinete, oferecendo-lhe parte da sanduíche (que St. James recusou e uma chávena de café (que St. James aceitou). Pôs-lhe também bolachas de chocolate à disposição, mas como pareciam ter derretido e voltado a endurecer demasiadas vezes, St. James decidiu-se a beber só o café.
Informou Lê Gallez do conteúdo dos testamentos dos Brouard, irmão e irmã. O inspector escutou, ao mesmo tempo que mastigava e tomava notas num bloco que tinha retirado de uma caixa de plástico que havia sobre a secretária. Enquanto St. James falava, via que o inspector sublinhava Fielder e Moullin, acrescentando um ponto de interrogação ao segundo nome. Lê Gallez interrompeu a corrente de informações para explicar que tinha conhecimento das relações do falecido com Paul Fielder, mas Cynthia Moullin era um nome novo que aparecia. Acrescentou também os factos dos testamentos dos Brouard e escutou delicadamente a teoria que St. James elaborara no seu regresso à cidade.
O testamento anterior mencionado por Ruth Brouard, contemplava indivíduos apagados num documento mais recente: Anais Abbott, Frank Ouseley e Valerie Duffy juntamente com os filhos de Guy Brouard. Consoante o que sabia desse documento, Ruth Brouard convocara essas pessoas para estarem presentes durante a leitura. Se, comentou St. James, qualquer desses beneficiários tivesse tido conhecimento desse testamento anterior, teria um motivo evidente para acabar com Guy Brouard na esperança de recolher o mais cedo possível aquilo que lhe seria atribuído.
- O Fielder e a Moullin não estavam no testamento anterior? - perguntou Lê Gallez.
- Ela não os mencionou - replicou St. James. - E nenhum deles estava presente na leitura do testamento. Julgo que podemos concluir que esses legados foram uma surpresa para Miss Brouard.
- E para os interessados? - perguntou Lê Gallez. - O próprio Brouard pode tê-los informado. Assim também terão os seus motivos. O que acha?
- Julgo que seja possível. - Não pensava que fosse muito provável, já que eram ambos adolescentes, mas era bom sinal ver que, pelo menos naquele momento, o inspector já equacionava mais qualquer coisa do que a putativa culpabilidade de China River.
Ao ver que o inspector alargava o seu campo de possibilidades, St, James não tinha vontade de lhe fazer lembrar as suas idéias anteriores, porém sabia que teria problemas de consciência se não fosse completamente honesto com ele.
- Por outro lado... - St. James sentia-se relutante em dizê-lo pois a lealdade para com a mulher parecia exigir uma lealdade semelhante para com os amigos dela e apesar de saber como o inspector poderia reagir à informação, entregou-lhe o material que Ruth Brouard lhe facultara durante a última conversa de ambos. O inspector folheou primeiro o passaporte de Guy Brouard e depois os recibos dos cartões de crédito e as facturas. Passou algum tempo a olhar para a factura do Citrus Grille, batendo com o lápis, ao mesmo tempo que dava uma nova dentada na sanduíche. Depois de pensar um pouco, girou a cadeira e estendeu a mão para um dossiê. Abriu-o para revelar um conjunto de notas dactilografadas que folheou até encontrar o que pelos vistos queria.
- Códigos postais - disse a St. James. - Começam ambos por noventa e dois. Noventa e dois oito e noventa e dois seis.
- Um deles é o do Cherokee River, não é verdade?
- Já sabia?
- Sei que vive algures na zona que Brouard visitou.
- O segundo código é o dele - disse Lê Gallez. - O noventa e dois seis. O outro é o deste restaurante: o Citrus Grille. O que é que lhe sugere?
- Que o Guy Brouard e o Cherokee River estiveram na mesma região durante algum tempo.
- E mais nada?
- Como assim? A Califórnia é um estado muito grande. Os seus condados também são provavelmente muito grandes. Não tenho a certeza de que alguém possa extrapolar a partir de códigos postais que o Brouard e o River se encontraram anteriormente a o River ter vindo aqui para a ilha com a irmã.
- Não acha que se trata de uma coincidência? Uma coincidência suspeita?
- Claro que sim se nos baseássemos apenas nos factos que possuímos neste momento: o passaporte, as farturas e a morada do Cherokee River. Mas um advogado, sem dúvida com o mesmo código postal, contratou o River para entregar em Guemsey as plantas de um arquitecto. Por isso parece-me razoável concluir que o Guy Brouard estava na Califórnia para se encontrar com esse advogado e também com o arquitecto que muito provavelmente terá o mesmo código postal, e não com o Cherokee River. Não creio que se conhecessem até ao momento em que o River e a irmã chegaram a Lê Reposoir.
- Mas concorda que não podemos descartar a hipótese?
- Diria que não podemos descartar coisa alguma.
St. James sabia que aquilo significava o anel que ele e Deborah tinham encontrado na praia. Perguntou por ele ao inspector, sobre se haveria possibilidades de existirem nele impressões digitais, ou pelo menos uma. parcial que pudesse ser útil à polícia. Comentou que a aparência do anel sugeria que não podia estar na praia havia muito tempo: mas sem dúvida o inspector já teria chegado a essa conclusão quando o examinara.
Lê Gallez poisou a sanduíche e limpou os dedos a um guardanapo de papel. Antes de falar, pegou na chávena de café, que até aí ignorara, e rodeou-a com ambas as mãos. As duas palavras que pronunciou fizeram bater mais depressa o coração de St. James.
- Que anel?
Bronze, estanho, um metal básico, disse-lhe St. James. Tratava-se de uma caveira com duas tíbias cruzadas e os números 39 traço 40 na testa da caveira, juntamente com uma inscrição em alemão. Enviara-o para a esquadra com ordens para que fosse entregue pessoalmente ao inspector Lê Gallez.
Não acrescentou que o mensageiro seria a mulher porque estava ainda a preparar-se para ouvir o inevitável da parte do inspector. Perguntava a si próprio o que significaria esse inevitável, embora pensasse já conhecer a resposta.
- Não o vi - disse Lê Gallez, pegando no telefone para ligar para a recepção e ter a certeza de que o anel não estaria à sua espera lá em baixo.
Falou com o agente de serviço, descrevendo o anel tal como St. James o fizera. Resmungou com a resposta do guarda e olhou para St. James enquanto escutava o interlocutor que lhe falava de um assunto qualquer.
- Traga-o cá acima, homem. - Nesse momento St. James respirou fundo.
- Por amor de Deus, Jerry, não me vou queixar do maldito faxe. Arranje-o e despache-se, está bem? - E desligou o telefone soltando uma praga; quando voltou a falar abalou pela segunda vez em três minutos a paz de espírito de St. James.
- Não há anel à vista. Quer explicar-me do que se trata?
- Deve ter havido um mal-entendido. - Ou um acidente de trânsito, quis acrescentar St. James, embora soubesse que seria impossível, pois tomara o mesmo caminho que a mulher teria tomado no seu regresso de Lê Reposoir. Não havia sequer um farol partido na estrada a sugerir um acidente que pudesse impedir Deborah de cumprir o seu dever. Não que alguém na ilha conduzisse com tanta velocidade para provocar um acidente de automóvel. Talvez uma pequena colisão, pára-choques ou guarda-lamas amolgados. Mas nada mais. Nem mesmo isso a teria impedido de entregar o anel a Lê Gallez como lhe dissera para fazer.
- Um mal-entendido! - Lê Gallez falava agora com menos afabilidade. - Sim, bem sei, senhor St. James. Temos um mal-entendido. - Ergueu o olhar quando apareceu à porta um agente de uniforme, com papéis na mão. Lê Gallez mandou-o embora por um momento. Levantou-se e fechou a porta do gabinete. Voltou-se para St. James com os braços cruzados.
- Não me importo que ande a meter o nariz, senhor St. James - disse ele. - Estamos num país livre e, se quiser falar com esta ou com aquela pessoa e essa pessoa não se importar, por mim tudo bem. Mas quando se começa a mexer nas provas, temos uma situação muito diferente.
- Compreendo perfeitamente. Eu...
- Não creio. Veio cá com uma determinada idéia e, se pensa que eu não tenho consciência de onde isso pode levar, é melhor tomar cuidado. Agora, quero esse anel. Quero-o imediatamente. Depois ocupar-nos-emos de saber onde ele esteve desde que o trouxe da praia. E porque o apanhou também. Porque sabe perfeitamente o que deveria ter feito. Fui suficientemente claro?
St. James não tinha recebido uma repreensão desde a sua adolescência e a experiência - tão semelhante à que lhe fora feita por um professor indignado - não foi nada agradável. Sentiu a pele arrepiada com a momentânea mortificação e ainda pior porque a reprimenda era bem merecida. Mas a experiência não era menos penosa nem atenuava o golpe que aquele momento poderia desferir na sua reputação, se não fosse capaz de tratar rápida e eficazmente da situação.
- Não sei bem o que aconteceu - disse. - Mas peço-lhe as minhas sinceras desculpas. O anel...
- Não quero as suas malditas desculpas - vociferou Lê Gallez. - Quero o anel.
- Tê-lo-á o mais depressa possível.
- Será melhor, senhor St. James. - O inspector afastou-se da porta e abriu-a de repente.
St. James não se lembrava de alguma vez ter sido despedido com tanta sem-cerimônia. Saiu para o vestíbulo, onde o guarda de uniforme esperava com os papéis na mão. O homem desviou os olhos como se estivesse embaraçado e apressou-se a entrar no gabinete do inspector.
Lê Gallez bateu a porta com força. Mas não antes de dizer, raivoso: "Raio do coxo!", como que para se despedir.
Deborah descobriu que quase todos os antiquários de Guernsey eram em St. Peter Port. Como seria de esperar, estavam situados na parte mais antiga da cidade, perto do porto. Porém, em vez de os visitarem, sugeriu a Cherokee que começassem por telefonar. Assim regressaram ao mercado e, a partir daí, dirigiram-se a Town Church. De um lado ficava a cabina telefônica de que necessitavam e enquanto Cherokee esperava e a olhava com atenção, Deborah meteu moedas na ranhura e telefonou para as lojas de antigüidades até ser capaz de localizar aquelas que vendiam artigos militares. Parecia-lhe lógico começar por ali, alargando a investigação se o julgassem necessário.
Afinal apenas duas lojas vendiam artigos militares. Ficavam ambas em Mill Street, uma zona pedonal que saía do mercado da carne e subia a colina; fora fechada ao trânsito até porque, conforme Deborah descobriu, um carro nunca poderia passar na rua sem correr o risco de raspar nos edifícios dos dois lados. A ruela parecia-se com as Shambles de York, que eram um pouco mais largas, mas também evocadoras de um passado em que o transporte era feito em carroças.
As pequenas lojas em Mill Street reflectiam um período mais simples definido por uma decoração sóbria e janelas e portas sem enfeites.
Ficavam em edifícios que poderiam ter facilmente servido de habitação, com três andares, janelas de mansardas e chaminés em telhados, alinhadas como soldados em parada.
Havia pouca gente na zona que ficava a alguma distância da área comercial e dos bancos da High Street e de Lê Pollet, que era a sua extensão. Enquanto procuravam a loja que correspondia ao nome e à morada que Deborah tinha escrito nas costas de um cheque em branco, esta teve a sensação que nem os comerciantes mais optimistas teriam grandes possibilidades de sucesso se abrissem ali uma loja. Muitos dos edifícios estavam vagos com letreiros nas montras a dizer, "Vende-se" ou "Aluga-se". Quando localizaram a primeira das duas lojas que procuravam, constataram que a montra exibia um velho cartaz a dizer "Fechada", que parecia ter sido passado de mão em mão pelos sucessivos proprietários.
John Steven Mitchell Antiques oferecia poucos objectos militares. Talvez devido ao seu fecho eminente, a loja continha apenas um mostruário cujo conteúdo tinha origem militar. Tratava-se principalmente de medalhas, três punhais, cinco pistolas e dois bonés da Wehrmacht. Embora Deborah ficasse desiludida, decidiu que, como todo o conteúdo da caixa era de origem alemã poderia ser mais prometedor do que parecia.
Ela e Cherokee curvaram-se sobre a caixa, observando a mercadoria, quando o dono da loja, possivelmente John Steven Miller em pessoa, veio ter com eles. Deviam ter interrompido a sua lavagem da loiça depois do almoço, a julgar pelo avental manchado e pelas mãos húmidas. Ofereceu-lhes ajuda com ar agradável, enquanto limpava as mãos a um repugnante pano da loiça.
Deborah apresentou-lhe o anel que ela e Simon tinham encontrado na praia, tendo o cuidado de não lhe tocar e pedindo a John Steven Mitchell que fizesse o mesmo. Reconhecia o anel? perguntou-lhe. Poderia dizer-Lhes alguma coisa sobre ele?
Mitchell foi buscar os óculos que estavam sobre a caixa registadora e curvou-se sobre o anel que Deborah tinha colocado no mostruário dos objectos militares. Pegou também numa lupa e observou a inscrição na testa da caveira.
- Fortaleza a oeste - murmurou. - Trinta e nove quarenta... - Fez uma pausa como se reflectisse sobre as suas próprias palavras. - É a tradução de die Festung im Westen. E o ano... é de facto a recordação de uma qualquer construção defensiva. Também pode ser uma referência metafórica ao assalto da Dinamarca. Por outro lado, a caveira e as tíbias cruzadas eram específicas das Waffen-SS, de modo que pode também ser essa a ligação.
- Mas não tem nada a ver com a Ocupação? - perguntou Deborah.
- Pode ter sido cá deixado nessa altura, quando os alemães se renderam aos Aliados. Mas não estará directamente ligado com a Ocupação. As datas não coincidem. E a frase die Festung im Westen não tem qualquer significado aqui.
- Porquê? - Cherokee mantivera os olhos no anel enquanto Mitchell o examinava, mas agora erguera-os.
- Por causa das implicações - respondeu Mitchell. - Construíram túneis, claro. Fortificações, plataformas para o armamento, torres de vigia, hospitais e tudo isso. Até mesmo um caminho-de-ferro. Mas uma verdadeira fortaleza, nunca. E mesmo que o tivessem feito, o anel comemora qualquer coisa que teve lugar um ano antes da Ocupação. - Inclinou-se pela segunda vez com a lupa. - De facto nunca vi nenhum igual. Estão a pensar vendê-lo?
Não, não, disse-lhe Deborah. Apenas tentavam saber de onde tinha vindo, já que pelo seu estado era óbvio que não estivera ao ar livre desde 1945. As lojas de antigüidades tinham-lhes parecido o local mais lógico para começarem a procurar informações.
- Estou a ver - disse Mitchell. bom, se querem de facto informações, o melhor será falar com os Potter ao cimo da rua. Potter & Potter Antiques, Jeanne e Mark, mãe e filho, esclareceu. Ela era especialista em porcelanas e não os ajudaria muito. Mas havia muito pouco que ele não soubesse sobre o exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial.
Cherokee e Deborah subiram a Mill Street, passando por Back Lane, uma ruela encaixada entre dois prédios. Logo a seguir encontraram a Potter & Potter. Ao contrário da loja anterior, esta parecia uma empresa de sucesso.
Descobriram que a mãe Potter estava de serviço, sentada numa cadeira de baloiço, com os pés calçados em chinelos e colocados sobre uma almofada. Olhava para uma televisão com um ecrã do tamanho de uma caixa de sapatos. Estava a ver um filme: Audrey Hepburn e Albert Fínney percorrendo o campo num MG antigo. Deborah viu que era um carro parecido com o de Simon e, pela primeira vez, sentiu uma leve preocupação por ter decidido procurar China River antes de ir à polícia. Era como que um cordão a puxar-lhe a consciência, um fio que se poderia desenrolar se fosse puxado com demasiada força. Não podia dizer que fosse exactamente culpa, pois sabia que não havia nada de que se sentir culpada. Mas tratava-se definitivamente de uma coisa desagradável, um mau sabor psíquico de que gostaria de se ver livre. Era de facto irritante estar no meio de uma coisa importante e haver alguma coisa pouco razoável a exigir-lhe a atenção.
Viu que Cherokee tinha encontrado a secção militar da loja e esta era considerável. Ao contrário de John Steven Mitchell Antiques, a Potter & Potter oferecia tudo, desde antigas máscaras de gás, a argolas de guardanapo nazis. Até tinham uma arma antiaérea para venda, juntamente com um antigo projector de cinema e um filme chamado Eine gute Sache. Cherokee dirigiu-se imediatamente a um mostruário de prateleiras eléctricas que se elevavam umas sobre as outras quando se carregava num botão. Aqui os Potters guardavam medalhas, emblemas e insígnias dos uniformes militares. O irmão de China observava atentamente todas as prateleiras, batendo nervosamente com um pé no chão, sinal de que desejava encontrar qualquer coisa que provasse ser útil para a situação da irmã.
A mãe Potter levantou-se abandonando Audrey e Albert. Era gorda, com uns olhos que revelavam ter problemas de tiróide, mas mesmo assim cheios de simpatia quando se dirigiu a Deborah.
- Posso ajudá-la minha querida?
- É um artigo militar.
- Então precisa de falar com o meu Mark. - Dirigiu-se a uma porta semicerrada, que abria para uma escada. Parecia precisar de uma prótese na anca pois apoiava-se onde podia. Chamou o filho lá para cima e a voz dele respondeu. Disse-lhe que havia clientes e que teria de deixar por uns instantes o computador.
- Internet - disse a Deborah com ar confidencial. - Acho que é pior que a heroína.
Mark Potter desceu ruidosamente a escada sem ter ar de viciado. Apesar da época do ano estava muito bronzeado e os seus movimentos irradiavam vitalidade
O que desejavam? perguntou. O que procuravam? Estava sempre a receber objectos novos.
- As pessoas morrem mas as suas colecções ficam e ainda bem para nós, por isso se procuram alguma coisa que agora não temos, pode ser que eu possa arranjá-la em breve.
Deborah apresentou de novo o anel. O rosto de Mark Potter iluminou-se quando o viu.
- Mais outro! - exclamou. - Que extraordinário! Vi apenas um em todos estes anos em que tenho o negócio. E agora aparece outro. Como o encontrou?
Jeanne Potter veio ter com o filho à vitrina onde Deborah colocara o anel fazendo o mesmo pedido que fizera na outra loja para que não lhe tocassem.
- É igual àquele que vendeste, não é, querido? Tivemo-lo durante tanto tempo - disse a Deborah. - Um bocado macabro. Exactamente como esse. Nunca pensámos vendê-lo. Nem toda a gente gosta desse tipo de coisas.
- Venderam-no recentemente? Os Potters entreolharam-se.
- Quando... - disse ela.
- Há dez dias? Talvez duas semanas?
- Quem o comprou? - perguntou Cherokee. - Lembram-se?
- com certeza - disse Potter
- Tu sim, querido - disse a mãe com um sorriso. - Não te escapa nada. Potter riu.
- Sabes muito bem que não é isso. Deixa de implicar comigo, velha tonta. - Depois voltou-se para Deborah. - Foi a uma senhora americana. Lembro-me porque vêm muito poucos americanos a Guernsey e nunca nesta altura do ano. E porque haveriam de vir se têm melhores sítios para visitar do que as Ilhas do Canal, não é verdade?
Deborah ouviu Cherokee respirar fundo a seu lado.
- Tem a certeza de que era americana? - perguntou.
- Era uma senhora da Califórnia. Ouvi o sotaque dela e perguntei-lhe. A minha mãe também.
Jeanne Potter acenou afirmativamente.
- Falámos de estrelas de cinema - disse. - Nunca lá estive, mas sempre pensei que quem vivia na Califórnia via as estrelas de cinema a passear nas ruas. Mas ela disse-me que não, que não era o caso.
- Harrison Ford - disse Mark Potter. - Gostavas de o conhecer, não negues, mãe.
Ela riu um pouco afogueada.
- Ora, ora! - Depois voltou-se para Deborah. - Gosto muito do Harrison. Aquela cicatriz que tem no queixo dá-lhe um ar tão másculo.
- És muito maliciosa - disse-lhe Mark. - O que teria pensado o meu pai?
Cherokee interrompeu-os.
- Como era ela, a senhora americana? - perguntou esperançoso. Lembram-se?
Afinal não haviam visto grande coisa. Ela tinha qualquer coisa na cabeça - Mark pensava que era um lenço, a mãe falou num capuz - que lhe cobria o cabelo e a parte superior da cara. Como não havia muita luz dentro da loja e provavelmente nesse dia estaria a chover... não podiam acrescentar grande coisa. Estava toda de preto, se isso ajudava. E usava calças de cabedal, recordou Jeanne Potter. Recordava-se especialmente das calças, porque seria exactamente aquilo que teria gostado de vestir se existissem quando tinha a idade dessa senhora e se alguma vez tivesse tido corpo para isso, mas infelizmente nunca tivera.
Deborah não olhou para Cherokee, mas também não foi preciso. Dissera-lhe onde ela e Simon tinham encontrado o anel, por isso sabia que ele estava desesperado para obter aquela informação. Tentou não se deixara abater e perguntou aos Potter se haveria outro local na ilha onde se pudesse encontrar um anel assim - outro anel assim, acentuou.
Os dois Potters reflectiram e, por fim, Mark respondeu. Informou-os de que havia apenas um local de onde poderia ter vindo um anel como aquele. Assim que pronunciou o nome, a mãe confirmou-o imediatamente.
Era em Talbot Valley que vivia um verdadeiro coleccionador de artigos do tempo da guerra. Tinha mais objectos do que toda a ilha junta.
Chamava-se Frank Ouseley, acrescentou Jeanne Potter e vivia com o pai num local chamado Moullin dês Niaux.
Não fora fácil para Frank falar com Nobby Debiere sobre o potencial encerramento dos planos da construção do museu. Fizera-o, no entanto, por sentido de obrigação para com o homem a quem não apoiara enquanto jovem. A seguir teria de falar com o pai. Devia-o a Graham Ouseley, porque era uma loucura deixar o pai acreditar que os seus sonhos se poderiam realizar no final do atalho que vinha de St. Saviour Church.
Claro que poderia abordar Ruth a respeito do projecto. Ou falar com Adrian Brouard e as irmãs - se as conseguisse encontrar. E também com Paul Fielder e Cynthia Moullin, O advogado não tinha falado na quantia que esses indivíduos herdariam, pois isso estaria nas mãos de banqueiros, corretores e contabilistas forenses. Mas devia ser uma soma enorme; seria impossível acreditar que Guy tivesse disposto de Lê Reposoir, do seu conteúdo e de todas as suas propriedades sem assegurar o seu próprio futuro com uma enorme conta bancária e um portfólio de investimentos para encher essa conta se necessário fosse. Era demasiado inteligente para tal.
Falar com Ruth seria o método mais eficaz de avançar com o projecto. Era a mais provável candidata, a dona legal de Lê Reposoir - mesmo que se pusesse a questão da manobra para o conseguir - e se fosse esse o caso, *' poderia ser manipulada para se sentir no dever de cumprir as promessas que o irmão fizera às pessoas. Concordaria talvez em construir uma versão mais humilde do Museu da Guerra de Graham Ouseley na propriedade do próprio Lê Reposoir, o que permitiria a venda da terra que haviam adquirido para esse fim, perto de St. Saviour's. com o produto desta, poderiam desbloquear fundos para a construção do edifício. Por outro lado, poderia falar com os herdeiros de Guy e tentar obter deles o dinheiro necessário, convencendo-os a construir aquilo que seria com efeito um memorial ao seu benfeitor.
Frank sabia que o poderia fazer e fá-lo-ia, se fosse outro. Mas havia outras considerações para além da criação de uma estrutura que albergasse mais de meio século de objectos militares. Por muito que essa estrutura pudesse ter esclarecido o povo de Guernsey, por muito que pudesse ter ajudado Nobby Debiere a estabelecer-se como arquitecto na arena pública, a verdade era que o mundo pessoal de Frank seria um lugar muito melhor sem o museu da guerra.
Portanto não falaria com Ruth para que levasse a cabo o nobre trabalho do irmão. Nem insistiria com nenhum dos outros na esperança de lhes extorquir os fundos. No que a ele dizia respeito, o problema terminara. O museu estava tão morto como Guy Brouard.
Frank meteu o seu velho Peugeot no atalho que levava ao Moullirt dês Niaux. Ao percorrer os cerca de cinqüenta metros até sua casa, reparou que a estrada estava cheia de vegetação. As silvas quase cobriam o asfalto. No Verão seguinte estariam carregadas de amoras, mas o caminho para o moinho e para as casas desapareceria se não cortasse os ramos, as trepadeiras, o azevinho e os fetos.
Sabia que agora poderia fazer alguma coisa com os arbustos. Depois de tomar a decisão e desenhado por fim a linha metafórica na areia não existente, conseguira para si próprio um determinado grau de liberdade de que nunca se apercebera que tinha falta. Essa liberdade abria-se ao mundo até para pensar em coisas tão vulgares como cortar arbustos. Como era estranho ser um obcecado. O resto do mundo simplesmente desaparecia quando uma pessoa se submetia ao abraço constritor de uma única fixação.
Passou o portão da propriedade logo a seguir à azenha e seguiu pela gravilha do atalho. Estacionou junto a uma das casas, com o capo do Peugeot a apontar para o ribeiro, que ouvia mas não via, por estar oculto por uma moita de ulmeiros há muito cobertos de hera que lhes caía dos ramos, oferecendo uma cortina que ocultava a estrada principal. Mas, ao mesmo tempo, escondia também do jardim, onde uma pessoa se poderia sentar confortavelmente na Primavera ou no Verão, a agradável vista do riacho borbulhante. Frank percebeu que seria preciso arranjar mais as coisas em redor das casas. Outra indicação do muito que desprezara tudo.
Quando entrou em casa, encontrou o pai pendendo na cadeira com as páginas do Guernsey Press espalhadas em seu redor como as cartas de um baralho gigante. Ao ver o jornal, Frank apercebeu-se de que não tinha dito à senhora Petit para o esconder do pai, por isso sentiu-se pouco à vontade quando juntou as páginas e procurou a notícia da morte de Guy. Respirou com mais facilidade ao ver que não havia nenhuma. No dia seguinte seria diferente com a cobertura do funeral. Naquele dia estava tudo bem.
Foi à cozinha e aí ordenou as páginas do jornal e começou a preparar o chá. Na sua última visita a Graham, a senhora Petit trouxera um empadão a que acrescentara um recado: Frango & Alho-Francês, bom proveito! Dizia um cartão metido nos dentes de um garfo em miniatura, metido na crosta.
Serviria muito bem, pensou Frank. Encheu a cafeteira e foi buscar a lata do chá. Deitou English Breakfast no bule.
Estava a pôr os pratos e os talheres sobre os individuais quando ouviu o pai mexer-se na sala. Frank ouviu-o primeiro resmungar e depois soltar uma exclamação espantada por se ter apercebido de que adormecera sem querer.
- Que horas são? - perguntou Graham Ouseley. - És tu, Frank? Frank foi até à porta. Viu que o pai tinha o queixo molhado de
saliva e restos de expectoração.
- Estou a tratar do chá - disse.
- Há quanto tempo estás em casa?
- Há uns minutos. O pai estava a dormir e eu não quis acordá-lo. Como se deu com a senhora Petit?
- Ajudou-me a ir à casa de banho. Não gosto que as mulheres vão comigo à casa de banho. - Graham puxava o cobertor que lhe cobria os joelhos. - Onde estiveste este tempo todo? Que horas são?
Frank olhou para o pequeno despertador que estava em cima do fogão. Viu surpreendido que passava das quatro.
- Deixe-me telefonar à senhora Petit para que ela saiba que não precisa de cá voltar - disse. Depois ia responder à pergunta do pai, mas encontrou-o de novo a cabecear. O cobertor escorregara e Frank apanhou-o para cobrir as pernas magras de Graham e arranjou as costas da cadeira para que a cabeça do pai não lhe caísse para o peito. com um lenço limpou-lhe a saliva do queixo. A velhice era uma tristeza, pensou. Assim que se ultrapassavam os setenta anos chegava-se à encosta escorregadia para a incapacidade.
Tratou do chá: uma espécie de jantar como era costume na província. Aqueceu o empadão e partiu-o às fatias. Preparou uma salada e pão com manteiga. Quando a comida e o chá ficaram prontos, foi buscar Graham para o trazer para a cozinha. Poderia tê-lo servido num tabuleiro, mas queria-o na sua frente para a conversa que precisava de ter: tinha de ser uma conversa de homem para homem e não entre pai e filho.
Graham comeu com gosto o empadão de frango e alho-francês, e como apreciou tanto os dotes de cozinheira da senhora Petit esqueceu a ofensa de ter sido levado por ela à casa de banho. Serviu-se duas vezes, uma rara ocorrência num homem que a maioria das vezes consumia menos comida que uma jovem adolescente.
Frank decidiu deixá-lo gozar a refeição antes de lhe dar a notícia. Assim, comeram praticamente em silêncio, enquanto Frank meditava na melhor abordagem para a conversa e Graham comentava esporadicamente sobre a comida, principalmente sobre o molho que era o melhor que provara, garantiu, depois de a mãe de Frank ter morrido. Era sempre assim que se referia ao afogamento de Grace Ouseley. A tragédia no reservatório - Graham e Grace lutando dentro de água e apenas um deles tendo saído com vida - perdera-se no tempo.
Da mulher e da comida, os pensamentos de Graham passaram para o tempo da guerra, especificamente para as encomendas da Cruz Vermelha que os habitantes da ilha tinham por fim recebido quando a falta de víveres em Guernsey os tinha reduzido a café de nabo e xarope de beterraba. Graham informou o filho que, do Canadá, chegara uma enorme abundância: bolachas de chocolate, filho, uma delícia com chá de verdade.
Sardinhas e leite em pó, latas de salmão, ameixas, presunto e carne em conserva. E foi um dia maravilhoso quando as encomendas da Cruz Vermelha provaram às pessoas de Guemsey que, embora a ilha fosse pequena, não fora esquecida pelo resto do mundo.
- E o bem que nos fez - declarou Graham. - Os boches queriam que pensássemos que aquele maldito Führer ia caminhar sobre as águas e distribuir pães uma vez que o mundo fosse seu, mas teríamos morrido, Frank, antes que ele nos tivesse mandado uma única salsicha.
Havia um pingo de molho no queixo de Graham e Frank inclinou-se para o limpar.
- Foram tempos difíceis - disse.
- Mas as pessoas não sabem isso, pois não? Claro que pensam nos judeus e nos ciganos, é verdade. Pensam em países como a Holanda e a França. E no Blitz. Raios, se pensam no Blitz que os nobres ingleses... esses mesmos ingleses cujo maldito rei nos abandonou aos boches dizendo que seríamos capazes de tratar do inimigo... - Graham tinha um bocado de empadão espetado no garfo e agitava-o no ar, suspendendo-o como um exemplo dos bombardeiros alemães prestes a largar a carga.
Frank inclinou-se e conduziu delicadamente o garfo à boca do pai. Graham aceitou o frango mastigando e falando ao mesmo tempo.
- Esses ingleses ainda vivem esse período, Frank. Londres é bombardeada e o mundo nunca deverá esquecê-lo nem por quinze segundos aquilo que aconteceu, ao passo que nós... Merda. Nós, pelas recordações que deixámos ao mundo, parece que tivemos apenas um pequeno incômodo. Não importa o bombardeamento do porto, com vinte e nove mortos, Frank, e sem uma única arma com que nos defendêssemos... e aquelas pobres judias mandadas para os campos e as execuções daqueles a quem quiseram chamar espiões. O mundo pensa que aqui não aconteceu nada. Mas em breve vamos remediar tudo isso, não é verdade, filho?
Chegara por fim o momento, pensou Frank. Não teria de inventar um pretexto para a conversa que precisava ter com o pai. Bastava-lhe aproveitar a oportunidade, por isso decidiu-se antes que se arrependesse.
- Pai, aconteceu uma coisa. Não queria dizer-lhe, mas tem de ser. Sei aquilo que o museu representa para si e não tinha coragem para lhe estragar esse sonho.
Graham inclinou a cabeça de lado e voltou para o filho o ouvido com que sempre afirmara ouvir melhor.
- O que disseste?
Frank tinha a certeza de que o pai ouvia perfeitamente, a menos que lhe dissessem alguma coisa que preferisse não ouvir. Por isso continuou. Disse ao pai que Guy Brouard tinha falecido uma semana atrás. A morte fora súbita e inesperada e era evidente que ele estava são como um pêro e portanto nunca imaginara o que a sua morte causaria aos planos para o museu da guerra.
- Como assim? - Graham abanou a cabeça. - Disseste que o Guy morreu? Não foi isso que disseste, pois não, filho?
Infelizmente, disse Frank, era exactamente o que tinha dito. E o problema era que, não se sabia porquê, Guy Brouard não tratara das eventualidades como poderiam esperar que tivesse feito. O seu testamento não deixava um tostão para o museu da guerra, por isso o plano para o construírem teria de ficar guardado.
- Como? - perguntou Graham enquanto engolia a comida e pegava com mão trêmula na chávena de chá com leite. - Eles puseram cá minas. Schrapnellemines trinta e cinco. Cargas de demolição. Minas Riegel. Puseram marcações, percebes, pequenas bandeiras amarelas que nos proibiam de pôr o pé naquilo que era nosso. O mundo tem de saber disso, rapaz. Tem de saber que comíamos musgo em vez de geleia.
- Bem sei, pai. É importante que ninguém esqueça. - Frank já não tinha vontade de comer o empadão. Empurrou o prato para o meio da mesa e mudou a posição da cadeira para falar directamente ao ouvido do pai. As suas acções significavam que não havia qualquer erro naquilo que estava a dizer-lhe. Escute, pai, as coisas mudaram definitivamente. - Pai, não vai haver museu. Não temos dinheiro. Dependíamos do Guy para financiar a construção do edifício e ele não deixou fundos para isso. Sei que me pode ouvir, pai, e lamento ter de lhe dizer que tem de acreditar em mim. Nunca lho teria dito... nem sequer tencionava dizer-lhe que o Guy tinha morrido... mas assim que ouvi a leitura do testamento, achei que não tinha outra alternativa. Desculpe, pai, lamento mesmo muito. - E disse a si próprio que o lamentava, mas só até certo ponto.
Graham espalhou o chá quente no peito, quando tentou levar a chávena à boca. Frank estendeu o braço para lhe firmar o movimento, mas Graham afastou-se do filho e entornou ainda mais. Tinha vestido um colete grosso sobre a camisa de flanela, de modo que o líquido não o queimou. E pareceu-lhe mais importante evitar o contacto com o filho do que molhar a roupa.
- Frankie, tu e eu tínhamos um plano - disse com os olhos sem brilho. Frank nunca pensou que se sentiria tão infeliz ao ver cair as defesas
do pai. Teve a impressão que diante dele estava um Golias de joelhos.
- Pai, eu não o magoaria por nada deste mundo - disse. - Se eu soubesse de uma maneira de construir o seu museu sem a ajuda do Guy, fá-lo-ia. Mas não posso. Os custos são muito elevados. Não há mais remédio do que desistir da idéia.
- As pessoas precisam de saber - protestou Graham Ouseley em voz fraca e sem que já lhe interessasse a comida ou o chá. - Ninguém deve esquecer.
- Concordo. - Frank tentava imaginar uma maneira de lhe amortecer o choque. - Talvez que daqui a algum tempo consigamos maneira de que isso aconteça.
De ombros descaídos, Graham olhou em redor da cozinha como um sonâmbulo que tivesse acabado de acordar e se sentisse confuso. Deixou cair as mãos no colo e começou a amarfanhar convulsivamente o guardanapo. A sua boca murmurava palavras que não dizia. Olhava para os objectos que lhe eram familiares e parecia agarrar-se a eles em busca de conforto. Afastou-se da mesa e Frank fez o mesmo, pensando que o pai quisesse ir à casa de banho, para a cama ou sentar-se na sua cadeira da sala. Mas ao segurar-lhe o cotovelo, o velho resistiu. Afinal o que queria era ir até à bancada onde Frank colocara o jornal já bem dobrado com o escudo do título entre a palavra Guernsey e a palavra Press.
Graham arrancou o jornal e agarrou-o de encontro ao peito.
- Então que assim seja, Frank, o modo é diferente, mas o resultado é igual. É isso que conta.
Frank tentou perceber a ligação que o pai fazia entre a dissolução dos seus planos e o jornal da ilha.
- Suponho que o jornal conte a história - disse com ar de dúvida. Pode ser que interesse algum expatriado fiscal e ele nos faça um donativo. Mas quanto a arranjarmos o dinheiro suficiente só com um artigo de jornal... acho que não podemos contar com isso, pai. Mesmo que pudéssemos, esse tipo de coisa leva anos. Não acrescentou que aos noventa e dois anos o pai já não tinha esse tempo.
- Telefono-lhes eu mesmo - declarou Graham. - Hão-de vir. Hão-de ficar interessados, verás. Assim que souberem virão a correr. - Deu mesmo três passos cambaleantes em direcção ao telefone e ergueu o auscultador como se tencionasse fazer a chamada imediatamente.
- Não creio que para o jornal a história tenha a mesma urgência disse Frank. - Provavelmente escrevem-na. com certeza que tem interesse humano. Mas é melhor que o pai não crie muitas esperanças...
- Já é tempo - insistiu Graham como se Frank nada tivesse dito. Prometi a mim próprio que antes de morrer o faria. Há quem mantenha a fé e quem não a mantenha. E já é tempo que o faça, antes de morrer, Frank.
Procurou por entre algumas revistas que estavam na bancada juntamente com algum correio chegado nos últimos dias.
- Onde está a lista telefônica, Frank? Qual é o número? Vamos telefonar-lhes.
Mas Frank estava centrado entre aqueles que mantêm a fé e aqueles que a perdem e naquilo que o pai realmente queria. Havia milhares de maneiras de fazer ambas as coisas nesta vida - de manter ou perder a fé -, mas durante a guerra, quando a terra está ocupada, nenhuma delas vale.
- Pai, acho que não... - disse cautelosamente. Meu Deus, como evitar que o pai seguisse um caminho tão perigoso? - Escute. Não é maneira de fazer as coisas. E é muito cedo...
- O tempo esgota-se - disse Graham. - Está quase no fim. Jurei a mim próprio. Jurei nas campas deles. Morreram pelo G. I. F. T. e ninguém pagou por isso. Mas agora vão pagar. Tem de ser assim. - Retirou a lista da gaveta dos panos da loiça e dos individuais e embora não fosse um livro grosso, ergueu-o com um gemido até à bancada. Começou a folheá-la com a respiração acelerada, como a de um corredor perto do fim da corrida.
- Pai, temos de reunir as provas - disse Frank numa última tentativa de o impedir.
- Temos a maldita prova. Está tudo aqui dentro. - Apontou para a própria cabeça com o dedo curvo, mal sarado do golpe recebido na guerra, durante a sua fuga da Gestapo quando esta polícia tinha vindo prender os homens do G. I. F. T. traídos por alguém da ilha em quem confiavam. Dois dos homens responsáveis pelo jornal tinham morrido na prisão. Outro morrera ao tentar fugir. Apenas Graham sobrevivera, mas não completamente incólume. E ficara com a recordação de três vidas perdidas para a causa da liberdade às mãos de um delator nunca identificado. O acordo tácito entre os políticos em Inglaterra e os políticos da ilha havia proibido as investigações e os castigos depois do fim da guerra. O que passou, passou e como as provas não eram suficientes "para que fossem instituídos processos criminais" aqueles cujos interesses tinham provocado a morte dos camaradas viviam ainda sem que o passado os tocasse, num futuro que fora negado a homens muito melhores. Parte do projecto do museu equilibraria os pratos da balança. Sem a secção de colaboração do museu, as coisas ficariam eternamente como estavam: a traição manter-se-ia fechada nos espíritos dos que a tinham cometido e dos que por ela tinham sido afectados. Todas as outras pessoas teriam permissão de continuar a viver sem o conhecimento de quem tinha pago o preço da liberdade de que agora gozavam e de quem fora o responsável por esse destino.
- Mas, pai - disse Frank, embora soubesse que estava a falar em vão -, deve saber que vão pedir-lhe mais provas para além da sua palavra.
- Não, arranja-te para as retirares dessa confusão - disse Graham apontando com um dedo para as casas vizinhas. - Estarão prontas quando cá chegarem. Despacha-te, rapaz.
- Mas, pai...
- Não! - Graham bateu com o frágil punho sobre a lista e agitou o auscultador do telefone na direcção do filho. - Trata disso e já. Não quero asneiras. vou dar-lhes os nomes.
Capítulo 14
DEBORAH E CHEROKEE POUCO FALARAM NO SEU REGRESSO AOS APARTAmentos Queen Margaret. Tinha-se levantado vento e caía uma chuva leve que servia de desculpa para aquele silêncio, enquanto Deborah se abrigava debaixo do guarda-chuva e Cherokee curvara os ombros e levantava a gola do casaco. Voltaram a passar por Mill Street e atravessaram a pequena praça. A zona estava completamente deserta, excepto uma carrinha amarela estacionada no meio de Market Street, para a qual estava a ser transportado o balcão de um dos talhos vazios. Era uma fraca indicação da inactividade do mercado e, como se quisesse afirmar o facto, um dos carregadores deixou cair a sua ponta do balcão. O vidro partiu-se, o metal amolgou-se. O companheiro insultou-o por ser um desajeitado.
- Vai custar-nos caro! - gritou.
Deborah e Cherokee já não ouviram a resposta do outro homem pois tinham voltado a esquina e começado a subir Constitucional Steps. Mas a idéia mantinha-se entre eles: aquilo que tinham feito ia custar-lhes caro.
Cherokee foi o primeiro a quebrar o silêncio. A meio da colina, onde os degraus descreviam uma curva, deteve-se e pronunciou o nome de Deborah. Ela parou também e olhou para ele. Viu que a chuva lhe cobrira o cabelo encaracolado com uma rede de pequenas gotas que reflectiam a luz e que as pestanas molhadas lhe davam um ar infantil. Tremia de frio. Ali estavam protegidos do vento, mas mesmo se não fosse esse o caso, ele usava um casaco grosso, por isso Deborah sabia que a sua reacção não era à temperatura.
As palavras que pronunciou afirmaram-no.
- Pode não ser nada.
Ela não fingiu precisar de esclarecimento.
- Vamos ter de lhe perguntar - disse ela.
- Disseram que poderia haver outros na ilha. E o tal fulano de quem falaram... o de Talbot Valey... tem uma colecção de artigos do tempo da guerra que nem acreditas. Eu próprio já a vi.
- Quando?
- Num dos dias... Ele foi lá almoçar e estava a falar do assunto com o Guy. Ofereceu-se para me mostrar. E, que diabo, eu fui lá. Fomos os dois.
- Quem mais?
- O miúdo que era amigo do Guy. O Paul Fielder.
- E nessa altura viste algum anel igual?
- Não. Mas isso não significa que não existisse. O fulano tinha coisas por todo o lado. Caixas e sacos. Armários de arquivo. Prateleiras. Está tudo dentro de duas casas, completamente desorganizado. Se ele tivesse um anel e esse anel acabasse por desaparecer por qualquer razão... Que diabo, ele nem daria por isso. Não pode ter tudo catalogado.
- Estás a dizer que o Paul Fielder pode ter roubado um anel enquanto lá estava?
- Não estou a dizer nada. Só que tem de haver outro anel, porque é impossível que a China... - Meteu desajeitadamente as mãos nos bolsos e desviou os olhos de Deborah enquanto subia a colina em direcção a Clifton Street, aos apartamentos Queen Margaret e à irmã que o esperava no apartamento B. - A China não poderia fazer mal a ninguém. Tu sabes. Tu sabes. Este anel... é de qualquer outra pessoa.
Falava em tom decidido, mas Deborah queria evitar perguntar-lhe porque estava tão decidido. Sabia que não havia maneira de evitar o confronto com China. Não se tratava de acreditarem ou não, mas o assunto do anel tinha de ser tratado.
- Vamos para o apartamento - disse ela. - Acho que vai desabar uma carga de água.
Encontraram China a assistir a um combate de boxe na televisão. Um dos pugilistas acabara de receber um soco particularmente violento e era óbvio que o combate ia terminar. Mas os gritos mostravam que os espectadores não estavam dispostos a permiti-lo. China parecia alheia a tudo isso. Tinha o rosto vazio de qualquer expressão.
Cherokee dirigiu-se à televisão e mudou de canal. Estavam a transmitir uma corrida de bicicletas numa terra soalheira que se parecia com a Grécia mas que poderia ficar em qualquer país onde não fosse Inverno. Tirou o som e deixou a imagem.
- Estás bem? - perguntou à irmã. - Precisas de alguma coisa? - experimentou tocar-lhe no ombro.
Ela mexeu-se.
- Estou bem - disse ao irmão, esboçando um meio sorriso. - Estava só a pensar.
Ele devolveu-lhe o sorriso.
- Tens de evitar fazê-lo. Olha no que eu me tornei. Estou sempre a pensar. Se não o fizesse não estaríamos metidos neste sarilho.
Ela encolheu os ombros.
- Pois, paciência.
- Comeste alguma coisa?
- Cherokee...
- Pronto, está bem. Esquece que perguntei.
China pareceu aperceber-se de que Deborah também lá estava.
- Pensei que tinhas ido ter com o Simon para lhe entregares a lista do que eu fiz na ilha.
Deborah resolveu aproveitar aquele modo simples de abordar o problema do anel.
- Mas não está completa. A lista não tem lá tudo.
- Que queres dizer com isso?
Deborah pôs o chapéu-de-chuva no bengaleiro perto da porta, aproximou-se do sofá e sentou-se ao lado da amiga. Cherokee puxou uma cadeira e juntou-se a elas.
- Não falaste no Potter & Potter - comentou Deborah. - Em Mill Street. Foste lá e compraste um anel ao Potter filho. Esqueceste-te?
China lançou um olhar ao irmão como que a pedir-lhe mais explicações, mas Cherokee nada disse. Voltou-se para Deborah.
- Não pus na lista nenhuma das lojas em que estive. Não pensei... Porque o faria? Estive várias vezes no Boots e nalgumas sapatarias. comprei o jornal uma ou duas vezes e também pastilhas de mentol. A pilha da minha máquina fotográfica gastou-se e substituía-a por outra que comprei nas arcadas... em High Street. Mas não escrevi nada disso, e esqueci-me provavelmente de outras lojas. Porquê? - Voltou-se para o irmão. - Que se passa?
Deborah respondeu mostrando-lhe o anel. Desdobrou o lenço e estendeu-o para que China o pudesse ver no seu ninho de tecido.
- Isto estava na praia - disse ela. - Na baía, onde Guy Brouard morreu.
China não tentou tocar no anel, como se soubesse o que significava Deborah tê-lo embrulhado num lenço e ter sido encontrado nas proximidades do local do crime. Mesmo assim, olhou para ele. Olhou-o durante muito tempo. Estava tão pálida que Deborah não foi capaz de dizer se as faces dela tinham ou não perdido ainda mais a cor. Mas mordeu os lábios por dentro e, quando olhou para Deborah os seus olhos estavam inegavelmente assustados.
- O que me estás a perguntar? - disse ela. - Se eu o matei? Queres perguntar-mo directamente?
- O homem da loja... o senhor Potter... disse que uma americana tinha comprado lá um anel como este. Uma americana da Califórnia. Uma mulher de calças de cabedal e talvez com uma capa vestida, porque tinha o capuz puxado para a cabeça. Ela e a mãe do homem... a senhora Potter... falaram de estrelas de cinema. Lembravam-se que ela... essa americana... lhes tinha dito que geralmente não se vêem estrelas de cinema nas...
- Muito bem - exclamou China. - Já percebi tudo. Comprei o anel. Um anel. Esse anel. Não sei. Comprei-lhes um anel, pronto.
- Como este?
- Obviamente - disse China em tom ríspido.
- Olha, China, temos de descobrir...
- Estou a cooperar! - gritou China ao irmão. - Pronto, estou a cooperar como uma boa menina. Fui à cidade, vi o anel, pareceu-me perfeito e comprei-o.
- Perfeito? - perguntou Deborah. - Perfeito para quê?
- Para o Matt. E então? Comprei-o para o Matt. - China parecia embaraçada por ter de admitir que comprara um presente para o homem com quem declarara ter acabado tudo. Como se se apercebesse da idéia que dava aos outros, continuou: - É horrível e foi justamente isso que me agradou. Era como se lhe mandasse uma boneca de vudu. Caveira e tíbias cruzadas. Veneno. Morte. Pareceu-me uma boa maneira de lhe dizer como me sentia.
Ao ouvir aquilo, Cherokee levantou-se e dirigiu-se para junto da televisão. No ecrã, os ciclistas percorriam uma estrada de montanha junto ao mar onde o sol se reflectia. Apagou o aparelho e voltou a sentar-se. Não olhou para a irmã. Não olhou para Deborah.
Como se as acções dele comentassem aquilo que estava implícito no seu silêncio, China resolveu dizer:
- Pronto. Foi uma estupidez. Faz com que as coisas continuem entre nós e isso não devia acontecer. Exige uma resposta qualquer da parte dele. Bem sei. Sei que é estúpido, mas queria fazê-lo. É assim mesmo. Foi o que senti quando o vi. Comprei-o e pronto.
- Que fizeste com ele no dia em que o compraste? - perguntou Deborah.
- Como assim?
- Puseram-no num saco? Puseste o saco dentro de outro? Meteste-o no bolso? Que aconteceu a seguir?
China reflectiu sobre aquelas perguntas; Cherokee ergueu os olhos e deixou de examinar os sapatos. Pareceu aperceber-se onde Deborah queria chegar.
- Tenta lembrar-te, Chine.
- Não sei. Provavelmente meti-o dentro do meu saco - disse ela. É o que geralmente faço quando compro uma coisa pequena.
- E depois? Quando voltaste para Lê Reposoir? O que fizeste com ele?
- Provavelmente... sei lá. Se estava no meu saco, deixei-o lá e esqueci-me dele. De contrário tê-lo-ia metido na mala. Ou na cômoda até fazermos as malas para nos irmos embora.
- Onde qualquer pessoa o poderia ver - murmurou Deborah.
- Se se trata do mesmo anel - disse Cherokee. Exactamente, pensou Deborah. Porque se o anel que tinha fosse um
duplicado daquele que China comprara aos Potter, tinham uma espantosa coincidência entre mãos. Porém, por muito pouco provável que fosse essa coincidência, a dúvida teria de ser esclarecida antes que prosseguissem.
- Guardaste o anel quando te foste embora? - perguntou. - Está entre as tuas coisas? Talvez bem guardado e tu esqueceste-te onde.
China sorriu como se estivesse consciente de uma ironia que tinha de revelar.
- Como queres que saiba, Debs? Agora a polícia tem todos os meus haveres. Pelo menos tudo o que trouxe comigo. Se guardei o anel ou o meti na mala quando cheguei a Lê Reposoir, deve estar com o resto das minhas coisas.
- Então teremos de verificar isso - disse Deborah.
Cherokee acenou com a cabeça, olhando para o anel que estava na palma da mão de Deborah.
- O que vai acontecer a esse?
- Vai ser entregue à polícia.
- E o que vão fazer com ele?
- Suponho que tentem tirar-lhe as restantes impressões digitais. Podem conseguir uma parcial.
- E o que acontecerá se a encontrarem? Isto é, se a impressão digital for da Chine... se o anel for o mesmo? Não perceberão que foi lá posto? Isto é, o anel.
- Podem suspeitar - disse Deborah. Não acrescentou que também sabia qual seria essa a situação. O interesse da polícia era sempre atribuir culpas e fechar o caso. Entregavam o resto noutras mãos. Se China não tivesse na sua posse um anel idêntico àquele e se as suas impressões digitais se encontrassem naquele que Deborah tinha encontrado na praia, a polícia nada mais teria a fazer do que documentar esses dois factos e passá-los à acusação. O advogado de China trataria então de conseguir outra interpretação para o anel durante o seu julgamento por assassínio.
Deborah pensou que China e Cherokee certamente o sabiam. Não eram criancinhas inocentes. Os problemas que o pai de China tivera com a justiça da Califórnia deviam ter-lhes ensinado o que se passava aquando da ocorrência de um crime.
- Debs - disse Cherokee num tom pensativa e alongando-lhe o diminutivo, transformando-o num apelo. - Não haverá maneira... - Olhou para a irmã como que a calcular qual seria a reacção dela ao que ainda não tinha dito. - Isto é difícil de perguntar, mas não haverá maneira de se perder o anel?
- Perder...
- Cherokee, nem penses - disse China.
- Porque não? Debs, se o anel for o que a China comprou... e não temos a certeza que seja, pois não?... Isto é, por que razão tem a polícia de saber da existência dele? Não podemos deixá-lo cair numa sarjeta? Parecia compreender a magnitude do que estava a pedir porque disse apressadamente. - Olha. A polícia já pensa que foi ela. As impressões digitais serão usadas para a incriminar ainda mais. Mas se, por exemplo, o perderes... se te cair do bolso quando fores para o hotel? - Olhou para ela cheio de esperanças, com uma mão estendida, como se desejasse que ela depositasse aí o anel.
Deborah sentiu-se como que hipnotizada pela franqueza do olhar dele. Hipnotizada pela lembrança daquilo que vivera com China Ri ver.
- Por vezes - disse Cherokee em voz baixa -, o bem e o mal misturam-se. O que parece certo acaba por ser errado e o que parece errado...
- Esquece - interrompeu China. - Esquece, Cherokee.
- Mas não teria grande importância.
- Esquece, já te disse. - China estendeu a mão para a de Deborah e fechou-lhe os dedos em redor do lenço. - Faz o que tens a fazer, Deborah.
- Voltou-se para o irmão. - Ela não é como tu. Para ela não é assim tão fácil.
- Estão a fazer jogo sujo. Temos de fazer o mesmo.
- Não - disse China. - Vieste ajudar-me - disse a Deborah. - Estou-te muito grata por isso. Faz o que tens a fazer.
Deborah acenou com a cabeça, mas sentiu dificuldade em dizer:
- Lamento muito.
Não pôde escapar à sensação de os ter desiludido.
St. James nunca pensara ser o gênero de homem que se deixasse vencer pela agitação. Desde o dia em que acordara numa cama de hospital - sem se recordar de nada senão de um último shot de tequilla que não deveria ter bebido - e olhara para o rosto da mãe onde vira as notícias que ele próprio confirmaria uma hora depois com um neurologista, governara-se a si e às suas reacções com uma disciplina digna de um militar. Considerava-se um sobrevivente nato: o pior acontecera e ele não se considerara vítima da desgraça. Ficara deficiente, coxo e fora abandonado pela mulher que amava para afinal vir ao de cima intacto. Se consegui superar isso, consigo superar tudo.
Portanto, não se sentia preparado para a inquietação que começou a sentir assim que soube que a mulher não tinha entregue o anel ao inspector Lê Gallez. E ficou arrasado pelo modo como essa inquietação o atingia enquanto os minutos passavam sem que Deborah regressasse ao hotel.
A princípio andou de um lado para o outro no quarto e na pequena varanda que dava para a rua. Depois sentou-se numa cadeira durante cinco minutos para reflectír sobre o significado das acções de Deborah, o que apenas aumentou a sua ansiedade. Acabou por pegar no casaco e sair imediatamente do hotel. Decidiu ir procurá-la. Atravessou a rua sem uma idéia nítida da direcção que haveria de tomar, sentindo-se grato porque a chuva cessara e assim as coisas seriam mais fáceis. Resolveu descer a colina, contornando um jardim em forma de poço que se inseria na paisagem em frente ao hotel. No extremo oposto encontrava-se o memorial da guerra da ilha e St. James estava quase a chegar junto dele quando viu a mulher dobrar a esquina da digna fachada cinzenta da Royal Court House com a Rue du Manoir.
Deborah acenou-lhe com a mão. Quando se aproximou dela, ele fez todos os possíveis para se manter calmo.
- Já voltaste - disse ela indo ter com ele com um sorriso.
- É evidente - replicou ele.
O sorriso de Deborah desapareceu ao ouvir o tom de voz do marido. Conhecia-o quase desde que nascera. Ele julgava conhecê-la mas descobria agora que, entre o que ele pensava e o que na realidade se passava, começava a existir um abismo.
- Que se passa? - perguntou ela. - O que foi, Simon?
Ele não pôde evitar pegar com força no braço da mulher. Conduziu-a até ao jardim e obrigou-a a descer os degraus.
- Que fizeste com o anel? - perguntou.
- O que fiz? Nada. Tenho-o aqui...
- Ias levá-lo imediatamente ao inspector Lê Gallez.
- É isso que vou fazer. Ia lá agora, Simon. Mas que diabo...
- Agora? Agora é que o ias levar? Onde estiveste entretanto? Há horas que o encontrámos.
- Tu não disseste... Simon, porque estás a agir assim? Pára com isso. Deixa-me, estás a magoar-me. - Soltou-se e ficou diante dele com as faces afogueadas. Havia um atalho que dava a volta ao jardim e ela meteu por aí, embora apenas pudesse limitar-se a seguir ao longo do muro. A água da chuva formara poças que reflectiam um céu cada vez mais negro. Deborah caminhou sem hesitar, sem se preocupar por estar a molhar as pernas.
St. James seguiu-a. Irritava-o ver que ela se afastava dele daquela maneira. Parecia uma Deborah completamente diferente e ele não estava disposto a suportá-lo. Naturalmente que se se abrisse um abismo entre eles, ela venceria. Se ele tivesse de a perseguir, ela também venceria. Apenas lhe poderia ganhar numa contenda verbal ou intelectual. Era essa a maldição da sua deficiência, que o deixava mais fraco e mais lento do que a mulher. Também aquilo o irritava pois imaginava o efeito que teria diante de um observador que se encontrasse na rua sobranceira ao parque: ela afastava-se dele a passo seguro, transformando-o num pedinte patético.
Deborah chegou ao extremo mais profundo do pequeno parque. Parou à esquina onde uma sarça-ardente cheia de bagas vermelhas inclinava para diante os seus ramos pesados de modo a tocar nas costas do banco de madeira. Deborah não se sentou. Deteve-se junto ao braço do banco, arrancou uma mão-cheia de bagas do arbusto e começou a atirá-las ao acaso.
Aquela infantilidade ainda o irritou mais. Sentiu-se levado de volta à época em que ele tinha vinte e três anos e ela doze e que tivera de se confrontar com um ataque de histeria pré-adolescente sobre um corte de cabelos. Ele arrancara-lhe a tesoura antes que ela fizesse o que lhe apetecia que era cortar mais o cabelo no seu desejo de se tornar mais feia e de se castigar pensando que um corte de cabelo poderia fazer diferença em relação às borbulhas que lhe tinham aparecido no queixo de um dia para o outro, marcando-a para sempre. "Mas que feitio tem a nossa Deborah", dissera o pai. "Precisa da mão de uma mulher." Coisa que ele nunca lhe dera.
Como seria conveniente culpar de tudo aquilo Joseph Cotter, dizendo que se ele e a mulher estavam agora assim era porque o sogro não tinha voltado a casar. Claro que tornaria as coisas muito mais fáceis. Não teria de procurar mais explicações para o facto de Deborah agir de um modo tão inconveniente.
Estendeu-lhe a mão e estupidamente disse a primeira coisa que lhe passou pela cabeça.
- Nunca mais fujas assim de mim, Deborah. Ela voltou-se com a mão cheia de bagas.
- Não te atrevas... Nunca mais me fales assim!
Ele tentou acalmar-se. Sabia que se seguiria uma enorme discussão a menos que um deles fizesse alguma coisa para a evitar. Também sabia que seria pouco provável que a iniciativa partisse de Deborah. Assim, disse-lhe num tom o mais calmo possível:
- Quero uma explicação.
- Ah, queres? Então tenho muita pena, mas não me apetece dar-tá.
- Atirou as bagas para o chão.
Tal como se lançasse uma luva para provocar um duelo. Se ele a levantasse sabia que desencadearia uma guerra entre ambos. Estava zangado mas não queria um combate. Ainda possuía sanidade suficiente para ver que um combate seria inútil.
- O anel é uma prova - disse ele. - As provas têm de ir para a polícia. Se não chegarem lá directamente...
- Como se todas as provas fossem directamente para lá - retorquiu ela. - Sabes que não vão. Sabes que muitas vezes a polícia recupera objectos que ninguém sabe que são provas. Passam por meia-dúzia de esquadras antes de chegarem às mãos devidas. Sabes muito bem, Simon.
- Isso não dá o direito a ninguém de atrasar o processo - retorquiu ele. - Onde levaste o anel?
- Estás a interrogar-me? Fazes idéia do tom em que me estás a falar? Isso não te preocupa?
- O que neste momento me preocupa é o facto de uma prova que eu tinha partido do princípio que estivesse nas mãos do Lê Gallez, afinal não estava quando eu lhe falei nela. Percebes o que isso significa?
- Ah, percebo. - Deborah ergueu o queixo. Falava no tom triunfante das mulheres que sentem que um homem começou a pisar o campo de minas que elas lhe prepararam. - Trata-se de ti. Fizeste má figura.
- Obstrução a uma investigação policial não é fazer má figura disse ele, tenso. - É um crime.
- Eu não obstruí nada. Tenha o maldito anel. - Meteu a mão no saco e tirou de lá o anel embrulhado no lenço. Agarrou-lhe no braço com tanta força como ele tinha agarrado o dela e meteu-lhe o anel na mão. - Pronto. Estás contente? Leva-o ao teu amigo Lê Gallez. Só Deus sabe o que ele pode pensar de ti se não lho levares a correr, Simon.
- Porque estás a agir assim?
- Eu? E tu?
- Porque te disse o que havias de fazer. Porque temos uma prova connosco. Porque sabemos que se trata de uma prova. Porque o sabíamos na altura e...
- Não - disse ela. - Não é verdade. Não sabíamos. Suspeitávamos. E baseando-nos nessa suspeita pediste-me para levar o anel. Mas se era tão urgente que a polícia o recebesse, se o anel era assim tão importante, podias ter sido tu a trazê-lo para a cidade em vez de ires passear para onde foste, o que pelos vistos foi mais importante do que entregar o anel.
St. James ouviu tudo aquilo sentindo-se cada vez mais irritado.
- Sabes muito bem que fui falar com a Ruth Brouard. Tendo em conta que ela é a irmã da vítima e que me pediu que fosse ter com ela, como tu sabes, diria que eu tinha uma coisa muito importante para fazer em Lê Reposoir.
- Claro. Sem dúvida. Enquanto eu tinha de me ocupar de uma futilidade.
- Aquilo que tu deverias ter feito...
- Não continues com isso - disse quase a gritar, mas pareceu perceber o seu tom de voz pois baixou-o embora continuasse zangada. Aquilo que eu estive a fazer - pronunciou a palavra com um tom de desprezo -, foi isto. A China escreveu estes apontamentos. Pensou que pudesses achá-los úteis. - Procurou dentro do saco pela segunda vez e retirou de lá o bloco dobrado ao meio. - Também descobri coisas acerca do anel, Simon - disse-lhe, fazendo uma reverência estudada. - E vou dizer-te de que se trata se pensas que a informação pode ser importante.
St. James pegou no bloco. Deu-lhe uma vista de olhos para ver as datas, as horas, os locais e as descrições, tudo aquilo escrito no que ele concluiu ser a caligrafia de China.
- Ela quis que eu te entregasse isso - disse Deborah. - Posso até dizer-te que me pediu que o fizesse. E foi ela que comprou o anel.
Ele ergueu os olhos do documento.
- Como?
- Foi o que ouviste. O anel ou um igual a esse... China comprou-o numa loja em Mill Street. Cherokee e eu localizámo-la. Depois perguntamos-lhe. Ela admitiu tê-lo comprado para o mandar ao namorado. Ao ex. O Matt.
Deborah contou-lhe o resto. Forneceu-lhe formalmente as informações: as lojas de antigüidades, os Potter, o que China tinha feito com o anel, a possibilidade de outro ter vindo de Talbot Valley.
- O Cherokee diz que viu a colecção - concluiu. - com ele estava um rapaz chamado Paul Fielder.
- O Cherokee? - perguntou rispidamente St. James. - Ele estava contigo quando localizaste a origem do anel?
- Acho que foi o que eu te disse.
- Então sabe de tudo?
- Penso que tem esse direito.
St. James praguejou em silêncio: ele, ela, toda a situação, o facto de se ter envolvido por razões sobre as quais nem queria reflectir. Deborah não era estúpida, mas fora certamente ultrapassada pelos acontecimentos. Se lho dissesse, aumentaria os problemas entre eles. Se não lho dissesse, diplomaticamente ou de qualquer outra maneira, corria o risco de pôr em risco toda a investigação. Não tinha escolha.
- Não foi muito sensato, Deborah.
Ela percebeu o tom de voz dele. A resposta foi ríspida.
- Porquê?
- Deverias ter-me dito antes.
- Ter-te dito, o quê?
- Que tencionavas revelar...
- Não revelei...
- Disseste que ele estava contigo quando localizaste a fonte do anel, não é verdade?
- Ele quis ajudar. Está preocupado. Sente-se responsável por ter sido ele que quis fazer esta viagem e agora é provável que a irmã seja julgada por assassínio. Quando deixei a China, ele parecia... Ele sofre com ela. Por ela. Queria ajudar e não vi mal algum em deixar que o fizesse.
- Ele é um suspeito, Deborah, bem como a irmã. Se ela não matou o Brouard, alguém mais o fez. Ele era uma das pessoas que se encontrava na propriedade.
- Não podes estar a pensar... ele não... Oh, por amor de Deus! Ele foi a Londres. Foi ter connosco. Foi à embaixada. Concordou em ir falar com o Tommy. Está desesperado para provar que a China está inocente. Francamente achas que ele faria tudo isso... que ele faria alguma coisa... se fosse o assassino? Porquê?
- Não te sei responder.
- Ah, pois. Mas insistes...
- No entanto há uma coisa que eu sei... - interrompeu ele, detestando sentir prazer em poder dizê-lo: encurralara-a e agora podia desferir um golpe para a derrotar, para estabelecer exactamente quem tinha razão e quem não tinha. Falou-lhe dos papéis que entregara a Lê Gallez e daquilo que esses papéis revelavam sobre onde Guy Brouard estivera quando fora aos Estados Unidos, coisa que nem a irmã sabia. Para St. James não importava que durante a discussão com Lê Gallez tivesse argumentado exactamente o contrário daquilo que dizia agora à mulher acerca da ligação potencial entre a viagem de Brouard à Califórnia e Cherokee River. O que importava era mostrar-lhe a sua supremacia nos assuntos que diziam respeito ao assassínio. Ela pertencia ao mundo da fotografia, sugeriam as suas palavras: imagens de celulóide, manipuladas na câmara escura. Por outro lado, o dele era o mundo da ciência, o mundo dos factos. A fotografia era significado de ficção. Ela precisava de se lembrar disso antes de se decidir a percorrer um atalho sobre o qual nada soubesse.
- Percebo - disse ela com ar rígido, depois de ele concluir os seus comentários. - Desculpa o que se passou com o anel.
- Tenho a certeza de que fizeste aquilo que achavas que era certo disse-lhe St. James, sentindo toda a magnanimidade de um marido que acaba de restabelecer o lugar que por direito tem dentro do casamento.
- vou levá-lo ao Lê Gallez e explicar o que se passou.
- Ainda bem - disse ela. - Se quiseres vou contigo. Não me importo de me explicar, Simon.
Ele sentiu-se gratificado pela oferta e porque ela revelava a admissão de que Deborah tinha agido mal.
- Não é necessário - disse-lhe ele delicadamente. - Eu trato do assunto,
meu amor.
- Tens a certeza? Ele deveria saber o que significava o tom da pergunta, mas como
um imbecil, que pensa saber sempre mais do que as mulheres em tudo/ i respondeu:
- Faço-o com todo o prazer, Deborah.
- Que engraçado, nunca pensei.
- O quê?
- Que perdesses a oportunidade de ver o Lê Gallez fazer-me um sermão. Seria divertido. Estou surpreendida por não quereres assistir.
Ela esboçou um sorriso amargo e afastou-se rapidamente. Ele apressou-se a seguir o atalho em direcção à rua.
O comissário Lê Gallez entrava no carro no pátio da esquadra quando St. James passou os portões. A chuva começara a cair logo que Deborah o deixara no jardim e, embora tivesse saído apressadamente do hotel sem guarda-chuva, não foi atrás da mulher para ir buscar um à recepção. Pensou que se a seguisse iria importuná-la. E como não tinha qualquer razão para a importunar não queria parecer estar a fazê-lo.
O comportamento dela fora inqualificável. Era verdade que conseguira reunir algumas informações valiosas: o facto de ter descoberto de onde viera o anel poupara tempo a toda a gente e o facto de poder haver uma outra origem possível para ele oferecia munições que poderiam abalar a crença da polícia na culpa de China River. Mas isso não desculpava o modo furtivo e desonesto como conduzira a sua pequena investigação. Se ia entrar por um caminho criado por si, mais valia dizer-lho logo para que ele não levasse a vida a fazer de idiota diante do principal investigador do caso. E não importava o que ela tivesse feito, o que tivesse descoberto, o que tivesse reunido sobre China River. Restava sempre o facto de ter partilhado com o irmão dela vários pormenores valiosos. Teria de perceber a inconsciência da sua acção.
Ponto final, pensou St. James. Fizera o que tinha o direito e a obrigação de fazer. Mesmo assim não queria ir atrás dela. Disse para consigo que tinha de lhe dar tempo para se acalmar e reflectir. Um pouco de chuva não lhe faria mal a ele e seria em prol da educação da mulher.
Já no recinto da esquadra, Lê Gallez viu-o e fez uma pausa com a porta aberta do seu Escort. Havia duas cadeirinhas de criança vazias no banco traseiro.
- Gêmeos - disse abruptamente Lê Gallez quando St. James olhou para elas. - com oito meses. - Como se o tê-lo admitido indicasse acidentalmente uma afinidade que não sentia com St. James, continuou. - Onde está?
- Tenho-o aqui. - E St. James acrescentou tudo o que Deborah lhe dissera sobre o anel. - China River não se recorda onde o pôs pela última vez. Diz que se este anel não é realmente o que comprou, terá o dela entre o resto das suas coisas.
Lê Gallez não pediu imediatamente para ver o anel. Pelo contrário, bateu com a porta do carro.
- Então venha comigo - disse e voltou para dentro da esquadra. St. James foi atrás dele. Lê Gallez subiu as escadas até uma sala
exígua que parecia servir de laboratório forense. Havia fotografias a preto e branco de pegadas, penduradas em fios junto à parede e, por baixo delas, via-se um equipamento simples que permitia retirar as impressões digitais latentes com vapores de cianoacrilato. Sobre uma porta onde se liam as palavras "Câmara Escura" via-se uma luz vermelhas acesa, indicando que estava a ser usada. Lê Gallez bateu três vezes, vociferou as palavras "Impressões digitais, McQuinn", e disse para St. James: "Dê-mo então."
St. James entregou-lhe o anel. Lê Gallez preencheu os impressos necessários. McQuinn saiu da câmara escura quando o inspector assinava o nome acrescentando um floreado e pontos por baixo. Em dois tempos, todo o aparelho forense da ilha era aplicado à prova encontrada na praia onde Guy Brouard tinha morrido.
Lê Gallez deixou McQuinn entregue aos seus vapores de cola. Passou a seguir para a sala das provas. Pediu ao agente encarregado que lhe trouxesse os documentos com a lista dos haveres de China River.
Leu-a e declarou aquilo que St. James já suspeitava: não se encontrava qualquer anel entre o que a polícia retirara à posse de China River.
St. James pensou que Lê Gallez se sentiria enormemente satisfeito com aquilo. Afinal a informação acrescentava outro prego ao caixão de China River. Mas em vez de contentamento, o rosto do inspector parecia reflectir aborrecimento. Parecia que uma peça do puzzle que ele pensava ser correcta não encaixava.
Lê Gallez olhou-o. Examinou de novo a lista das provas. O agente disse:
- Não faz parte, Lou. Não estava antes, nem está agora. Verifiquei tudo. Nada corresponde.
Da conversa St. James depreendeu que Lê Gallez não estava só à procura do anel nos formulários que examinava. Viera também em busca de qualquer outra coisa que não revelara no encontro anterior. Observou St. James como se reflectisse o que desejava dizer-lhe. Resmungou a palavra "Bolas" e depois disse: "Venha comigo."
Foram para o gabinete dele. Aí fechou a porta e indicou a St. James a cadeira onde devia sentar-se. Instalou-se também na sua cadeira, esfregando a testa e pegando no auscultador do telefone. Marcou um número e quando alguém lhe respondeu do outro lado da linha, disse:
- Lê Gallez. Alguma coisa?... Raios! Continuem à procura. Passem o perímetro a pente fino. O que for preciso... Sei muito bem quantas pessoas tiveram oportunidade de mexer aí nas coisas, Rosumek. Acredite ou não é preciso saber contar para chegar ao meu posto. Continue o trabalho! - Desligou o telefone.
- Está a levar a cabo uma busca? - perguntou St. James. - Onde? Em Lê Reposoir? - Não esperou pela informação. - Mas daria ordens para que a terminassem se andasse à procura desse anel. - Ponderou este ponto, vendo que dele apenas poderia retirar uma conclusão. - Recebeu o relatório de Inglaterra, suponho. Os pormenores da autópsia levaram-no a ordenar uma busca.
- O senhor não se deixa enganar, pois não? - Lê Gallez pegou num dossiê e retirou várias folhas que estavam agrafadas. Não se referiu a elas enquanto informava St. James. - A toxicologia - disse.
- Alguma coisa inesperada no sangue?
- Um opiáceo.
- No momento da morte? Então que quer isso dizer? Que estava inconsciente quando sufocou?
- Parece que sim.
- Mas isso só pode querer dizer...
- Que as coisas ainda não terminaram. - Lê Gallez não parecia satisfeito, o que não admirava, porque com aquela informação nova, para ligar as coisas, ou a própria vítima ou o suspeito número um da polícia naquele assassínio tinham agora de ser ligados ao ópio ou a um dos seus derivados. O caso de Lê Gallez ruía completamente.
- Quais são as suas fontes? - perguntou St. James. - Há alguma possibilidade de que fosse consumidor?
- E que se injectasse antes de ir tomar banho? Que fizesse visitas matinais ao antro da droga cá do sítio? É pouco provável, a menos que quisesse afogar-se.
- Não tem marcas nos braços?
Lê Gallez lançou-lhe um olhar que significava: "Deves pensar que aqui somos todos idiotas."
- E resíduos no sangue, provenientes da noite anterior? Tem razão. Não faz qualquer sentido que ele usasse um narcótico antes de ir nadar.
- Nem faz sequer sentido que ele o usasse.
- Então alguém o drogou nessa manhã? Como?
Lê Gallez parecia pouco à-vontade. Voltou a colocar os papéis sobre a secretária.
- O homem foi sufocado por aquela pedra. Não importa o que estivesse no seu sangue, morreu da mesma maneira. Não o esqueçamos.
- Mas pelo menos pode perceber-se como a pedra lhe foi alojada na garganta. Se estava drogado, se tinha perdido a consciência, que dificuldade haveria em lhe meter uma pedra pela boca abaixo e deixá-lo sufocar? A única questão seria como o drogaram. Não deve ter ficado sentado à espera que lhe dessem a injecção. Seria diabético? Uma substituição da insulina? Não? Então tinha de ter... o quê? Teria de o ter bebido dissolvido? St. James viu os olhos de Lê Gallez semicerrarem-se um pouco. - Então pensa que foi bebido - declarou ao inspector. - Pensa que ele o deve ter bebido.
Depois apercebeu-se por que razão o detective estava tão desejoso de lhe comunicar as últimas informações apesar das dificuldades causadas pelo atraso de Deborah em entregar o anel imediatamente na esquadra. Era uma forma de troca: um pedido mudo de desculpas pelo insulto e pelo facto de ter perdido a cabeça em troca da boa vontade mostrada por St. James para não lhe arrastar a investigação. Levando isto em conta St. James disse lentamente, ao mesmo tempo que reflectia sobre o que sabia de novo sobre o caso:
- Deve ter ignorado qualquer coisa na cena do crime. Qualquer coisa com um ar muito inocente.
- Não o ignorámos - respondeu Lê Gallez. - Foi testado juntamente com o resto.
- O quê?
- O termos do Brouard. A sua dose diária de ginkgo e chá verde. Bebia-o todas as manhãs depois do banho.
- Na praia?
- Nessa maldita praia. Era um fanático da sua dose diária de ginkgo e chá verde. A droga teve de ser misturada nela.
- Mas não havia vestígios quanto testou o termos?
- Água salgada. Pensámos que o Brouard o tenha lavado.
- Certamente alguém o fez. Quem encontrou o corpo?
- O Duffy. Foi à praia porque o Brouard não tinha voltado para casa e a irmã telefonou para ver se ele estava em casa dele. Encontrou-o frio como uma pedra e veio a correr telefonar para a emergência pois pensou tratar-se de um ataque de coração. E não seria de espantar. O Brouard tinha quase setenta anos.
- Então, durante as idas e vindas, o Duffy poderia ter lavado o termo.
- Pois podia. Mas se matou o Brouard, ou o fez com a cumplicidade da mulher ou com o conhecimento dela, em qualquer dos casos, isso faz dela a melhor mentirosa que já encontrei. Disse que ele estava lá em cima e ela na cozinha quando o Brouard passou para ir tomar o seu banho. Disse que ele... o Duffy não saiu de casa, até ter ido à praia à procura do Brouard. Eu acredito nela.
St. James olhou então para o telefone e pensou na chamada de Lê Gallez com alusões a uma busca.
- Então, se não anda à procura da forma como ele foi drogado nessa manhã... se concluiu que a droga era proveniente do termos... deve andar à procura daquilo que continha o opiáceo, uma coisa em que ele tenha sido posto para ser levado para a propriedade.
- Como estava no chá - disse Lê Gallez - e não vejo onde mais pudesse estar, sugere uma forma líquida. Ou um pó solúvel.
- O que por sua vez sugere um frasco, um tubo, um recipiente de qualquer tipo... de preferência com impressões digitais.
- E que pode estar em qualquer parte - reconheceu Lê Gallez. St. James viu que o inspector estava em dificuldades: não tinha
apenas de realizar uma busca numa enorme propriedade, como também um elenco de suspeitos, pois na noite anterior à morte de Guy Brouard, Lê Reposoir estivera cheio de gente e qualquer um poderia ter ido à celebração com o assassínio na alma. Porque apesar do cabelo de China River no corpo de Guy Brouard, apesar de um perseguidor furtivo com a capa de China River e apesar do sítio onde fora encontrado o anel de caveira com tíbias cruzadas - um anel comprado pela própria China River -, o opiáceo ingerido por Guy Brouard contava uma história que Lê Gallez seria agora obrigado a ouvir.
Não devia apreciar muito a situação em que se encontrava: até àquele momento as provas sugeriam que China River era a criminosa, mas a presença do narcótico no sangue de Brouard mostrava uma premeditação que entrava em conflito com o facto de ela só o ter conhecido depois de chegar à ilha.
- Se foi a jovem River que o fez - disse St. James - teria tido que trazer com ela o narcótico dos Estados Unidos, não acha? Não podia estar à espera de o encontrar aqui em Guernsey. Não poderia saber como era este lugar: se a cidade era grande ou pequena, onde fazer a compra. E mesmo que tivesse esperanças de encontrar cá a droga e se andasse por St. Peter Port até a ter encontrado, a questão mantém-se. Porque o fez?
- Não havia nada entre os pertences dela onde a pudesse transportar - disse Lê Gallez como se St. James não tivesse apresentado um ponto muito importante. - Nem uma garrafa, um boião, um tubo. Nada. Isso sugere que pode tê-lo deitado fora. Se o encontrarmos... quando o encontrarmos... haverá resíduos. Ou impressões digitais. Nem que seja uma. Ninguém prevê todas as possibilidades quando mata. Pensam que sim, mas matar não é natural nas pessoas, a menos que se trate de psicopatas, por isso atrapalham-se e são traídos pela memória. Um pormenor. Algures.
- Mas voltamos ao móbil do crime - argumentou St. James. - China River não tem qualquer motivo. Não ganha nada com a morte dele.
- Se encontrar o recipiente com as impressões digitais dela, o problema não é meu - declarou Lê Gallez.
O comentário reflectia o aspecto mais detestável do trabalho da polícia: a maldita predisposição dos investigadores para atribuírem a culpa em primeiro lugar e só depois interpretar os factos para os adaptar a ela. Era verdade que a polícia de Guernsey tinha uma capa, um cabelo no cadáver e testemunhas oculares que afirmavam que alguém seguira Guy Brouard em direcção à praia. E agora tinham um anel comprado pela principal suspeita e encontrado na cena do crime. Mas também tinham um elemento que lhes deveria ter chamado a atenção em relação à teoria formulada. O facto de o relatório da toxicologia não o estar a fazer, explicava a razão pela qual inocentes acabavam por cumprir penas e por que razão a confiança do público numa justiça equitativa se tinha transformado num perfeito cinismo.
- Inspector Lê Gallez - disse St. James cauteloso. - Por um lado temos um multimilionário que morre e um suspeito que nada ganha com isso. Por outro temos pessoas que poderiam muito bem ter expectativas em relação à sua herança. Temos um filho quase deserdado, uma pequena fortuna deixada a dois adolescentes que não eram nada ao falecido e vários indivíduos que contavam com Brouard para construir um museu da guerra e que viram as suas esperanças goradas. Parece-me que há motivos aos montes. Ignorá-los em favor de...
- Ele esteve na Califórnia. Pode tê-la conhecido lá. O motivo vem daí.
- Mas verificou os movimentos dos outros, não é verdade?
- Nenhum deles foi...
- Não estou a falar de terem ou não ido à Califórnia - disse St. James. - Estou a falar na manhã do crime. Verificou onde estavam os outros? O Adrian Brouard, as pessoas ligadas ao museu, os adolescentes, os parentes dos adolescentes desejosos de receber algum dinheiro, as outras pessoas ligadas ao Brouard, a amante, os filhos dela?
Lê Gallez guardou um eloqüente silêncio. St. James insistiu.
- É verdade que China River estava em casa dele. Também é verdade que pode ter conhecido o Brouard na Califórnia, o que ainda não é certo. Ou o irmão pode tê-lo conhecido e tê-los apresentado um ao outro. Mas para além dessa ligação... que pode até nem existir... China River agia como assassina? Alguma vez agiu? Não tentou fugir do cenário do crime. Partiu nessa manhã com o irmão, conforme estava combinado, e sem se preocupar em disfarçar o rasto. Não ganhou absolutamente nada com a morte de Brouard. Não tinha qualquer razão para o querer ver morto.
- Tanto quanto sabemos - interrompeu Lê Gallez.
- Tanto quanto sabemos - concordou St. James. - Mas atribuir-lhe o crime baseado nas provas que alguém pode ter colocado para a comprometer... Espero que se dê conta que o advogado de China River vai deitar por terra o seu caso.
- Não creio - disse simplesmente Lê Gallez. - Diz-me a experiência, senhor St. James, que não há fumo sem fogo.
Capítulo 15
PAUL FIELDER ACORDAVA GERALMENTE AO SOM DO SEU DESPERTADOR, um relógio velho, de metal. Todas as noites dava-lhe corda religiosamente e marcava as horas a que tinha de acordar, receando sempre que um dos irmãos mais novos o pudesse ter estragado durante o dia. Mas nessa manhã foi acordado pelo toque do telefone a que se seguiu o estrondo de passos pela escada acima. Reconheceu o andar pesado e fechou os olhos com força, pensando que o irmão lhe ia entrar no quarto. A razão para o irmão estar a pé tão cedo era ainda um mistério para Paul; só se nessa noite não se tivesse deitado, o que não seria invulgar. Por vezes, Billy ficava acordado a ver televisão e depois deixava-se ficar na sala, a fumar e a tocar os velhos discos dos pais na aparelhagem. Tocava-os muito alto, mas nunca ninguém lhe dissera para baixar o som para que o resto da família pudesse dormir. Já havia muito tempo que ninguém dizia nada a Billy.
A porta do quarto abriu-se de par em par e Paul manteve os olhos fechados. Na cama em frente à sua o irmão mais novo soltou um grito abafado e Paul sentiu um alívio culpado ao pensar que iria escapar à tortura que seria aplicada a outra vítima. Mas afinal o grito era apenas de surpresa pelo ruído à brutal abertura da porta seguindo-se imediatamente uma forte pancada num ombro de Paul.
- Olha lá, ó meu sacana - disse a voz de Billy. - Pensas que não sei que estás a fingir? Levanta-te que vais ter visitas!
Paul manteve teimosamente os olhos fechados, o que tenha talvez levado Billy a agarrá-lo pelos cabelos para que levantasse a cabeça. Queres que te apalpe, maricas, para ver se acordas? Ou preferes que venham cá os teus amigos. - Abanou a cabeça de Paul e depois deixou a cair na almofada. - Aposto que tens tesão e não sabes o que hás-de fazer. Deixa-me ver.
Paul sentiu as mãos do irmão sobre os cobertores e reagiu. Billy tinha razão. Era assim que se sentia todas as manhãs e pelas conversas que ouvira na escola, calculava que fosse normal, o que lhe causara um enorme alívio, porque começara a perguntar a si próprio por que razão acordava todas as manhãs com a pila na perpendicular.
Soltou um grito parecido com o do irmão e agarrou o cobertor. Quando percebeu que Billy conseguiria o que queria, saltou da cama e correu para a casa de banho. Fechou a porta com força e deu volta à chave. Billy começou aos socos.
- Agora estás a puxar pelo coiso - troçava. - Não tem graça sem ajuda, pois não? Gostas mais quando são dois.
Paul deixou a água correr para a banheira e puxou o autoclismo. Qualquer coisa para abafar a voz do irmão.
Sobre o ruído da água, ouviu vozes a gritar do outro lado, seguidas do riso idiota de Billy, e por pancadas mais delicadas mas insistentes. Paul fechou a torneira e deixou-se ficar junto da banheira.
- Abre, Paulie, preciso de falar contigo.
Quando Paul abriu encontrou ali o pai, envergando a roupa de trabalho para as obras na estrada. Vestia calças de ganga muito sujas, botas enlameadas e uma grossa camisa de flanela com um horrível cheiro a suor. Paul lembrou-se de que deveria ter vestida a sua roupa de talhante e sentiu a tristeza invadir-lhe a garganta. Deveria estar com a sua bata e avental brancos a cobrirem-lhe as calças lavadas todos os dias. Deveria partir para o trabalho que sempre fizera. Deveria estar pronto para arrumar a carne no seu próprio talho numa ponta do mercado, onde agora ninguém trabalhava porque tudo o que lá estivera desaparecera com a morte do mercado que ninguém poderia ressuscitar.
Paul teve vontade de bater com a porta na cara do pai por causa da roupa suja que nunca deveria ter querido usar, por não se barbear quando nunca deveria ter deixado de o fazer. Mas entretanto, a mãe apareceu também à porta trazendo com ela o cheiro do bacon frito, parte do pequeno-almoço que insistia que o pai de Paul comesse todos os dias, para manter as forças.
- Veste-te, Paulie. - disse ela, por cima do ombro do marido. - Vem aí um advogado para falar contigo.
- Sabes do que se trata, Paulie? - perguntou o pai.
Paul abanou a cabeça. Um advogado? Para falar com ele? Não seria engano?
- Tens ido à escola como é tua obrigação? - perguntou-lhe o pai. Paul acenou afirmativamente sem se importar com a mentira. Ele
ia à escola quando era sua obrigação, isto é, quando não apareciam outras coisas mais importantes. Coisas como o senhor Guy e tudo o que acontecera. Ao pensar naquilo sentiu-se de novo invadido pelo desgosto.
A mãe pareceu entender o que se passava. Meteu a mão no bolso do robe acolchoado e tirou de lá um lenço que entregou a Paul.
- Despacha-te, querido. OI - disse para o marido -, anda tomar o pequeno-almoço. Ele foi lá para baixo - acrescentou, voltando-se para trás, quando deixaram Paul para que este se arranjasse antes de receber a visita.
O som da televisão fez-se ouvir, como que numa explicação desnecessária. Billy já estava interessado noutra coisa.
Sozinho, Paul fez o que podia para se preparar para o encontro com o advogado. Lavou a cara e as axilas. Vestiu a mesma roupa do dia anterior. Lavou os dentes e penteou-se. Olhou-se ao espelho e perguntou a si próprio o que significaria aquilo. A mulher, o livro, a igreja e os trabalhadores. Ela tinha uma pena de escrever que apontava para qualquer coisa: a ponta para o livro e as penas para o céu. Mas o que significaria aquilo? Talvez nada, mas não conseguia acreditar.
Consegues guardar segredos, meu Príncipe?
Desceu as escadas. O pai comia e Billy, que já se esquecera da televisão, fumava, quase deitado na cadeira, com os pés apoiados no caixote do lixo da cozinha. Tinha uma caneca de chá junto ao cotovelo e ergueu-a quando Paul entrou, saudando-o com um risinho trocista.
- Divertiste-te, Paul? Espero que tenhas limpo o assento da retrete.
- Vê o que dizes - disse OI Fielder ao filho mais velho.
- Oh, ai que medo - foi a resposta de Billy.
- Queres ovos, Paulie? - perguntou a mãe. - Posso estrelar-te um, ou se preferes cozidos...
- É a última refeição antes de ser preso - disse Billy. - Masturbas-te na cama e todos os rapazes te querem, Paulie.
Os gritos da Fielder mais nova, vindos da escada interromperam a conversa. A mãe de Paul entregou a frigideira ao pai e pediu-lhe para tomar conta dos ovos enquanto ia buscar a sua única filha. Quando esta apareceu na cozinha ao colo da mãe, foi difícil fazê-la calar.
A campainha da porta tocou, no momento em que os dois rapazes mais novos se sentavam à mesa. OI Fielder foi abrir a porta e logo a seguir chamou Paul à sala.
- Tu também, Mave - disse para a mulher, o que foi convite suficiente para que Billy os seguisse sem ter sido chamado.
Paul deixou-se ficar à porta. Não sabia grande coisa de advogados e o que sabia era o suficiente para que não tivesse vontade de conhecer nenhum. Estavam metidos em julgamentos e julgamentos significavam sarilhos para as pessoas. Por muitas voltas que se dessem, os sarilhos podiam ser para Paul.
O advogado disse chamar-se Forrest e olhou para Billy e para Paul com ar confuso, sem dúvida perguntando a si próprio qual seria o jovem. Billy resolveu o problema empurrando Paul para a frente.
- É ele - disse. - O que foi que fez?
O1 Fielder apresentou toda a gente. O senhor Forrest procurou um sítio onde se pudesse sentar. Mave Fielder retirou um monte de roupa lavada do cadeirão maior e disse, "Faça favor de se sentar aqui", embora ela própria tivesse ficado de pé. Ninguém sabia o que fazer. Ouvia-se o arrastar de pés, um estômago roncou e a pequenina debateu-se no colo da mãe.
O senhor Forrest colocou a pasta numa otomana coberta de plástico. Não se sentou porque todos estavam de pé. Tirou de lá uns papéis e aclarou a voz.
Informou os pais e o irmão mais velho de Paul que este fora nomeado um dos principais beneficiários do testamento do falecido Guy Brouard. Os Fielder conheciam o direito sucessório de Guernsey? Não? bom, pois então ia explicar-lhes.
Paul também escutou, mas não percebeu grande coisa. Só quando viu as expressões dos pais e ouviu Billy dizer, "O quê? O quê? G'anda merda!", é que percebeu que alguma coisa de extraordinário estava a acontecer. Mas só se apercebeu que era com ele quando a mãe exclamou:
- O nosso Paulie? Vai ficar rico?
- Merda do caraças! - disse Billy e voltou-se para Paul. Poderia ter dito mais, mas o senhor Forrest começara a usar a expressão "o nosso jovem senhor Paul" referindo-se ao beneficiário que viera visitar, o que pareceu tocar profundamente Billy, obrigando-o a empurrar Paul para o lado e a sair da sala a toda a pressa da sala, batendo com tanta força com a porta da frente que foi como se a pressão do ar se tivesse alterado dentro da sala.
O pai sorria ao dizer-lhe:
É. - São boas notícias. Ainda bem para ti, filho.
- Meu Jesus, meu bom Jesus me valha - murmurava a mãe.
O senhor Forrest estava a dizer qualquer coisa acerca dos contabilistas e quem recebia quanto e como tudo aquilo era determinado. Falava
II também nos filhos do senhor Guy e na filha de Henry Moullin. Falava no modo como o senhor Guy dispusera a sua fortuna e porquê e estava a dizer que se Paul precisasse de aconselhamento no que dizia respeito a investimentos, poupanças, seguros, empréstimos bancários e assim, poderia telefonar-lhe a qualquer altura que ele o aconselharia com todo o prazer. Pegou em dois dos seus cartões e meteu um na mão de Paul e outro na
mão do pai. Deveriam telefonar-lhe quando resolvessem que perguntas lhe queriam fazer, porque, disse a sorrir, deveria haver perguntas. Havia sempre naquelas situações.
Mave Fielder fez a primeira. Humedeceu os lábios secos, olhou nervosamente para o marido, acomodou o bebê no colo e disse:
- Quanto...
Ah, respondeu o senhor Forrest. Ainda não sabiam exactamente. Era preciso estabelecer primeiro o estado da situação financeira e um contabilista forense estava já a tratar do assunto. Quando tudo estivesse pronto teriam os números exactos. Mas podia dar-lhes uma idéia... na condição de que não fizessem nada baseados nesses números, acrescentou apressadamente.
- Queres saber, Paulie? - perguntou o pai. - Ou preferes esperar até saberes a quantia exacta?
- Suponho que ele queira saber imediatamente - disse Mave Fielder. - Eu se fosse ele queria, tu não, OI?
- O Paulie é que sabe. Então, filho?
Paul olhou para aqueles rostos brilhantes e sorridentes. Sabia que resposta deveria dar. Queria dá-la pelo que significava para eles ouvirem boas notícias. Por isso acenou afirmativamente, com um pequeno gesto de cabeça, o reconhecimento de um futuro que se expandia de súbito para lá daquilo que qualquer deles tinha sonhado.
Não poderiam ter a certeza absoluta até que as contas estivessem todas feitas, disse-lhes o senhor Forrest, mas como o senhor Brouard tinha sido um homem de negócios muito inteligente, poderia dizer-se que a parte da fortuna dele que caberia a Paul Fielder andaria na casa das setecentas mil libras.
- Santo nome de Jesus - murmurou Mave Fielder.
- Setecentas... - OI Fielder abanou a cabaça como se quisesse aclarar as idéias. Depois o seu rosto triste, com aquela expressão de homem falhado, iluminou-se com um sorriso aberto.
- Setecentas mil libras? Setecentas... Pensa bem, Paulie, meu filho. Pensa naquilo que podes fazer.
Paul murmurou as palavras Setecentas mil, mas para ele eram incompreensíveis. Sentia-se pregado ao chão e ultrapassado pelo sentido do dever que caía agora sobre ele.
Pensa naquilo que podes fazer.
Aquilo recordou-lhe as palavras do senhor Guy pronunciadas quando se encontravam no cimo da casa grande em Lê Reposoir, vendo as árvores desabrocharem em Abril, em pleno esplendor da primavera, quando todos os jardins despertavam para a vida.
Espera-se muito daqueles a quem muito se dá, meu Príncipe. Saber isto equilibra a vida. Mas viver segundo esta regra é um verdadeiro teste. Poderias fazê-lo, filho, se estivesses nessa posição? Por onde começarias?
Paul não sabia. Não tinha sabido naquela altura e agora também não. Mas tinha uma leve idéia, por causa daquilo que o senhor Guy lhe tinha dado. Não directamente, porque o senhor Guy não fazia as coisas directamente, conforme Paul pôde constatar, mas mesmo assim tinha-o feito.
Deixou os pais e o senhor Forrest a conversar sobre a sua miraculosa herança. Voltou para o quarto, para ir buscar a mochila. Ajoelhou-se - de traseiro para o ar e mãos no chão - para a retirar de debaixo da cama onde a guardava para que estivesse mais segura. Nesta altura ouviu as unhas de Taboo a rasparem a passadeira de plástico do corredor. O cão viera ter com ele a farejar.
Paul lembrou-se então de fechar a porta e, pelo sim pelo não, encostou-lhe uma das duas secretárias do quarto. Taboo saltou para cima da cama do dono, dando várias voltas para se instalar no sítio onde o cheiro de Paul era mais activo e, quando o encontrou, deitou-se e ficou a ver o dono pegar na mochila, limpá-la do cotão e abrir os seus fechos de plástico.
Paul sentou-se ao lado do cão. Taboo poisou a cabeça na perna de Paul para que este lhe cocasse as orelhas. Paul fê-lo mas durante pouco tempo. Naquela manhã havia outras prioridades que o preocupavam mais do que o amor do seu cão.
Não sabia o que fazer com o que tinha. Quando o desenrolara pela primeira vez, vira que não se tratava exactamente do mapa do tesouro dos piratas que esperava, mas, mesmo assim, percebera que se tratava de uma espécie de mapa porque o senhor Guy não o teria deixado lá para ele encontrar se se tratasse de outra coisa. Ao observar a sua descoberta, recordou-se de que o senhor Guy falava muitas vezes por enigmas: um pato rejeitado pelo resto do bando representava Paul e os seus colegas da escola; um carro que deixava sair fumo negro do tubo de escape representava um corpo desesperadamente poluído por comida de má qualidade, cigarros e falta de exercício. Era assim que falava porque não gostava de fazer sermões a ninguém. Porém, Paul nunca esperara que as suas mensagens que deixara pudessem ser tão enigmáticas como a sua conversa.
Diante dele, uma mulher segurava numa pena. Seria uma pena? Parecia uma pena. Tinha um livro aberto no colo. Por trás dela, erguia-se um edifício alto e enorme e, por baixo, os operários trabalhavam na sua construção. Paul julgou que fosse uma catedral. E ela parecia... Não sabia dizer. Talvez abatida. Infinitamente triste. Estava a escrever no livro como se documentasse o quê? Os seus pensamentos? O trabalho? Aquilo que estava a ser feito por trás dela? O que estaria a ser feito? A construção de um edifício? Uma mulher com um livro e uma pena e um edifício a ser construído; tratava-se da mensagem final do senhor Guy para Paul.
Sabes muitas coisas que pensas que não sabes, filho. Podes fazer tudo o que quiseres.
Mas com aquilo? O que haveria de fazer? Os únicos edifícios ligados ao senhor Guy eram os seus hotéis, a sua casa em Lê Reposoir e o museu que ele e o senhor Ouseley pensavam construir. As únicas mulheres ligadas ao senhor Guy que Paul conhecia eram Anais Abbott e a irmã do senhor Guy. Parecia pouco provável que a mensagem do senhor Guy significasse que Paul teria de fazer alguma coisa com Anais Abbott. E parecia-lhe ainda menos provável que o senhor Guy lhe enviasse uma mensagem escondida sobre um dos seus hotéis ou sobre a sua casa. No cerne da mensagem, restavam a irmã do senhor Guy e o museu do senhor Ouseley. Tinha de ser aquilo que significava.
Talvez que o livro no colo da mulher fossem as contas da construção do museu. E o facto de o senhor Guy ter deixado a mensagem para Paul encontrar - quando era evidente que a poderia ter dado a qualquer outra pessoa - significava que esta continha as instruções para o futuro. A herança que Paul iria receber do senhor Guy estava incluída na mensagem que ele lhe tinha enviado: Ruth Brouard trataria de que o projecto se realizasse, mas utilizando o dinheiro de Paul para a sua construção.
Paul sabia que teria de ser assim. Mais ainda, pressentia-o. E o senhor Guy falara-lhe mais do que uma vez nesses pressentimentos.
Confia no que está dentro de ti, meu rapaz. É aí que está a verdade.
com um arrepio de prazer, Paul percebeu que o interior significava mais do que o coração ou a alma de uma pessoa. Significava também o interior do dólmen. Tinha de confiar naquilo que encontrara dentro da câmara escura. Pois bem, fá-lo-ia.
Abraçou Taboo e sentiu que um manto de chumbo lhe saíra dos ombros. Andara às voltas no escuro desde que soubera da morte do senhor Guy. Agora vira uma luz. Mas mais do que isso. Muito mais. Tinha um bom sentido de orientação.
Ruth não precisava de ouvir o veredicto do seu oncologista. Leu-lho no rosto, principalmente na testa, que parecia ter mais rugas do que o habitual. Compreendeu que ele tentava evitar a sensação de um fracasso eminente. Perguntou a si própria o que seria escolher uma profissão em que se assistisse à morte de tantos pacientes. Afinal, a missão dos médicos era curar e depois celebrar a vitória na batalha contra uma doença ou um acidente. Mas os oncologistas partiam para a guerra com armas muitas vezes insuficientes contra um inimigo que não conhecia restrições e não tinha regras para ser governado. O cancro, pensou Ruth, era como um terrorista. Não dava sinais subtis, apenas uma devastação instantânea. Só a palavra bastava para causar a destruição.
- Fomos até onde podíamos com aquilo que estávamos a usar - disse o médico. - Mas chega a um ponto em que é necessário um analgésico opiáceo mais forte. Penso que chegou o momento, Ruth. A hidromorfona já não é o suficiente. Não podemos aumentar a dose. Temos de mudar.
- Gostaria de ter. outra alternativa. - Ruth sabia que falava em voz fraca e irritou-se porque aquilo revelava a sua aflição. Deveria ser capaz de se esconder do fogo e se não o conseguisse deveria poder esconder o fogo do mundo. Obrigou-se a sorrir. - Não seria tão mau se apenas latejasse. Haveria o alívio entre as pulsações, entende? Nessas pausas breves, teria a recordação daquilo que era dantes... o que era antes.
- Então outra série de tratamentos de quimioterapia.
- Não, isso não. - Ruth manteve-se firme.
- Então teremos de passar para a morfina. É a única resposta. Observou-a por trás da secretária e o véu que lhe cobria os olhos pareceu desaparecer por um instante. Aquele homem parecia despir-se diante dela, parecia ser uma criatura que sentia demasiado as outras criaturas.
- De que tem medo, afinal? - perguntou num tom cheio de bondade. - Da quimioterapia em si? Dos efeitos secundários?
Ela abanou a cabeça.
- Então é a morfina? A idéia do vício. Os heroinómanos, os antros do ópio, os toxicodependentes cabeceando nos becos?
Ela abanou de novo a cabeça.
- Então é o facto de a morfina se utilizar como último recurso? E o que isso significa?
- Não. De modo algum. Sei que estou a morrer e não tenho medo. Poder ver a maman e o pai depois de tanto tempo, poder ver Guy e dizer-lhe lamento... porque haveria de recear aquilo, pensou Ruth. Mas desejava manter o controle no fim da sua vida e conhecia os efeitos da morfina. Toda a gente os conhecia. Toda a gente sabia que roubava aquilo que as pessoas tentavam viver até ao último suspiro.
- Mas não é necessário morrer numa tal agonia, Ruth. A morfina...
- Quero partir sabendo que vou partir - disse Ruth. - Não quero ficar um corpo inerte numa cama.
- Ah! - O médico colocou as mãos sobre a secretária, entrelaçou-as de maneira que o seu anel de brasão reflectiu a luz. - Já tem uma imagem formada do que vai acontecer, não é verdade? O paciente em coma e a família reunida em seu redor a olhá-lo no seu estado mais indefeso e imóvel e até mesmo inconsciente, incapaz de comunicar seja o que for que lhe passe pelo espírito.
Ruth sentiu que ia chorar, mas não cedeu. Por muito receosa que estivesse, limitou-se a acenar afirmativamente.
- Essa imagem já passou de moda - disse-lhe o médico. - Claro que, se o doente quiser, pode dispor dela: um deslizar para um coma bem orquestrado, com a morte à espera no final da descida. Ou podemos controlar a dose para atenuar a dor e para que o doente continue lúcido.
- Mas se a dor for demasiado grande, a dose tem de ser equivalente. E eu sei o que faz a morfina. Não me vai dizer que não debilita.
- Se o seu problema é esse, se a faz fica sonolenta, equilibramo-la com qualquer outra coisa. Metilfenidato. É um estimulante.
- Mais drogas. - O tom amargo que Ruth escutou na sua própria voz era equivalente à dor que sentia nos ossos.
- Para além destas vê mais alguma alternativa, Ruth?
Não tinha uma resposta simples para aquela pergunta. Ou aceitava a morte, ou a tortura de um mártir cristão ou a droga. Teria de decidir.
Pensou em tudo aquilo enquanto bebia uma chávena de café na estalagem Admirai de Saumarez, onde o fogo ardia na lareira. Ficava a pouca distância da Berthelot Street e Ruth encontrou uma mesinha vazia e sentou-se com alguma dificuldade antes de mandar vir o café. Bebeu-o lentamente, saboreando o seu sabor amargo ao mesmo tempo que olhava as chamas ávidas erguerem-se dos troncos.
Nunca deveria ver-se naquela posição, pensou Ruth tristemente. Quando era jovem, pensara que um dia haveria de casar e ter uma família como as outras raparigas. Como mulher primeiro de trinta e depois de quarenta anos, ao ver que tal não acontecia, pensou que poderia ser útil ao irmão que fora tudo para ela. Disse para consigo que não estava destinada a outra coisa. Viveria então para Guy.
Mas ao viver para o irmão, foi obrigada a enfrentar a maneira de viver de Guy e teve dificuldade em aceitá-la. Acabara por consegui-lo, dizendo para consigo que se tratava apenas de uma reacção à perda dos pais e às enormes responsabilidades que lhe tinham sido atribuídas devido a essa perda. Ela fora uma dessas responsabilidades que ele aceitara de alma e coração. Ela devia-lhe isso. Assim fingiu alhear-se das coisas até que lhe foi possível.
Perguntava a si própria por que razão as pessoas reagiam de determinada maneira às dificuldades que tiveram na infância. Aquilo que para uns era um desafio, era para outros uma desculpa, mas, em qualquer dos casos, a infância continuava a ser razão para tudo quanto faziam. Este simples facto era-lhe evidente havia muito, desde que avaliava a vida do irmão: a sua vontade de ter êxito, de provar o seu valor estava determinada pelas perseguições e lutos que tinha suportado; a sua incansável sede de conquistas femininas era o simples reflexo de uma juventude privada de amor maternal; as suas tentativas falhadas no seu papel de pai eram apenas uma indicação de uma relação paternal terminada antes de ter possibilidade de florescer. Sabia tudo isso. Levara tudo isso em conta. Mas ao fazê-lo nunca se interrogara sobre o modo que todos esses elementos da infância influenciassem outras pessoas para além de Guy.
No seu caso, por exemplo: toda uma existência dominada pelo medo. As pessoas que tinham dito que regressavam e que nunca o tinham feito
- era esse o cenário para representar o papel que lhe coubera no drama em que a sua vida se transformara. Porém, ninguém poderia funcionar num clima de tanta ansiedade e assim procurava maneiras de fingir que o medo não existia. Se um homem podia partir, o melhor seria agarrar-se ao homem que nunca o faria. Uma criança poderia crescer, mudar e voar do ninho, então o melhor seria obviar essa possibilidade da maneira mais simples: não tendo filhos. O futuro poderia trazer desafios que poderiam lançá-la no desconhecido, por isso o melhor seria existir no passado. De facto, fazer da própria vida um tributo ao passado, tornar-se documentarista do passado, sua celebrante e diarista. Desse modo poderia viver longe do medo que, afinal era apenas outro modo de viver longe da vida.
Mas teria feito assim tanto mal? Ruth achava que não, principalmente quando reflectia sobre onde tinham levado as suas tentativas para viver dentro da vida.
- Quero saber o que tencionas fazer - exigira Margaret naquela manhã. - O Adrian foi roubado daquilo que é seu por direito... em mais de uma frente e sabes bem disso. E eu quero saber o que tencionas fazer. Francamente não me importo como ele o fez, com que raio de subterfúgio legal o conseguiu. Tanto me faz. Só quero saber como tencionas repará-lo. Não se, mas como, Ruth. Porque sabes onde isto vai parar se não fizeres alguma coisa.
- O Guy queria...
- Pouco me importa o que tu pensas que o Guy queria porque eu sei o que ele queria: o que sempre quis. - Margaret avançou na direcção de Ruth que estava sentada ao toucador, tentando dar um pouco de cor às faces. - Tinha idade suficiente para ser filha dele, Ruth. Se virmos bem, era até mais nova do que as filhas. Uma pessoa que ninguém imaginaria que estivesse disponível para ele. Era isso que ele se dispunha a fazer desta vez. E tu sabias, não sabias?
As mãos de Ruth tremeram tanto que lhe foi impossível rodar o batom. Margaret viu e interpretou aquela atitude como se Ruth não tivesse intenções de lhe responder.
- Meu Deus, tu sabias - vociferou Margaret. - Sabias que ele queria seduzi-la e nada fizeste para o impedir. No que te diz respeito... no que sempre te disse respeito... o maldito Guy nunca poderia fazer nada de mal, por mais gente que pudesse magoar no caminho.
Ruth, eu quero. E ela também quer.
- Afinal o que importava que ela fosse a última numa enorme fila de mulheres que ele tinha de ter? O que importava se, ao ficar com ela, estivesse a levar a cabo uma traição de quem ninguém se poderia recuperar. com ele havia sempre o fingimento de que lhes fazia um favor cavalheiresco. Que lhes alargava o mundo, que as protegia para as salvar de uma situação desagradável, embora as duas saibamos de que situação se tratava. E afinal o que fazia era aproveitar-se delas da maneira mais fácil que conhecia. Tu sabias. Tu viste e deixaste que acontecesse. Como se não tivesses responsabilidades senão para contigo própria.
Ruth baixou a mão que tremia demasiado para lhe ser útil. Guy errara, tinha de o admitir. Mas não tencionara fazê-lo, não preparara nada... nem pensara... Não, também não era um monstro. Simplesmente um dia ela estava lá e as vendas tinham caído dos olhos de Guy como era costume quando via alguém e queria e pensava que tinha de a ter porque, Ela é a tal, Ruth. E ela era sempre "a tal" para Guy que justiçava assim tudo o que fazia. Por isso Margaret tinha razão. Ruth pressentira o perigo.
- Ficaste a ver? - perguntou-lhe Margaret. Estava a olhar para o reflexo de Ruth no espelho, mas acabou por dar a volta para poder olhar Ruth de frente e tirar-lhe o batom das mãos. - Então foi assim? Tomaste parte nisso? Não ficaste na sombra com o teu bordado, e desta vez tomaste parte no drama. Ou talvez andasses a espreitá-los. Um Polônio de saias por trás das tapeçarias?
- Não - exclamou Ruth.
- Oh! Então não quiseste meter-te apesar do que ele fez.
- Não é verdade! - Tudo aquilo era insuportável. Todos os seus sofrimentos físicos, a morte do irmão, o assistir à destruição dos sonhos, o amor que tinha pelas muitas pessoas que agora estavam em conflito, ver como a roda da paixão de Guy não deixava de girar. Nem mesmo no fim. Nem mesmo depois de ter dito pela última vez, "Esta é que é a tal, Ruth." Porque não fora, mas ele tinha de dizer a si próprio que era, porque se não o fizesse teria de enfrentar aquilo que realmente era: um velho que tentara e não conseguira recuperar de um desgosto que em toda a vida nunca se permitira sentir. Não houvera esse luxo por causa do pedido, Prends soin de tá petite soeur, a sentença que se tornara a divisa do brasão de família que apenas existia no cérebro do seu irmão. Como lhe poderia pedir contas? Que exigências ou ameaças lhe poderia fazer?
Nenhuma. Apenas podia fazê-lo ver as coisas de modo razoável. Quando, não conseguia porque estava destinada a falhar no momento em que ele dizia uma vez mais, Ela é a tal, que era como se já não tivesse feito aquela mesma declaração três dezenas de vezes. Ela sabia então que teria de o deter por outro caminho, teria de seguir uma nova estrada que para ela seria um território desconhecido e assustador, mas teria de o percorrer.
Portanto, pelo menos aí, Margaret não tinha razão. Não representara o papel de Polônio, espreitando e escutando, para confirmar as suas suspeitas e receber ao mesmo tempo uma satisfação por interposta pessoa de uma coisa que nunca tivera. Soubera. Tentara chamar Guy à razão. Quando não dera resultado, agira.
E agora... Ficara com o rescaldo daquilo que fizera.
Ruth sabia que teria de o reparar fosse como fosse. Margaret queria fazer-lhe acreditar que resgatar a herança devida a Adrian do subterfúgio legal criado por Guy para afastar o jovem, seria uma forma apropriada de restituição. Mas Margaret apenas queria uma solução simples de um problema que levara anos a tomar forma. Como se, pensou Ruth, uma injecção de dinheiro nas veias de Adrian fosse alguma vez a resposta ao mal que havia muito o afligia.
Na estalagem Admirai de Saumarez, Ruth terminou o café e deixou na mesa o dinheiro necessário. Foi buscar o casaco e, com alguma dificuldade, abotoou-o e pôs o lenço. Lá fora, caía uma chuva miudinha, mas na direcção de França uma lista de céu luminoso prometia que, com o passar das horas, o dia haveria de melhorar. Ruth esperava que assim fosse. Viera para a cidade sem sombrinha.
Foi-lhe difícil subir a rampa da Berthelot Street. Gostaria de saber por quanto mais tempo o poderia fazer e quantos mais meses ou semanas teria, antes de se ver obrigada a meter-se na cama para a contagem final. Esperava que não fosse muito tempo.
Quase lá no alto, a New Street voltava à direita em direcção a New Court House. Dominic Forres tinha o seu escritório nas proximidades.
Ruth entrou e soube que o advogado acabara de chegar de algumas visitas matinais. Poderia recebê-la, se ela não se importasse de esperara cerca de quinze minutos. Tinha de fazer dois telefonemas importantes. Desejava um café?
Ruth recusou. Não se sentou, pois não tinha a certeza de poder levantar-se sem ajuda. Pegou num exemplar de Country Life e olhou para as fotografias sem realmente as ver.
O senhor Forrest veio buscá-la nos prometidos quinze minutos. Tinha um ar grave quando a chamou, o que a fez perguntar a si própria se ele não teria ficado a espreitar à porta do escritório, tentando avaliar o tempo que ela ainda agüentaria. Parecia a Ruth que era assim que grande parte do mundo a observava. Quanto mais fazia para parecer normal e pouco afectada pela doença, mais as pessoas a observavam, como se esperassem que a mentira fosse revelada.
Ruth sentou-se no escritório de Forrest, sabendo que pareceria estranho se continuasse de pé durante toda a reunião. O advogado pergun- tou se ela se importava que ele bebesse um café... Estava a pé havia muito tempo, pois começara o dia muito cedo, e precisava da ajuda da cafeína. Pelo menos não quereria uma fatia de gâche?
Ruth disse que não, que não precisava de nada, acabara de tomar café na estalagem. No entanto, esperou que o senhor Forrest tomasse o seu café e comesse a sua fatia de pão da ilha antes de lhe participar a razão da sua visita.
Falou ao advogado da sua confusão no que dizia respeito ao testamento de Guy. Fora testemunha dos testamentos anteriores conforme o senhor Forrest tinha conhecimento e fora para ela um choque saber que ele fizera alterações nos seus legados: nada para Anais Abbott e para os filhos, o museu da guerra esquecido, os Duffy ignorados. E ver menos dinheiro para os próprios filhos de Guy do que para aqueles dois... procurou as palavras e decidiu-se por protegidos locais... era uma situação que a deixara atônita.
Dominic Forrest acenou solenemente com a cabeça. Admitiu que também tinha perguntado a si próprio o que se passava, quando lhe tinham pedido que lesse o testamento diante de indivíduos que não eram os seus beneficiários. Era irregular - bom, nos dias que correm a leitura de um testamento durante uma reunião daquelas era um pouco irregular, não é verdade? -, mas pensou que talvez Ruth se quisesse rodear de amigos e entes queridos durante aquela provação. Via agora que a própria Ruth ignorava tudo em relação ao testamento final de Guy Brouard, o que explicava a estranheza da leitura formal.
- Perguntei a mim próprio por que razão a senhora não teria vindo com ele no dia em que assinou os documentos. Tinha vindo sempre. Pensei que talvez não se estivesse a sentir bem. Porque... - encolheu os ombros parecendo ao mesmo tempo solidário e pouco à-vontade.
Ele também sabe, pensou Ruth. Portanto, Guy também o saberia. Mas, como a maioria das pessoas, não tinha idéia do que dizer. Lamento muito que esteja a morrer parecia demasiado vulgar.
- Mas sabe, ele dizia-me sempre antes - disse Ruth. - Cada testamento. De todas as vezes. Estou a tentar perceber por que razão manteve secreta a sua versão final.
- Talvez pensasse que a iria perturbar - disse Forrest. - Talvez soubesse que não concordaria com as alterações; por retirar parte do dinheiro da família.
- Não, não pode ser isso - disse Ruth. - Os outros testamentos também o faziam.
- Mas não faziam tudo a meio. Nas versões anteriores os filhos herdavam mais do que os outros beneficiários. Talvez Guy pensasse que a senhora se pudesse irritar com isso. Sabia que perceberia imediatamente o que significavam os termos do seu testamento.
- Eu teria protestado - admitiu Ruth. - Mas isso não teria mudado as coisas. Os meus protestos nunca contavam para o Guy.
- Sim, mas isso foi antes... - Forrest fez um pequeno gesto com as mãos. Ruth pensou que se tratava do cancro.
Sim fazia sentido que o Guy soubesse que ela estava a morrer. Escutaria os desejos de uma irmã que não tivesse muito tempo de vida. E escutá-la significava deixar aos três filhos um legado que seria pelo menos igual - se não superior - ao que queria deixar aos dois adolescentes da ilha e era exactamente isso que Guy não queria fazer. Havia muito que as filhas nada representavam para ele; o filho fora sempre uma desilusão. Queria recordar-se das pessoas que lhe tinham oferecido o amor que merecia ser retribuído. Por isso, cooperara com as leis do direito sucessório da ilha e deixara aos filhos cinqüenta por cento daquilo que possuía, ficando livre para fazer o que lhe apetecesse com o resto.
Mas sem lhe dizer nada... Ruth sentia-se à deriva no espaço, um espaço povoado de tempestades, sem nada a que se agarrar. Guy mantivera-a na ignorância, Guy, o seu irmão e o seu rochedo. Em menos de vinte e quatro horas descobrira uma viagem à Califórnia, que não lhe fora mencionada e agora o recurso a um subterfúgio legal para castigar os filhos que o tinham desiludido e recompensar outros jovens.
- Ele estava perfeitamente decidido em relação a este testamento final - disse o senhor Forrest, como se quisesse tranqüilizá-la. - E o modo como foi escrito teria deixado aos filhos uma quantia substancial apesar daquilo que os outros beneficiários pudessem receber. Começou com dois milhões de libras há quase dez anos, como deve lembrar-se. Bem investidos poderiam ficar a ser uma considerável fortuna que fariam a felicidade de quem quer que herdasse parte dela.
Apesar de saber o que o irmão tinha feito a tanta gente, Ruth não pôde deixar de notar as palavras teria e poderia nos comentários do senhor Forrest. Pareceu-lhe estarem muito longe e que o espaço em que se tinham lançado se afastava cada vez mais do resto da humanidade.
- Devo saber mais alguma coisa, senhor Forrest? Dominic Forrest pareceu reflectir na questão.
- Se deve saber? Eu não o diria, mas por outro lado, tendo em conta os filhos do Guy e o modo como vão reagir... Penso que será sensato prepará-la.
- Para quê?
O advogado pegou num papel que tinha na secretária junto ao telefone.
- Tenho aqui um recado do contabilista forense. Lembra-se dos telefonemas que tive de fazer? Um foi exactamente para falar com ele.
- E então? - Ruth via a hesitação de Forrest enquanto este olhava para o papel, uma hesitação semelhante à do seu médico quando se preparava para lhe dar más notícias. Assim preveniu-se, embora aquilo a fizesse sentir uma imensa vontade de fugir da sala.
- Ruth, ele deixou muito pouco dinheiro. Menos de duzentas e cinqüenta mil libras. Normalmente seria uma quantia considerável. Mas se levarmos em conta que começou com dois milhões... era um homem de negócios inteligente, não havia outro como ele. Sabia quando, onde e como investir. Deveria haver muito mais do que há nas suas contas.
- O que aconteceu...
- Ao resto do dinheiro? - concluiu Forrest. - Não sei. Quando o contabilista forense apresentou o relatório, disse-lhe que deveria haver um erro qualquer. Ele vai voltar a ver tudo, mas diz que, na sua opinião, está tudo certo.
- Que significa isso?
- Parece que, há três meses, o Guy vendeu uma parte significativa das suas acções. Mais de meio milhão de libras nessa altura.
- Para depositar no banco? Talvez na sua poupança?
- Não está lá.
- Para fazer uma compra?
- Não há qualquer prova disso.
- Então o que foi?
- Não sei. Só há dez minutos descobri que o dinheiro não estava lá e só lhe posso dizer o que sobrou: duzentas e cinqüenta mil libras.
- Mas como seu advogado, o senhor tem de saber...
- Ruth, passei parte da manhã avisando os seus beneficiários que deveriam herdar uma quantia próxima das setecentas mil libras, talvez mais. Acredite que não sabia que o dinheiro tinha desaparecido.
- Poderá ter sido roubado?
- Não vejo como.
- Desviado no banco ou pelo corretor?
- Mas como?
- Poderá tê-lo dado a alguém?
- Sim. Neste momento o contabilista está à procura de pistas. A pessoa mais lógica para receber uma fortuna à socapa é o filho. Mas neste momento? - Encolheu os ombros. - Não sabemos.
- Se o Guy deu o dinheiro ao Adrian... - disse Ruth mais para si própria do que para o advogado -... ele não disse nada a ninguém. Ficaram ambos calados. E a mãe dele não sabe. Margaret, a mãe... - olhou para o advogado - não sabe de nada.
- Enquanto não descobrirmos mais nada, apenas poderemos concluir que todos receberão um legado muito mais reduzido do que estariam à espera - disse o senhor. Forrest. - E a senhora devia preparar-se para alguma animosidade.
- Reduzido? Pois. Não tinha pensado nisso.
- Então comece a pensar - disse-lhe o senhor Forrest. - No actual estado de coisas, os filhos do Guy herdam menos de sessenta mil libras cada um e os outros dois cerca de oitenta e sete mil libras, enquanto a Ruth se encontra numa propriedade e tem uma fortuna que vale milhões. Quando tudo isto se esclarecer, vão fazer uma enorme pressão sobre si para que faça justiça aos olhos de todos. Até descobrirmos tudo, sugiro que se mantenha firme em relação àquilo que sabemos serem os desejos do Guy sobre a sua fortuna.
- Pode ser que tenhamos mais coisas para descobrir - murmurou Ruth.
Forrest deixou cair as notas do contabilista forense sobre a secretária.
- Acredite-me, de certeza, temos mais coisas para descobrir.
Capítulo 16
Com O AUSCULTADOR ENCOSTADO AO OUVIDO, VALERIE DUFFY OUVIU O telefone tocar várias vezes. "Atende, atende, atende", murmurou, mas o toque continuava. Embora não quisesse desligar, foi por fim obrigada a fazê-lo. Momentos depois convenceu-se de que tinha marcado mal o número e recomeçou. A ligação fez-se, o toque recomeçou. O resultado foi o mesmo.
Lá fora, via a polícia continuar a busca. Tinham passado tudo a pente fino na casa grande e estavam agora nos anexos e nos jardins. Valerie calculou que, em breve, poderiam decidir-se a revistar a sua casa. Fazia parte de Lê Reposoir e, segundo o sargento encarregado, "Temos ordens para fazer uma busca minuciosa de tudo, minha senhora."
Não queria saber o que procuravam, mas fazia idéia. Um agente descera a escada com os medicamentos de Ruth num saco de provas e só depois de ter feito valer junto dele a importância crucial desses medicamentos para a saúde de Ruth, é que Valerie os tinha conseguido convencer a não levarem todos os comprimidos de dentro de casa. Certamente não precisariam de todos, argumentara. Miss Brouard tinha dores terríveis e, sem os medicamentos...
Dores? perguntou o agente. Então temos aqui analgésicos? E abanou o saco para acentuar a pergunta, como se fosse necessário.
Certamente. Bastar-lhes-ia lerem os rótulos onde estavam escritas as palavras "para as dores" que certamente teriam visto quando retiraram os medicamentos de dentro do armário.
"Temos as nossas instruções, minha senhora", foram as palavras que o agente usou como resposta. E com essa declaração Valerie partiu do princípio que tinham retirado todos os medicamentos qualquer que fosse a sua natureza.
Perguntou-lhes se podiam deixar parte dos comprimidos. Tirem uma amostra de cada frasco e deixem o resto, sugeriu. De certeza que o podem fazer para bem de Miss Brouard. Ela iria passar muito mal sem eles.
O agente concordou mas não ficou satisfeito. Quando Valerie o deixou para regressar ao seu trabalho na cozinha, sentiu os olhos dele na nuca e entendeu que se transformara num objecto de suspeita. Por isso não quis fazer o telefonema da casa grande. Dirigiu-se a sua casa e, em vez de fazer a chamada da cozinha onde não poderia ver o que se passava nos terrenos de Lê Reposoir, fê-la do quarto do primeiro andar. Sentou-se na cama, do lado de Kevin, mais perto da janela e, enquanto via os polícias separarem-se e dirigirem-se aos jardins e aos vários edifícios da propriedade, sentiu o cheiro da camisa de trabalho que o marido abandonara sobre o braço de uma cadeira.
Atende, pensou. Atende. Atende. O toque continuava.
Voltou as costas à janela e curvou-se sobre o telefone...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades