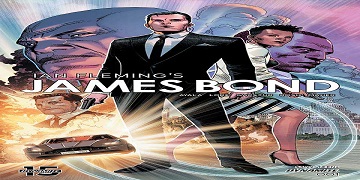
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.

No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”
CONTINUA
Há situações na vida do agente secreto que o levam a conviver com o mundo do alto luxo. Em certas missões precisa adotar o estilo de vida dos muito ricos; a “boa vida” se torna, em determinadas circunstâncias, um refúgio contra a recordação do perigo e do fantasma da morte; e existem ocasiões, como agora, em que lhe é dado gozar da generosa hospitalidade de um serviço secreto aliado.
Desde que o Stratocruiser da BOAC taxiou até o terminal internacional do aeroporto de Idlewild, James Bond recebeu tratamento de um rei.
Ao desembarcar do avião com os demais passageiros, já se resignara a enfrentar o famigerado purgatório da máquina da imigração e da alfândega americana. Pelo menos uma hora, previu, dentro das salas verde-claras, superaquecidas, com cheiro de ar viciado e suor azedo, de transgressão e medo que todos os postos de fronteira transmitem, medo das portas fechadas, com tabuletas de PRIVATIVO, que escondem gente sorrateira, arquivos, teletipos em tagarelice instantânea com o departamento de narcóticos, a contraespionagem, o Tesouro, o FBI.
Ao caminhar pelo asfalto no vento cortante de janeiro, anteviu seu próprio nome passando pela rede: BOND, JAMES, PASSAPORTE DIPLOMÁTICO BRITÂNICO 0094567. A pequena espera e as respostas chegando através dos vários teletipos: NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO. E depois, do FBI: POSITIVO ESPERE VERIFICAÇÃO. Uma rápida mensagem entre o FBI e a CIA, e a seguir: FBI A IDLEWILD: BOND OK OK, e o funcionário gentil à sua frente devolvendo o passaporte com um “espero que goste de sua estada, senhor Bond”.
Bond deu de ombros e seguiu os outros passageiros através do aramado em direção a uma porta com uma tabuleta: SERVIÇO DE SAÚDE DOS EUA.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/VIVA_E_DEIXE_MORRER.jpg
No seu caso, não passava de uma rotina entediante, é claro, mas não gostava da ideia de ver o seu dossiê nas mãos de uma potência estrangeira. O anonimato era a ferramenta principal de seu trabalho. Qualquer traço de sua verdadeira identidade registrado em algum arquivo comprometia sua eficiência e constituía, em última instância, uma ameaça à sua integridade. Ali na América, onde sabiam tudo sobre ele, sentia-se como um negro despido de sua sombra por algum feitiço. Uma parte vital dele mesmo se encontrava penhorada nas mãos de outros. De amigos, é claro, mas ainda assim...
“Senhor. Bond?”
Um sujeito simpático, de aspecto comum, vestido à paisana, surgiu da sombra do prédio do serviço de saúde.
“Meu nome é Halloran. Prazer em conhecê-lo!”
Trocaram um aperto de mãos.
“Espero que tenha feito boa viagem. Por favor, siga-me.”
Virou-se para o policial encarregado do andar.
“Tudo bem, sargento.”
“Tudo bem, sr. Halloran. Até breve.”
Os demais passageiros tinham entrado. Halloran virou à esquerda, afastando-se do prédio. Outro policial manteve aberto um pequeno portão na cerca alta da divisória.
“Até logo, sr. Halloran.”
“Até logo, obrigado.”
Um Buick preto esperava bem em frente, do lado de fora, com o motor suspirando baixinho. Entraram. As duas valises leves de Bond ficaram na frente, ao lado do motorista. Não sabia como haviam conseguido tirá-las tão rápido do monte de bagagem dos passageiros que ele vira, poucos minutos antes, quando se dirigia à alfândega.
“Está bem, Grady. Vamos.”
Bond se recostou confortavelmente quando a grande limusine arrancou, trocando as marchas automaticamente até chegar à mais alta.
Virou-se para Halloran.
“Olha, foi o maior tapete vermelho que já vi. Esperava levar pelo menos uma hora para passar pela imigração. Quem organizou isso tudo? Não estou acostumado a tratamentos VIP deste tipo. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação.”
“De nada, senhor Bond.” Halloran sorriu e ofereceu-lhe um cigarro de um maço recém-aberto de Luckies. “Queremos que se sinta bem. Se precisar de alguma coisa, basta dizer. O senhor tem bons amigos em Washington. Eu mesmo não sei por que está aqui, mas parece que as autoridades fazem questão de tratá-lo como um convidado especial do governo. Meu serviço é levá-lo ao seu hotel da maneira mais rápida e confortável possível, depois ceder o meu lugar a outro e ir embora. O senhor pode me dar o seu passaporte por um instante, por favor?”
Bond entregou-o. Halloran abriu uma pasta no assento ao seu lado, de onde tirou um carimbo metálico pesado. Virou as páginas do passaporte de Bond até chegar ao visto dos EUA, carimbou-o e rabiscou sua assinatura sobre o círculo azul-escuro do timbre do Departamento de Justiça, devolvendo-o. Em seguida tirou sua carteira grande, de onde sacou um envelope branco e recheado, que entregou a Bond.
“Há mil dólares aí, sr. Bond.” Levantou a mão quando Bond começou a falar. “É dinheiro comunista que apreendemos no arrastão do caso Schmidt-Kinaski. Usamos contra eles e pedimos a sua cooperação, empregando-o como quiser no seu trabalho atual. Disseram-me que uma recusa sua seria tida como um ato dos mais inamistosos. Por favor, não falemos mais nisso”, acrescentou, enquanto Bond continuava segurando o envelope, hesitante. “Devo dizer-lhe que a entrega deste dinheiro ao senhor conta com a aprovação do seu próprio chefe.”
Bond olhou-o atentamente, e então sorriu. Guardou o envelope na carteira.
“Está bem”, disse. “Obrigado. Tentarei gastá-lo da maneira mais belicosa possível. Que bom ter algum capital de trabalho. E é uma beleza saber que foi fornecido pela oposição.”
“Ótimo”, respondeu Halloran, “se me permite, vou fazer as anotações para o relatório que terei de entregar. Não devo me esquecer de mandar as cartas de agradecimento para a imigração, alfândega e assim por diante, pela sua cooperação. Rotina.”
“Vá lá”, disse Bond. Alegrou-se de poder ficar em silêncio, apreciando o seu primeiro olhar sobre a América do pós-guerra. Não seria perda de tempo readquirir a familiaridade com o idioma americano: os anúncios, os novos modelos de automóveis e os preços dos carros de segunda mão nas lojas de usados; a marcante estranheza das placas da estrada: LOMBADAS ACENTUADAS — CURVAS APERTADAS — SIGA ADIANTE — TRECHO ESCORREGADIO; as características dos motoristas; a quantidade de mulheres ao volante, com seus maridos docilmente no banco do carona; as roupas masculinas; os tipos de penteado das mulheres; os avisos da Defesa Civil: EM CASO DE ATAQUE INIMIGO — MANTENHAM-SE EM MOVIMENTO — EVITEM AS PONTES; a epidemia das antenas de televisão e o impacto da TV nos cartazes e nas vitrines; o helicóptero ocasional; as campanhas públicas de doações para o câncer e a paralisia infantil: A MARCHA DOS CENTAVOS — todas aquelas pequenas impressões fugidias, tão importantes para o seu trabalho quanto os sinais nas cascas das árvores e os arbustos quebrados para o caçador na floresta.
O motorista preferiu pegar a ponte de Triborough, passando por aquele vão de tirar o fôlego que desembocava no centro de Manhattan, vendo o belo panorama de Nova York se aproximar rápido, até se encontrarem no meio das buzinas, do cheiro de gasolina, das raízes fervilhantes da floresta de concreto armado.
Bond virou-se para o seu acompanhante.
“Detesto ser obrigado a dizer”, confessou, “mas este deve ser o maior alvo do mundo para uma bomba atômica.”
“Sem comparação”, concordou Halloran. “Fico muitas noites acordado só de pensar no que aconteceria.”
Estacionaram no melhor hotel de Nova York, o St. Regis, na esquina da Quinta Avenida com a 55th Street. Um sujeito melancólico de meia-idade, chapéu de feltro e casaco azul-escuro se adiantou atrás do porteiro uniformizado. Halloran apresentou-o na calçada.
“Senhor Bond, este é o Capitão Dexter.” Depois perguntou cerimoniosamente ao capitão: “Posso entregá-lo agora ao senhor?”
“Com certeza, com certeza. Mande apenas sua bagagem para o quarto 2.100. Cobertura. Vou na frente com o senhor Bond para ver se ele tem tudo de que precisa.”
Bond virou-se para agradecer e se despedir de Halloran. Quando este lhe deu as costas por um instante para falar alguma coisa sobre a bagagem com o porteiro, Bond ficou com uma visão livre da 55th Street. Seus olhos se estreitaram. Um sedan preto, Chevrolet, saiu abruptamente do meio-fio, obrigando um táxi pintado de xadrez a uma violenta freada. O sedã seguiu em frente, pegou o finalzinho do sinal verde e desapareceu pela Quinta Avenida, rumo ao norte.
Uma manobra ágil e arriscada. Mas o que deixou Bond espantado foi ver uma negra ao volante, uma negra bonita em um uniforme preto de motorista. Conseguiu ver o único passageiro de relance pela janela traseira — um enorme rosto preto acinzentado que se virou lentamente para ele, devolvendo o seu olhar, à medida que o carro acelerava para embicar na avenida.
Bond apertou a mão de Halloran. Dexter tocou seu cotovelo com impaciência.
“Vamos passar direto pelo saguão até os elevadores. São mais à direita. Por favor, mantenha o chapéu na cabeça, sr. Bond.”
Ao seguir Dexter escada acima, Bond calculou que já era provavelmente tarde demais para essas precauções. No mundo inteiro, dificilmente se via uma negra ao volante. No papel de motorista, então, era mais extraordinário ainda. No próprio Harlem, de onde certamente viera o carro, seria inconcebível.
E a figura gigantesca no banco traseiro? Aquele rosto negro acinzentado? Mister Big?
“Hmm”, disse Bond consigo mesmo, enquanto seguia atrás das costas esguias do Capitão Dexter elevador adentro.
Este diminuiu de velocidade ao chegar ao vigésimo primeiro andar.
“Temos uma pequena surpresa para o senhor”, disse o Capitão Dexter, sem demonstrar grande ânimo, julgou Bond.
Seguiram o corredor até o quarto do canto.
O vento gemia do lado de fora das janelas do corredor e Bond teve uma visão fugidia do topo de outros arranha-céus e, além, dos dedos rígidos das árvores do Central Park. Sentiu-se muito fora de contato com a terra e por um instante dominou-o uma estranha e aguda sensação de isolamento e vazio.
Dexter abriu a porta do nº 2.100 e fechou-a depois de entrarem. Estavam em um pequeno vestíbulo iluminado. Deixaram seus casacos e chapéus em uma cadeira e Dexter abriu a porta em frente para Bond.
Passaram para uma atraente sala de estar decorada em estilo “império” da Terceira Avenida — poltronas confortáveis e um largo sofá de seda amarelo-claro; uma cópia razoável de um Aubusson no assoalho; teto e paredes cinza-claro; um console francês com garrafas, copos, um balde de gelo cromado; e uma grande janela que deixava entrar o sol de inverno, empinado em um céu claro da Suíça. Aquecimento central no limite do tolerável.
A porta de comunicação com o quarto se abriu.
“Arrumei as flores ao lado de sua cama. Faz parte do ‘serviço com um sorriso’ da CIA.” O homem esguio e alto se adiantou, com um largo sorriso e a mão estendida, até onde estava Bond, imóvel de espanto.
“Felix Leiter! Que diabo está fazendo aqui?” Bond agarrou e apertou sua mão calorosamente. “Aliás, que diabo está fazendo no meu quarto? Meu Deus, que bom ver você! Por que não está em Paris? Não me diga que o indicaram para esta missão?”
Leiter estudou o inglês afetuosamente.
“Pois você acertou. Foi exatamente o que fizeram. Que alívio! Pelo menos para mim, é. A CIA achou que funcionamos bem em conjunto no caso do Cassino,1 por isso me tirou da Inteligência Conjunta em Paris, me fez passar pelas instruções em Washington, e aqui estou eu. Sou uma espécie de elemento de ligação entre a CIA e nossos amigos do FBI.” Fez um gesto em direção ao Capitão Dexter, que observava toda aquela exuberância antiprofissional sem grande entusiasmo. “O caso é deles, claro, pelo menos o lado americano, mas, como sabe, existem vários problemas no exterior que são do domínio da CIA, por isso vamos trabalhar em conjunto. Você está aqui para cobrir o lado jamaicano para os ingleses, e agora a equipe está completa. O que acha? Sente-se e vamos tomar um drinque. Pedi o almoço assim que soube que você estava lá embaixo. Deve estar chegando.”
Leiter foi até o console e começou a preparar um martíni.
“Puxa, que surpresa”, falou Bond. “É óbvio que o velho demônio do M nunca me contou nada. Só me transmite os fatos crus. Jamais dá qualquer boa notícia. Talvez ache que assim pode influenciar a decisão da gente na hora de aceitar ou não uma tarefa. De qualquer maneira, que coisa boa.”
De repente Bond notou o silêncio do Capitão Dexter. Virou-se para ele.
“Estou muito contente em servir sob as suas ordens, capitão”, disse, diplomaticamente. “Pelo que percebo este caso está dividido em dois. A primeira parte se passa totalmente em território americano. Na sua jurisdição. Em seguida se desdobra até o Caribe, na Jamaica. E fora das águas territoriais americanas, a responsabilidade é minha. Felix deve fazer a ligação entre as duas metades, no interesse do seu governo. Deverei me reportar a Londres, através da CIA, enquanto estiver aqui, e diretamente a Londres, mantendo a CIA informada, quando for para o Caribe. É assim que o senhor vê a coisa?”
Dexter deu um sorriso rarefeito. “Praticamente é isso, senhor Bond. O senhor Hoover mandou que eu lhe transmitisse a satisfação dele com a sua presença. Como convidado nosso”, acrescentou. “Naturalmente não nos envolvemos com a parte britânica deste caso, e estamos satisfeitos que a CIA fique encarregada de se entrosar com o senhor e sua gente em Londres. Acho que tudo correrá bem. À nossa sorte”, e ele ergueu o coquetel que Leiter pusera na sua mão.
Beberam com prazer o drinque gelado e forte, Leiter com uma expressão interrogativa no seu rosto de falcão.
Bateram na porta. Leiter abriu-a, deixando entrar o mensageiro com as valises de Bond. Chegaram a seguir dois garçons empurrando carrinhos abarrotados de travessas cobertas, talheres e guardanapos brancos como neve, que passaram a arrumar na mesa desmontável.
“Caranguejos de casco mole com sauce tartare, hambúrgueres ao ponto, grelhados na brasa, batatas fritas, brócolis, salada mista com sauce rémoulade, sorvete com molho de caramelo amanteigado e o melhor Liebfraumilch que se pode obter na América. Está bem?”
“Parece ótimo”, disse Bond, fazendo uma ressalva mental sobre o caramelo amanteigado derretido.
Sentaram-se e comeram com apetite cada prato delicioso do que melhor havia na cozinha americana.
Falaram pouco, e foi só depois do café e de os garçons terem recolhido os pratos que o Capitão Dexter tirou o charuto caro da boca e deu um pigarro decidido.
“Senhor Bond”, falou, “poderia agora nos contar o que sabe deste caso?”
Bond abriu um maço fechado de Chesterfield King Size com a unha do polegar e, enquanto se acomodava na poltrona confortável da sala luxuosa e aquecida, sua mente recuou duas semanas até o dia amargo e frio do início de janeiro, quando deixara seu apartamento em Chelsea, no meio do triste lusco-fusco do nevoeiro londrino.
1 Este caso terrível referente ao jogo foi descrito pelo autor em Cassino Royale.
2.
ENTREVISTA COM M
O Bentley conversível cinza, modelo 1933, de 4,5 litros com o supercompressor Amherst-Villiers, havia sido trazido alguns minutos antes da garagem onde ficava guardado, e o motor pegara de imediato. Ele acendera as duas lanternas de neblina e rodara com cuidado pela King’s Road e depois pela Sloane Street, até entrar em Hyde Park.
O chefe de gabinete de M telefonara à meia-noite para dizer que M queria ver Bond às nove horas da manhã seguinte. “Uma hora meio cedo do dia”, desculpara-se, “mas parece que ele deseja ver alguma ação. Há semanas que anda meio meditativo. Acho que finalmente se decidiu.”
“Há algum indício que você possa me dar por telefone?”
“A de Alpha e C de Charlie”, disse o chefe de gabinete, e desligou.
Era um indício de que o caso se referia às estações A e C, setores do serviço secreto que se ocupavam respectivamente dos Estados Unidos e do Caribe. Bond trabalhara algum tempo durante a guerra na estação A, mas pouco conhecia a estação C e seus problemas.
Enquanto avançava devagar por Hyde Park, colado ao meio-fio, com o lento ronco de seu escape de cinco centímetros a lhe fazer companhia, sentiu-se animado com a perspectiva de sua entrevista com M, esse homem notável que era então, e é ainda, chefe do serviço secreto. Não fitava seus olhos frios e astuciosos desde o fim do verão. Naquela ocasião M estava satisfeito.
“Tire uma licença”, dissera. “Uma licença grande. Depois faça um transplante de pele nas costas dessa mão. ‘Q’ lhe indicará o sujeito mais recomendado e marcará o dia. Não fica bem você andar por aí com essa logomarca russa. Verei se consigo arranjar um bom alvo para você, depois de curado. Boa sorte.”
Dera um jeito indolor, porém lento, na mão. As cicatrizes finas, a letra russa singular para SCH, a letra inicial de Spion (espião) haviam sido removidas. E, ao pensar no homem que as recortara com o estilete, Bond apertara o volante com força.
O que estava acontecendo com essa organização brilhante, que tinha como agente o sujeito do estilete, a organização soviética de vingança, SMERSH, contração de Smiert Spionam — Morte aos espiões? Ainda era tão poderosa e eficiente? Quem a controlava agora que Beria estava morto? Depois do caso importante em que se envolvera em Royale-les-Eaux, Bond jurara se vingar. Dissera-o a M na última entrevista. Este encontro com M iria lançá-lo no caminho da vingança?
Os olhos de Bond se estreitaram ao fitar a penumbra de Regent’s Park e, à luz do painel, seu semblante era duro e cruel.
Estacionou na ruela atrás do prédio alto e sombrio, entregou as chaves a um funcionário à paisana do “clube” e deu a volta até a entrada principal. Subiu de elevador até o último andar e desceu o corredor forrado de um grosso tapete que conhecia tão bem, até a porta ao lado da de M. O chefe de gabinete estava esperando por ele e falou com M imediatamente no interfone.
“007 está aqui, senhor.”
“Mande-o entrar.”
A desejável srta. Moneypenny, a secretária todo-poderosa de M, lhe deu um sorriso de encorajamento quando ele entrou pela porta dupla. A luz verde se acendeu imediatamente, bem em cima da parede da sala que ele acabara de deixar, indicando que M não deveria ser perturbado enquanto estivesse acesa.
Uma lâmpada de leitura com um abajur de vidro verde lançava uma mancha luminosa sobre o tampo de couro vermelho da escrivaninha larga. O resto da sala estava imerso na escuridão do nevoeiro do lado de fora das janelas.
“Bom dia, 007. Vamos dar uma olhada nessa mão. O serviço não foi malfeito. De onde tiraram a pele?”
“Da parte de cima do antebraço.”
“Hmm... Vão nascer cabelos grossos demais. Tortos também. No entanto, não há como evitar. Parece que ficou bom, por enquanto. Sente-se.”
Bond deu a volta até a única poltrona que ficava de frente para M, na escrivaninha. Os olhos cinzentos olharam para ele, e através dele.
“Descansou bem?”
“Sim, obrigado.”
“Já viu uma dessas?” M tirou abruptamente algo do bolso do colete. Jogou-o para Bond por cima da escrivaninha. Caiu com um tilintar em cima do couro vermelho e lá ficou, brilhando intensamente, uma moeda de ouro de dois centímetros e meio de diâmetro, forjada a martelo.
Bond pegou-a, virou-a, pesou-a na mão.
“Não, senhor. Vale umas cinco libras, talvez.”
“Quinze para um colecionador. É uma Rose Noble de Eduardo IV.”
M enfiou a mão de novo no colete e atirou mais umas moedas de ouro magníficas em cima da mesa, diante de Bond. Ao fazê-lo, olhava-as, identificando cada uma.
“Excelente, espanhol, Fernando e Isabela, 1510; Ecu au Soleil, francesa, Carlos IX; Double Ecu d’or, francesa, Henrique IV, 1600; Ducat Duplo, espanhola, Felipe II, 1560; Ryder, holandesa, Carlos d’Egmond, 1538; Quadruple, Genoa, 1617; Double Louis à la mèche courte, francesa, Luís XIV, 1644. Valem muito dinheiro derretidas. Muito mais para os colecionadores, dez a vinte libras cada uma. Notou algo em comum a todas elas?
Bond refletiu. “Não, senhor.”
“Todas cunhadas antes de 1650. O pirata Morgan, o Sanguinário, era o governador e comandante em chefe da Jamaica, de 1675 a 1688. A moeda inglesa é o trunfo na manga. Provavelmente foi enviada para pagar a guarnição da Jamaica. Se não fosse por isso e pelas datas, essas moedas poderiam ser oriundas de qualquer tesouro acumulado pelos grandes piratas — L’Ollonais, Pierre Le Grand, Sharp, Sawkins, Barba Negra. Mas considerando estas circunstâncias, tanto Spinks quanto o Museu Britânico concordam que elas fazem certamente parte do tesouro de Morgan, o Sanguinário.”
M fez uma pausa para encher e acender o cachimbo. Não sugeriu que Bond fumasse e este não pensaria em fazê-lo sem licença.
“E deve ser o diabo de um tesouro. Até agora milhares destas moedas e outras semelhantes apareceram nos Estados Unidos nos últimos meses. E se o departamento especial do Tesouro e o FBI rastrearam mil, quantas mais não devem ter sido derretidas e vendidas para coleções particulares? E elas não param de aparecer, nos bancos, nas mãos dos comerciantes de ouro e prata maciços, em lojas de curiosidades, mas na maioria em lojas de penhores, claro. O FBI está em um dilema. Se as colocarem nos avisos policiais de objetos roubados, a fonte irá secar. Serão derretidas, convertidas em barras de ouro e irão diretamente para o mercado negro. O valor de raridade das moedas seria sacrificado, porém o ouro não deixaria vestígios na ilegalidade. Mas, do modo como acontece, há alguém utilizando os negros — porteiros, atendentes de vagões-dormitórios, motoristas de caminhões — para espalhar bem as moedas pelos Estados Unidos. Gente inocente mesmo. Eis um caso típico.” M abriu uma pasta marrom com a estrela vermelha que significava “altamente confidencial” e escolheu uma única folha de papel. Quando a ergueu, Bond pôde ver pelo reverso o cabeçalho gravado: “Departamento de Justiça. Federal Bureau of Investigations”. M leu o conteúdo do documento:
“Smith, 35, negro, membro da associação de porteiros dos vagões-dormitórios, residente em 90b West 126th Street, cidade de Nova York.” (M levantou os olhos: “Harlem”, disse.) “O indivíduo foi identificado por Arthur Fein, da Fein Jewels Inc., 870 Lenox Avenue, como tendo lhe oferecido para vender quatro moedas de ouro dos séculos dezesseis e dezessete (detalhes anexos). Fein ofereceu cem dólares, que foram aceitos. Em interrogatório posterior, Smith disse que elas lhe foram vendidas no Seventh Heaven Bar-B-Q (famoso bar do Harlem), a vinte dólares cada uma, por um negro que ele nunca vira antes. O vendedor disse que valiam cinquenta dólares cada uma, na Tiffany’s, mas que ele, o vendedor, precisava de dinheiro naquele instante e a Tiffany’s era demasiado longe. Smith comprou uma por vinte dólares e, depois de descobrir que uma loja de penhores da vizinhança oferecia vinte e cinco dólares por ela, voltou ao bar e comprou as três restantes por sessenta dólares. Na manhã seguinte levou-as à Fein’s. O indivíduo tem ficha limpa.”
M pôs a folha de volta na pasta marrom.
“Isso é típico”, declarou. “O FBI já chegou várias vezes ao elo seguinte, o intermediário que as comprou um pouco mais barato, e descobriu que ele comprara um punhado, em determinado caso, cem, de outro indivíduo que presumivelmente as comprara ainda mais barato. Todas essas transações maiores ocorreram no Harlem ou na Flórida. O próximo elo é sempre um negro desconhecido, sempre um sujeito de colarinho branco, próspero, educado, que disse que elas eram de um tesouro, o tesouro de Barba Negra.
“Esta história de Barba Negra se sustentaria diante da maioria das investigações”, prosseguiu M, “porque se acredita que parte de seu butim foi desenterrado por volta do dia de Natal de 1928, em um lugar chamado Plum Point. É um braço estreito de terra em Beaufort County, na Carolina do Norte, onde um córrego chamado Bath Creek desemboca no rio Pamlico. Não creio que eu seja um perito neste assunto”, sorriu, “é possível ler sobre tudo isso no dossiê. Então, em tese, é bem razoável que esses caçadores de tesouro sortudos tenham escondido o butim até que todo mundo se esquecesse da história e, em seguida, passaram a lançá-lo rapidamente no mercado. Ou então, podem tê-lo vendido como um todo, na época, ou depois, a um comprador que está simplesmente resolvido a transformá-lo em dinheiro vivo. De qualquer maneira, a fachada é bastante boa, salvo por dois motivos.”
M fez uma pausa e acendeu o cachimbo de novo.
“Primeiro, o Barba Negra agia entre 1690 e 1710 e não é provável que nenhuma de suas moedas fosse cunhada antes de 1650. E também, como eu disse antes, é muito improvável que seu tesouro tivesse Rose Nobles de Eduardo IV, já que não consta nenhum registro da captura de qualquer navio do tesouro inglês a caminho da Jamaica. A Irmandade da Costa não o enfrentaria. Sua escolta era demasiadamente forte. Havia vítimas muito melhores para aqueles que na época navegavam ‘sob a contabilidade da pirataria’, como eles a chamavam.
“Segundo”, M olhou para o teto e de volta a Bond, “sei onde está o tesouro. Pelo menos, tenho bastante certeza. E não é na América. Está na Jamaica, pertence a Morgan, o Sanguinário, e acho que é um dos tesouros ocultos mais valiosos da história.”
“Deus do céu”, disse Bond. “Como... onde é que entramos nisso?”
M levantou a mão. “Encontrará todos os detalhes aqui”, e abaixou a mão sobre a pasta marrom. “Resumidamente, a Estação C está interessada em um iate a diesel, o Secatur, que vem navegando a partir de uma pequena ilha na costa norte da Jamaica, passando por Florida Keys, entrando no Golfo do México, até um lugar chamado St. Petersburg. Uma espécie de estância turística, perto de Tampa, na costa oeste da Flórida. Com a ajuda do FBI rastreamos o dono do barco e da ilha, que pertencem a um sujeito chamado Mr. Big, um gângster negro. Mora no Harlem. Já ouviu falar?”
“Não”, respondeu Bond.
“E, fato curioso”, o tom de voz de M tornou-se mais baixo e mais suave, “uma nota de vinte dólares que um desses negros ocasionais usara para comprar uma moeda de ouro, e cuja numeração ele anotara para a loteria jamaicana, foi fornecida por um dos lugares-tenentes de Mr. Big. E paga”, M apontou o cabo do cachimbo na direção de Bond, “segundo informação recebida, a um agente duplo do FBI, membro do Partido Comunista.”
Bond deu um ligeiro assobio.
“Em resumo”, prosseguiu M, “desconfiamos de que este tesouro jamaicano esteja sendo usado para financiar o sistema de espionagem soviético, ou uma parte importante dele, na América. E nossa desconfiança se transforma em certeza quando eu lhe disser quem é este Mr. Big.”
Bond ficou à espera, com os olhos fixos em M.
“Mr. Big”, disse M, sopesando as palavras, “é provavelmente o criminoso negro mais poderoso do mundo. É”, enumerou com minúcia, “o chefe da Viúva Negra, culto vodu que acredita que ele seja o próprio Baron Samedi. Descobrirá isso tudo aqui”, bateu na pasta, “vai te dar um medo dos diabos. Também é agente soviético. E finalmente, algo que lhe interessará sobremaneira, membro conhecido da SMERSH.”
“Sim”, disse Bond, lentamente. “Agora compreendo.”
“Um caso e tanto”, comentou M, dando-lhe um olhar incisivo. “E um sujeito e tanto, esse Mr. Big.”
“Acho que nunca ouvi falar de um grande criminoso negro”, disse Bond. “Chineses, é claro, os sujeitos por trás do tráfico de ópio. Já houve figurões japoneses, em grande parte no ramo das pérolas e das drogas. Há muitos negros metidos com ouro e diamantes na África, mas sempre em pequena escala. Não parecem feitos para altos negócios. São caras bastante ciosos da lei, acho, a não ser quando bebem demais.”
“Nosso homem é uma exceção”, disse M. “Não é negro puro. Nasceu no Haiti. Tem boa quantidade de sangue francês. Treinado em Moscou, também, como verá na ficha. As raças negras estão começando a produzir gênios em todas as profissões — cientistas, médicos, escritores. Já era tempo de produzirem um grande criminoso. Afinal de contas, existem 250 milhões de negros no mundo. Quase um terço da população branca. Coragem, habilidade e inteligência não lhes faltam. Agora Moscou ensinou a técnica a um deles.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse Bond. Em seguida, acrescentou com brandura: “Gostaria de conhecer qualquer membro da SMERSH.”
“Está bem, então, Bond. Pode levá-la.” M entregou-lhe a grossa pasta marrom. “Converse com Plender e Damon. Esteja pronto para começar em uma semana. É um serviço conjunto com a CIA e o FBI. Pelo amor de Deus, não pise nos calos do FBI. São muito dolorosos. Boa sorte.”
Bond fora direto ao Comandante Damon, chefe da Estação A, um canadense alerta que controlava a ligação com a CIA, o serviço secreto americano.
Damon levantou os olhos, de onde estava na sua mesa. “Estou vendo que você aceitou”, disse, olhando a pasta. “Achei que fosse aceitar. Sente-se”, falou, fazendo um gesto em direção a uma poltrona perto do aquecedor elétrico. “Depois que você ler tudo isso, preencherei as lacunas.”
3.
UM CARTÃO DE VISITAS
Agora já tinham se passado dez dias e a conversa com Dexter e Leiter não rendera muito, refletiu Bond ao acordar lenta e voluptuosamente no seu quarto do St. Regis, na manhã seguinte à sua chegada a Nova York.
Dexter possuía muita informação detalhada sobre Mr. Big, mas nada que lançasse uma luz nova sobre o caso. Mr. Big tinha quarenta e cinco anos, nasceu no Haiti, era meio negro, meio francês. Por causa das iniciais de seu nome extravagante, Buonaparte Ignace Gallia, e da sua enorme altura e compleição, veio a ser chamado, ainda jovem, “Big Boy”, ou apenas “Big”. Depois passou a “The Big Man” ou “Mr. Big”, e seu verdadeiro nome resta apenas no registro paroquial do Haiti e no seu dossiê no FBI. Não tinha vícios conhecidos, salvo as mulheres, que consumia às bateladas. Não fumava nem bebia, e seu único calcanhar de aquiles parecia ser uma doença crônica cardíaca que, nos últimos anos, lhe imprimira um tom acinzentado à pele.
Big Boy fora iniciado no vodu quando criança, ganhou a vida como motorista de caminhão em Port-au-Prince, em seguida emigrou para a América, quando trabalhou com sucesso na equipe de sequestros da gangue de Legs Diamond. No final da Proibição, mudara-se para o Harlem e comprara a metade de uma pequena boate e uma série de prostitutas negras. Seu sócio foi encontrado cimentado dentro de um barril no rio Harlem, em 1938, e Mr. Big tornou-se automaticamente o único dono do negócio. Foi alistado em 1943 e, graças a seu francês excelente, chamou a atenção do Bureau de Serviços Estratégicos, o serviço secreto americano durante a época da guerra, que o treinou com grande cuidado e o mandou para Marselha, como agente contra os colaboracionistas de Pétain. Misturou-se com facilidade aos estivadores negros africanos, fazendo um bom trabalho, fornecendo informações boas e precisas sobre operações navais. Trabalhou intimamente com um espião soviético que fazia um trabalho semelhante para os russos. Depois da guerra foi desmobilizado na França (e condecorado pelos americanos e franceses) e, em seguida, sumiu durante cinco anos, provavelmente em Moscou. Voltou ao Harlem em 1950 e logo atraiu a atenção do FBI como suspeito de ser agente soviético. Mas jamais se incriminou ou caiu em qualquer armadilha organizada pelo FBI. Comprou três boates e uma cadeia lucrativa de bordéis no Harlem. Parecia ter fundos ilimitados e pagava a seus lugares-tenentes uma base de vinte mil dólares por ano. Assim sendo, e como resultado de uma seleção que funcionava por meio de assassinatos, era não só bem, como habilmente servido. Soube-se que criou um templo oculto de vodu no Harlem, fazendo uma ligação com a matriz do culto no Haiti. Começou a correr o boato de que ele era o zumbi, ou o cadáver ambulante, do próprio Baron Samedi, o temido Príncipe das Trevas, história fomentada por ele até que fosse aceita por todas as camadas mais humildes do universo negro. Como resultado, o temor que provocava era genuíno, realçado pelas mortes imediatas e muitas vezes misteriosas de quaisquer pessoas que o deixassem zangado ou desobedecessem a suas ordens.
Bond interrogara minuciosamente Dexter e Leiter sobre as provas que ligassem o negro gigantesco à SMERSH. Pareciam certamente conclusivas.
Em 1951, através de uma promessa de um milhão de dólares em ouro e um refúgio seguro depois de seis meses de trabalho, o FBI finalmente persuadira um conhecido agente da MWD a se tornar agente duplo. Tudo correu muito bem durante um mês, sendo que os resultados ultrapassaram as expectativas mais elevadas. O espião russo tinha o cargo de perito em economia na delegação soviética nas Nações Unidas. Em um sábado, saíra para pegar o metrô até a Pennsylvania Station, a caminho da casa de fim de semana dos soviéticos, em Glen Cove, a antiga propriedade de Morgan, em Long Island.
Um negro enorme, identificado indiscutivelmente pelas fotografias como Big Man, permanecera ao seu lado na plataforma quando o trem vinha chegando e fora visto caminhando para a saída, antes mesmo que o primeiro vagão parasse em cima dos vestígios sangrentos do russo. Não fora visto empurrando o sujeito, algo que não teria sido difícil fazer no meio da multidão. Os circunstantes disseram que não poderia ter sido suicídio. Ele deu um grito medonho ao cair e estava (o toque melancólico) com uma sacola de tacos de golfe no ombro. Big Man tinha, claro, um álibi tão sólido quanto o Fort Knox. Fora preso e interrogado, mas solto rapidamente pelo melhor advogado do Harlem.
Essa evidência já bastava para Bond. Era o típico membro da SMERSH, treinado sob medida. Uma verdadeira arma mortífera e aterrorizante. E que belo esquema para lidar com os peixes pequenos do submundo negro e dirigir com grande eficiência uma rede de informações negra — o medo do vodu e do sobrenatural, ainda gravado primordialmente em seus subconscientes! E que jogada genial começar pela vigilância através de todo o sistema de transportes da América, os trens, condutores, caminhoneiros, estivadores! Ter à disposição uma horda de homens-chave que não desconfiavam de que suas respostas eram em função das perguntas feitas pela Rússia. Profissionais de segunda que pensavam, se chegassem a pensar, que a informação sobre a relação de fretes estava sendo vendida a empresas de transporte rivais.
Não era a primeira vez que Bond sentia um calafrio na espinha diante da eficiência fria e brilhante da máquina soviética, e diante do temor da morte e da tortura, responsável por seu funcionamento, e do seu motor supremo, a SMERSH — SMERSH, que era como o próprio sussurro da morte.
Agora, no quarto do St. Regis, Bond tirou esses pensamentos da cabeça e pulou impacientemente da cama. Ora, eis que havia um deles à mão, pronto para ser esmagado. Em Royale, ele tivera apenas uma visão fugidia deste sujeito. Desta vez seria face a face. Big Man? Então que fosse uma matança gigantesca, homérica.
Bond foi até a janela e puxou as cortinas. Seu quarto dava para o norte, em direção ao Harlem. Bond contemplou um instante aquele horizonte, onde outro homem estaria dormindo no seu quarto, ou talvez acordado e possivelmente pensando nele, Bond, que fora visto junto com Dexter na escadaria do hotel. Olhou para o belo dia e sorriu. E homem algum, nem mesmo Mr. Big, teria gostado da expressão no seu rosto.
Bond sacudiu os ombros e foi rápido ao telefone.
“Hotel St. Regis. Bom dia”, atendeu a voz.
“Serviço de quarto, por favor”, disse Bond. “Serviço de quarto? Quero pedir o café da manhã. Um copo grande de suco de laranja, três ovos ligeiramente mexidos, com bacon, um expresso duplo com creme. Torradas. Geleia de laranja. Compreendeu?”
O pedido lhe foi repetido. Bond foi até o vestíbulo e pegou os dois quilos e meio de jornais que haviam sido colocados ali em silêncio, de manhã cedinho. Havia também uma pilha de embrulhos na mesa do vestíbulo, a que Bond não deu atenção.
Na tarde anterior havia sido obrigado a se submeter a certo grau de americanização nas mãos do FBI. Viera um alfaiate tomar suas medidas para dois ternos de lã penteada azul-escura, levíssima (Bond recusara com firmeza qualquer coisa mais berrante), e um funcionário de uma loja de artigos masculinos trouxera camisas brancas e frescas de náilon, com longos colarinhos pontudos. Fora obrigado a aceitar meia dúzia de gravatas largas com padrões extravagantes, meias escuras com um padrão de pequenos relógios, dois ou três lenços festivos para o bolso do paletó, cuecas e camisetas de náilon, um sobretudo leve e confortável de pelo de camelo, com ombreiras grandes demais, um chapéu Fedora simples e cinzento, com uma banda fina preta, e dois pares de mocassins pretos feitos à mão, muito confortáveis.
Também comprou um prendedor de gravata em forma de chicote, uma carteira de couro de crocodilo da Mark Cross, um isqueiro Zippo, simples, um nécessaire de plástico, contendo barbeador, escova de dentes, escova de cabelo, um par de óculos com armação de tartaruga e lentes sem grau, vários outros apetrechos e, finalmente, uma valise leve Hartmann “Skymate” para carregar isso tudo.
Deixaram que ficasse com sua própria Beretta .25, com a coronha anatômica e o coldre de camurça, mas todos os seus outros pertences deveriam ser reunidos ao meio-dia para serem despachados para a Jamaica, onde ficariam à sua espera.
Deram-lhe um corte de cabelo militar e disseram que ele era um bostoniano da Nova Inglaterra, tirando férias de seu trabalho na sucursal londrina da Guaranty Trust Company. Informaram-lhe que devia se lembrar dos termos americanos a serem usados em substituição aos britânicos, e (da parte de Leiter) para não empregar palavras de mais de duas sílabas. (“Dá para a gente se virar em qualquer conversa aqui”, aconselhara Leiter, “apenas com ‘ok’, ‘certo’ e ‘bem’”.) Algumas palavras demasiadamente britânicas deviam ser evitadas, mas Bond disse que elas não faziam parte de seu vocabulário.
Bond olhou desconsolado para a pilha de pacotes que continham sua nova identidade, despiu seu pijama pela última vez (“a gente geralmente dorme pelado na América, senhor Bond”) e tomou uma chuveirada fria de rachar. Ao se barbear, examinou o rosto no espelho. A grossa mecha de cabelos em forma de vírgula sobre sua sobrancelha esquerda perdera grande parte de sua cauda, as têmporas estavam tosadas rentes. Não se podia fazer nada quanto à fina cicatriz que riscava sua face direita, embora o FBI tentasse aplicar uma maquiagem com corretor de sinais, ou quanto à frieza e ao indício de raiva nos olhos cinza-azulados, mas a mistura racial da América não deixava de estar presente nos cabelos pretos e nas maçãs do rosto salientes, e Bond achou que talvez desse para enganar — possivelmente, com exceção das mulheres.
Nu, Bond foi até o vestíbulo e abriu alguns pacotes. Depois, vestindo uma camisa branca e calças azul-escuras, trouxe uma cadeira até a escrivaninha perto da janela e abriu The Traveller’s Tree, de Patrick Leigh Fermor.
Este livro extraordinário lhe fora recomendado por M.
“É de um sujeito que sabe o que está falando”, dissera, “e não se esqueça de que escreve sobre algo que acontecia no Haiti em 1950. Não se trata dessa magia negra medieval. É algo posto em prática cotidianamente.”
Bond estava no meio da parte sobre o Haiti.
O próximo passo [leu ele] é a invocação dos habitantes maléficos do panteão do vodu — como Don Pedro, Kitta, Mondongue, Bakalu e Zandor — com fins malévolos, para a prática (de origem congolesa) de transformar as pessoas em zumbis, de modo a empregá-las como escravas, para fazer feitiços e destruir os inimigos. Os efeitos dos feitiços, cuja forma exterior pode ser a imagem da pretensa vítima, um caixão em miniatura ou uma rã, são muitas vezes reforçados pelo uso simultâneo de veneno. O Padre Cosme relata a superstição de que determinados homens, donos de certos poderes, se transformam em serpentes; dos “Loups-Garoups”, que voam à noite sob a forma de vampiros para sugar o sangue das crianças; de homens que reduzem seu tamanho a uma proporção ínfima e andam rolando dentro de cabaças. O que parecia mais sinistro era a quantidade de sociedades secretas místico-criminais de feitiçaria, com nomes que pareciam pesadelos — “les Mackanda”, batizada assim em virtude da campanha de envenenamento do herói haitiano; “les Zobop”, que também eram ladrões; os “Mazanxa”, os “Caporelata” e os “Vlinbindingue”. Eram estes, dizia ele, os grupos misteriosos cujos deuses exigiam — em vez do galo, do pombo, do cabrito, do cão ou do porco — o sacrifício de um “cabrit sans cornes”. Este cabrito sem chifres significava, é claro, o ser humano [...]
Bond virava as páginas, e os trechos ocasionais se combinavam para formar na sua mente um quadro extraordinário de uma religião obscura e de seus terríveis rituais.
[...] Lentamente, do tumulto, da fumaça e do barulho ensurdecedor dos tambores que, durante algum tempo, expulsam da mente tudo o que não seja a sua batida, começam a surgir os detalhes...
[...] os dançarinos arrastavam os pés muito lentamente para a frente e para trás, e a cada passo seus queixos se erguiam abruptamente e suas nádegas se contraíam para cima, enquanto os ombros tremiam em compasso duplo. Tinham os olhos semicerrados e suas bocas proferiam incessantemente as mesmas palavras incompreensíveis, o mesmo pequeno verso cantado, que era repetido, após cada estribilho, meia oitava abaixo. A uma mudança na batida dos tambores, esticavam os corpos e, jogando os braços para cima e com os olhos revirados, giravam e giravam sem parar.
[...] Na beira da multidão chegamos a uma pequena palhoça, pouco maior que uma casa de cachorro: “Le caye Zombi”. A luz de uma tocha revelou uma cruz preta lá dentro, junto com trapos, correntes e chicotes; acessórios usados nas cerimônias Gegê, que os etnólogos haitianos ligam aos rituais de rejuvenescimento de Osíris registrados no Livro dos Mortos. Havia uma fogueira, dentro da qual estavam dois sabres e uma grande tenaz, com suas extremidades vermelhas devido ao calor: “le Feu Marinette”, dedicado à deusa que é o reverso malévolo da branda e amorosa Erzulie Fréda Dahomin, a deusa do amor.
Mais adiante, com a base segura em uma cavidade na pedra, jazia uma grande cruz preta. Perto da base havia uma caveira branca pintada, e, estendido sobre os braços dessa cruz, um fraque muito antigo. Ali também descansava um chapéu-coco muito gasto, cuja cabeça furada deixava passar a extremidade superior da cruz. Este totem, que todo peristilo deve possuir, não é uma sátira do acontecimento central da fé cristã, mas representa o deus dos cemitérios e o chefe da legião dos mortos, Baron Samedi. O Baron é o chefe supremo de todas as questões referentes ao além-túmulo. É Cérbero e Caronte, além de Éaco, Radamanto e Plutão...
[...] Os tambores mudaram a cadência e o Houngenikon surgiu dançando no chão, segurando uma vasilha que continha um líquido do qual saíam chamas amarelas e azuis. Ao dar a volta na pilastra e derramar três libações flamejantes, seus passos começaram a fraquejar. Em seguida, caindo para trás com os mesmos sintomas delirantes manifestados pelo seu precursor, deixou cair toda a carga chamejante. Os houncis o pegaram enquanto cambaleava, tiraram suas sandálias e dobraram suas calças, enquanto o lenço caiu de sua cabeça revelando o jovem crânio lanuginoso. Os outros houncis se ajoelharam para mergulhar as mãos na lama flamejante e esfregá-la nas mãos, cotovelos e rostos. O sino e o “açon” do Hougan chocalhavam, impertinentes, e o jovem sacerdote foi deixado sozinho, cambaleando e colidindo com a pilastra, arremessando-se desvalidamente no espaço, caindo entre os tambores. Seus olhos estavam fechados, sua testa contorcida, o queixo caído. Em seguida, como se um punho invisível lhe tivesse desferido um golpe, caiu no chão e lá ficou, com a cabeça esticada para trás em um ricto angustiado, até que os tendões do pescoço e dos ombros se destacassem como raízes. Uma das mãos segurava o outro cotovelo atrás das costas arqueadas, como se estivesse procurando quebrar o próprio braço, e seu corpo inteiro, ensopado de suor, tremia e se sacudia como um cão sonhando. Somente eram visíveis os brancos dos olhos, cujas pupilas, embora eles estivessem arregalados, haviam sumido sob as pálpebras. A espuma se acumulava em seus lábios...
[...] Agora o Hougan, dançando com passos lentos e brandindo um cutelo, se adiantou da fogueira, jogando a faca repetidamente no ar e apanhando-a pelo cabo. Dentro de poucos minutos, segurava-a pelo lado cego da lâmina. Dançando lentamente em direção a ele, o Houngenikon estendeu a mão e agarrou o cabo. O sacerdote se retirou e o jovem, girando e pulando, rodava de um lado a outro da “tonelle”. O círculo dos espectadores balançava para trás, quando ele arremeteu contra eles, girando a lâmina sobre sua cabeça, com as falhas nos seus dentes à mostra emprestando um aspecto mais feroz ainda a seu rosto de mandril. A “tonelle” encheu-se por alguns segundos de um autêntico e absoluto terror. A cantoria havia se transformado em um uivo generalizado e os batuqueiros, com os gestos furiosos e invisíveis das mãos, estavam absortos em um êxtase ruidoso.
Jogando a cabeça para trás, o noviço enfiou a extremidade cega da faca na barriga. Seus joelhos cederam, e a cabeça pendeu para a frente [...]
Ouviu-se uma batida na porta e o garçom entrou com o café da manhã. Bond ficou satisfeito de poder abandonar o terrível relato e reentrar no mundo da normalidade. Mas levou minutos para esquecer a atmosfera pesada de terror e ocultismo que o envolvera enquanto lia.
Com o café da manhã veio outro pacote, com cerca de trinta centímetros quadrados, de aspecto caro, que Bond disse ao garçom para botar no console. Alguma coisa que Leiter esquecera, supôs. Tomou o café da manhã com satisfação. Entre uma garfada e outra, olhava pela grande janela, refletindo sobre o que acabara de ler.
Foi só depois de tomar o último gole de café e acender o primeiro cigarro do dia que se deu conta de um pequeno barulho na sala atrás de si.
Era um tique-taque macio e abafado, sem pressa, metálico. E vinha da direção do console.
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Sem um átimo de hesitação, sem ligar para o papel de tolo que poderia fazer, mergulhou no chão atrás da poltrona e se agachou, com todos os sentidos concentrados no barulho vindo do pacote quadrado. “Pare”, disse consigo mesmo. “Não seja idiota. É apenas um relógio.” Mas por que um relógio? Por que lhe dariam um relógio? Quem daria?
“Tique-taque... tique-taque... tique-taque...”
Tornara-se um barulho potente em contraste com o silêncio da sala. Parecia acompanhar o ritmo do coração de Bond. “Não seja ridículo. Esse negócio de Leigh Fermor sobre o vodu deixou seus nervos em frangalhos. Aqueles tambores...”
“Tique-taque... tique-taque... tique...”
E então, de repente, o despertador começou a tocar, com uma intimação grave, melodiosa e urgente.
“Tongtongtongtongtongtong...”
Bond relaxou os músculos. Seu cigarro estava fazendo um buraco no tapete. Pegou-o e o enfiou na boca. As bombas ligadas a despertadores explodem quando o martelo bate pela primeira vez na campainha. O martelo acerta um pino do detonador e WHAM...
Bond ergueu a cabeça por cima do encosto da poltrona e observou o pacote.
“Tongtongtongtongtongtong...”
A campainha abafada continuou por meio minuto e, em seguida, começou a ficar mais lenta.
“Tong... tong... tong... tong... tong...”
“B—U—M...”
O barulho não excedeu o de um tiro de 12, mas, num espaço confinado, foi uma explosão impressionante.
O pacote caíra em pedaços no chão. As garrafas e os copos no console estavam destroçados e havia uma mancha de fuligem na parede cinza atrás. Alguns pedaços de vidro caíram tilintando no chão. Havia um forte cheiro de pólvora na sala.
Bond se levantou lentamente. Foi até a janela e abriu-a. Em seguida, discou o número de Dexter. Falou de modo calmo.
“Granada de mão... não, pequena... só uns copos... ok, obrigado... claro que não... Até logo.”
Evitou os destroços, passou pelo pequeno vestíbulo até a porta que dava para o corredor, pendurou a placa de FAVOR NÃO INCOMODAR lá fora, trancou-a e voltou pelo vestíbulo até o quarto de dormir.
Quando estava terminando de se vestir, ouviu uma batida na porta.
“Quem é?”, gritou.
“Ok. Dexter.”
Dexter entrou depressa, seguido de um rapaz melancólico com uma caixa preta debaixo do braço.
“Trippe, do Antibombas”, avisou Dexter.
Apertaram-se as mãos e o rapaz se ajoelhou imediatamente ao lado dos restos calcinados do pacote.
Abriu a caixa, tirou luvas de borracha e um punhado de boticões de dentista. Com suas ferramentas extraiu penosamente pequenos pedaços de metal e vidro do pacote queimado e estendeu-os em uma larga folha de papel borrão, da escrivaninha.
Enquanto trabalhava, perguntou a Bond o que acontecera.
“Uma campainha de meio minuto? Compreendo. Olha só, o que é isto?” Extraiu com delicadeza uma pequena caixa redonda de alumínio, parecida com um rolo de filme fotográfico. Botou-a de lado.
Depois de alguns minutos, sentou-se no chão.
“Cápsula de ácido de meio minuto”, anunciou. “Quebrada pela primeira martelada do despertador. O ácido corrói um fio fino de cobre. Trinta segundos depois o fio se rompe, soltando uma agulha sobre a espoleta disto aqui.” Ergueu a base de um cartucho ‘4 de matar elefante. “Pólvora seca. Sem bala. Sorte não ter sido uma granada. Havia muito espaço no pacote. Você teria sofrido ferimentos. Bem, vamos dar uma olhada nisso.” Pegou o cilindro de alumínio, desatarraxou a tampa, extraiu um pequeno papel enrolado e o desenrolou com o boticão.
Abriu-o cuidadosamente no tapete, segurando seus cantos com quatro ferramentas da caixa preta. Continha três frases datilografadas. Bond e Dexter se inclinaram para a frente.
“O CORAÇÃO DESTE RELÓGIO PAROU DE BATER”, leram. “AS BATIDAS DE SEU PRÓPRIO CORAÇÃO ESTÃO CONTADAS. SEI O NÚMERO E COMECEI A CONTAR.”
A mensagem estava assinada “1234567...”
Eles se levantaram.
“Hmm”, disse Bond. “Coisas para assustar.”
“Mas como sabiam que você estava aqui?”, perguntou Dexter.
Bond lhe contou sobre o sedã preto na 55th Street.
“Mas a questão é”, disse Bond, “como souberam sobre o meu objetivo aqui? Isso mostra que eles já têm o seu esquema em Washington. Deve haver um vazamento do tamanho do Grand Canyon em algum lugar.”
“Mas por que tem que ser em Washington?”, perguntou Dexter, irritado. “De qualquer maneira”, controlou-se com um riso forçado, “é o diabo. Tenho de fazer um relatório para a chefia. Até logo, senhor Bond. Ainda bem que não se machucou.”
“Obrigado”, disse Bond. “Foi só um cartão de visitas. Preciso retribuir a gentileza.”














