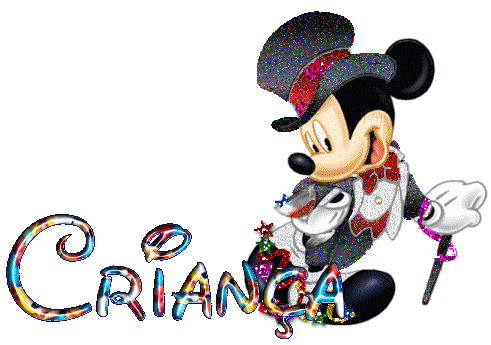Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




O GUARANI
SEGUNDA PARTE - PERI
I O CARMELITA
Corria o mês de março de 1603.
Era portanto um ano antes do dia em que se abriu esta história.
Havia à beira do caminho que então servia às expedições entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um vasto pouso onde habitavam alguns colonos e índios catequizados.
Estava quase a anoitecer.
Uma tempestade seca, terrível e medonha, como as há freqüentemente nas faldas das serranias, desabava sobre a terra. O vento mugindo açoitava as grossas árvores que vergavam os troncos seculares; o trovão ribombava no bojo das grossas nuvens desgarradas pelo céu; o relâmpago amiudava com tanta velocidade, que as florestas, os montes, toda a natureza nadava num oceano de fogo.
No vasto copiar do pouso havia três pessoas contemplando com um certo prazer a luta espantosa dos elementos, que para homens habituados como eles, não deixava de ter alguma beleza.
Um desses homens, gordo e baixo, deitado em uma rede no meio do alpendre, com as pernas cruzadas e os braços sobre o peito, soltava uma exclamação a cada novo estrago produzido pela tempestade.
O segundo, encostado num dos esteios de jacarandá que sustentava o teto da alpendrada, era homem trigueiro, de perto de quarenta anos; a sua fisionomia apresentava uns longes do tipo da raça judaica; tinha os olhos fitos em uma vereda que serpejava pela frente da casa até perder-se no mato.
Defronte dele, também apoiado sobre a outra coluna, estava um frade carmelita, que acompanhava com um sorriso de satisfação intima o progresso da borrasca; animava-lhe o rosto belo e de traços acentuados um raio de inteligência e uma expressão de energia que revelava o seu caráter.
Ao ver esse homem sorrindo à tempestade e afrontando com o olhar a luz do relâmpago, conhecia-se que sua alma tinha a força de resolução e a vontade indomável capaz de querer o impossível, e de lutar contra o céu e a terra para obtê-lo.
Fr. Ângelo di Luca achava-se então no pouso como missionário, incumbido da catequese e cura das almas entre o gentio daquele lugar; em seis meses que apostolava conseguira aldear algumas famílias que esperava breve trazer ao grêmio da igreja.
Um ano havia que obtivera do prior-geral da ordem do Carmo a graça de passar do seu convento de Santa Maria Transpontina, em Roma, para a casa que a sua ordem tinha fundado em 1590 no Rio de Janeiro, a fim de empregar-se no trabalho das missões.
Tanto o geral como o provincial de Lisboa, tocados por esse ardente entusiasmo apostólico, o haviam recomendado expressamente a Fr. Diogo do Rosário, então prior do convento do Carmo no Rio de Janeiro, pedindo-lhe que empregasse no serviço do Senhor e na glória da ordem da Beatíssima Virgem do Monte Carmelo, o zelo e o santo fervor do irmão Fr. Ângelo di Luca.
Eis a razão por que o filho de um pescador, saído das lagunas de Veneza, achava-se no sertão do Rio de Janeiro, encostado ao esteio de um pouso, contemplando a tempestade que redobrava de furor.
— Sempre partireis esta noite, Fernão Aines? disse o homem que estava deitado na rede.
— Ao quarto d’alva, respondeu o outro sem voltar-se.
— E o tempo que vais fazer?
— Não é isso que me estorva, bem o sabeis, mestre Nunes. Esta maldita caçada!...
— Receais que vossos homens não tornem dela a tempo?
— Receio que não os leve a todos a breca por esses matos com semelhante borrasca.
O frade voltou-se:
— Aqueles que seguem a lei de Deus estão bem em toda a parte, irmão, em andurriais como neste pouso; os maus é que devem temer o fogo do céu, e a esses não há abrigo que os salve.
Fernão Aines sorriu ironicamente.
— Credes isso, Fr. Ângelo?
— Creio em Deus, irmão.
— Pois embora; prefiro estar onde estou do que por ai metido nalgum despenhadeiro.
— Contudo, acudiu Nunes, o que diz o nosso reverendo missionário...
— Ora, deixa falar Fr. Ângelo. Aqui sou eu que zombo da tempestade, lá seria a tempestade que zombaria de mim.
— Fernão Aines!... exclamou Nunes.
— Maldita lembrança de caçada! murmurou o outro sem atendê-lo.
O silêncio se restabeleceu.
De repente uma nuvem abriu-se; a corrente elétrica enroscando-se pelo ar, como uma serpente de fogo, abateu-se sobre um tronco de cedro que havia defronte do pouso.
A árvore fendeu-se desde o olho até à raiz em duas metades; uma permaneceu em pé, esguia e mutilada; a outra, tombando sobre o terreiro, bateu nos peitos de Fernão Aines e o atirou esmagado no fundo do alpendre.
Seu companheiro ficou imóvel por muito tempo; depois começou a tremer como se tiritasse com o frio de terças; o polegar estendido para fazer o sinal-da-cruz, os dentes chocando uns contra os outros, o rosto contraído, davam-lhe aspecto terrível e ao mesmo tempo grotesco.
O frade se tinha voltado lívido como se ele fosse a vitima da catástrofe; o terror decompôs um momento a sua fisionomia; porém logo um sorriso sardônico fugiu-lhe dos lábios ainda descorados pelo choque violento que sofrera.
Passado o primeiro momento de susto, os dois chegaram-se para o ferido e quiseram prestar-lhe socorro; este fez um grande esforço, e erguendo-se sobre um dos braços, soltou numa golfada de sangue estas palavras:
— Castigo do céu!
Reconhecendo que não havia mais cura para o corpo, o moribundo exigiu o remédio espiritual: com a voz fraca pediu a Fr. Ângelo que o ouvisse de confissão.
Nunes fez recolher o seu companheiro a um aposento cuja porta dava para o alpendre, e deitou-o sobre uma cama de couro.
Já havia anoitecido, o aposento estava na maior escuridão; apenas por instantes o relâmpago brilhava lançando o clarão azulado sobre o confessor meio reclinado para o moribundo a fim de escutar-lhe a voz que ia gradualmente enfraquecendo.
— Ouvi-me sem me interromper, meu padre; sinto que poucos momentos me restam; e embora não haja perdão para mim quero ao menos reparar o meu crime.
— Falai, irmão; eu vos escuto.
— Em novembro passado cheguei ao Rio de Janeiro: fui hospedado por um parente meu: tanto ele como sua mulher me fizeram o melhor acolhimento.
"Ele, que havia muito viajado pelo sertão e se dera à vida de aventureiro, falou-me um dia de tentarmos uma expedição, cujo resultado seria grande riqueza para nós ambos.
"Por diversas vezes nos entretivemos sobre esse objeto, até que abriu-se inteiramente comigo.
"O pai de um Robério Dias, colono da Bahia, guiado por um índio, havia descoberto nos sertões daquela província minas de prata tão abundantes que se poderiam calçar desse metal as ruas de Lisboa.
"Como atravessasse sertões ínvios e inóspitos, Dias escrevera um roteiro com as indicações necessárias para em qualquer tempo poder-se achar o lugar onde estão situadas as ditas minas.
"Este roteiro fora subtraído a seu dono sem que ele o percebesse: e por uma longa sucessão de fatos, que faltam-me as forças para contar-vos, viera cair nas mãos do meu parente.
"De quantos crimes já não tinha sido causa esse papel, e de quantos não seria ainda, meu padre, se Deus não houvesse finalmente punido em mim o último herdeiro desse legado de sangue!..."
O moribundo parou um momento extenuado; depois continuou com a voz débil:
"Já então com a chegada do governador D. Francisco de Sousa se sabia que Robério oferecera em Madri a Filipe 11 a descoberta das minas, e que não o tendo el-rei premiado como esperou, obstinava-se em guardar silêncio.
"A razão desse silêncio que se atribuía geralmente ao despeito, só a sabia meu parente em cujas mãos parava o roteiro; Robério chegado às Espanhas se apercebera do roubo que lhe haviam feito, e quisera aos menos lograr o prêmio.
"O segredo das minas, a chave dessa riqueza imensa que excedia todos os tesouros do Miramolim, estavam nas mãos do meu parente que, necessitando de um homem dedicado que o auxiliasse na empresa, julgou que a ninguém melhor do que a mim podia escolher para partilhar os seus riscos e esperanças.
"Aceitei essa meação do crime, esse pacto de roubo, meu padre... Foi o meu primeiro erro!..."
A voz do aventureiro tornou-se ainda mais sumida. O frade inclinado sobre ele, parecia devorar com os lábios entreabertos as palavras balbuciadas pelo moribundo.
— Coragem filho!
— Sim! Devo dizer tudo!... Fascinado pela descrição desse tesouro fabuloso, tive uma lembrança iníqua... essa lembrança tornou-se desejo... depois idéia, e... projeto... por fim realizou-se... foi um crime! Assassinei meu parente; e sua mulher...
— E... exclamou o frade com a voz surda.
— E roubei o segredo!
O frade sorriu nas trevas.
— Agora só me resta a misericórdia de Deus, e a reparação do mal que fiz... Robério é morto, sua mulher vive desgraçada na Bahia... Quero que este papel lhe seja entregue... Prometeis Fr. Ângelo?...
— Prometo! O papel?...
— Está... oculto...
— Aonde?
— Nes... ta...
O moribundo agonizava.
Fr. Ângelo, debruçado inteiramente sobre ele, com o ouvido colado à sua boca onde borbulhava uma espuma vermelha, com a mão sobre o coração para ver se ainda palpitava, parecia querer reter o último sopro da vida, a fim de tirar dele uma palavra ainda.
— Aonde?... murmurava de vez em quando o frade com a voz cava.
O enfermo agonizava sempre; os soluços extremos da vida que se apaga como a lâmpada que bruxuleia, agitavam apenas o corpo enregelado.
Por fim o frade viu-o levantar o braço hirto, apontando para a parede, e sentiu os seus lábios gelados e convulsos que tremeram, lançando no seu ouvido uma palavra que o fez saltar sobre o leito.
— Cruz!...
Fr. Ângelo ergueu-se circulando o aposento com a vista alucinada; na cabeceira da cama havia um Cristo de ferro sobre uma grande cruz de pau tosca e mal lavrada.
Com um movimento de raiva o frade apoderou-se da cruz, e quebrou-a de encontro ao joelho; a imagem rolou pelo chão; entre os estilhaços de madeira apareceu um rolo de pergaminho achatado pela pressão em que estivera.
Quebrou com os dentes o selo do papel; chegando à janela leu à claridade vacilante do relâmpago as primeiras palavras de um rotulo de letras vermelhas, que rezava nestes termos:
"Roteiro verídico e exato em que se trata da rota que fez Robério Dias, o pai, em o ano da graça de 1587 às paragens de Jacobina, onde descobriu com o favor de Deus as mais ricas minas de prataria que existam no mundo; com a suma de todas as indicações de marcos, balizas e linha equinocial onde demoram aquelas ditas minas; começado em 20 de janeiro, dia do mártir São Sebastião, e terminado na primeira dominga de Páscoa em que chegamos com a mercê da Providência nesta cidade do Salvador."
Enquanto o frade se esforçava para ler, o moribundo agonizava na última aflição, esperando talvez a absolvição final e a extrema-unção do penitente.
Mas o religioso não via nesse momento senão o papel que tinha nas mãos; deixou-se cair em um banco, e com a cabeça pendida sobre o braço, entregou-se a funda meditação.
Que pensava ele?...
Não pensava; delirava. Diante de seus olhos, a imaginação exaltada lhe apresentava um mar argênteo, um oceano de metal fundido, alvo e resplandecente, que ia se perder no infinito. As vagas desse mar de prata, ora achamalotavam-se, ora rolavam formando frocos de espumas, que pareciam flores de diamantes, de esmeraldas e rubins cintilando à luz do sol.
Às vezes também nessa face lisa e polida desenhavam-se como em um espelho palácios encantados, mulheres belas como as huris do profeta, virgens graciosas como os anjos de Nossa Senhora do Monte Carmelo.
Assim decorreu meia hora, em que o silêncio era apenas interrompido pelo estertor do moribundo e pelo trovão que rugia; depois houve uma calma sinistra; o pecador expirava impenitente.
Fr. Ângelo levantou-se, arrancou o hábito com um gesto desesperado, e pisou-o aos pés; sobre o recosto do leito havia uma muda de roupa com que trajou-se; tirou as armas do cadáver, apanhou o chapéu de feltro, e apertando ao peito o manuscrito, dirigiu-se à porta.
Ouviam-se os passos de Nunes, que passeava fora no alpendre.
O frade estacou; a presença inesperada desse homem diante da porta deu-lhe uma inspiração. Tomou o hábito, vestiu-o sobre o seu novo trajo, e escondendo na manga o chapéu do aventureiro, cobriu-se com o largo capelo; então abriu a porta e dirigiu-se a Nunes.
— Consummatum est, irmão! disse ele com um tom compungido.
— Deus tenha sua alma!
— Assim o espero, se não me faltarem as forças para cumprir o seu último voto, que é uma reparação.
— De um grave pecado?
— De um crime, irmão. Dai-me luz; vou escrever a Fr. Diogo do Rosário, nosso prior, porque de onde vou talvez não volte, nem tenhais mais novas de mim.
O frade escreveu à claridade de uma acha de pau-candeia algumas linhas ao prior do convento do Carmo no Rio de Janeiro, e despedindo-se de Nunes, partiu.
Quando dobrava o canto do pouso, o céu abriu-se e a terra incendiou-se com a luz de um relâmpago tão forte que o deslumbrou. Dois raios, descrevendo listras de fogo, tinham caído sobre a floresta e espalhado em torno um cheiro de súlfur que asfixiava.
O carmelita teve uma vertigem; lembrou-se da cena da tarde, do tremendo castigo que ele próprio havia evocado na sua hipocrisia, e se realizara tão prontamente. Mas o deslumbramento passou; estremecendo ainda e pálido de terror, o réprobo levantou o braço como desafiando a cólera do céu, e soltou uma blasfêmia horrível:
— Podeis matar-me; mas se me deixardes a vida, hei de ser rico e poderoso, contra a vontade do mundo inteiro!
Havia nestas palavras um quer que seja da sanha e raiva impotente de Satanás precipitado no abismo pela sentença irrevogável do Criador.
Continuando o seu caminho pelas trevas, costeou a cerca e chegou a uma grande choça, que havia no fundo do pouso, e onde o missionário conseguira aldear algumas famílias de índios; entrou e acordou um dos selvagens, a quem ordenou se preparasse para acompanhá-lo apenas rompesse o dia.
A chuva caia em torrentes; o vento açoitava as paredes de sapé, esfuziando por entre a palha.
O frade passou a noite em claro, refletindo e traçando no seu espírito um plano infernal, para cuja realização não trepidaria diante de nenhum obstáculo; de vez em quando levantava-se para ver se o horizonte já se iluminava.
Finalmente veio o dia; a tempestade se tinha desfeito durante a noite; o tempo estava sereno.
O carmelita acompanhado pelo selvagem partiu: vagou pela floresta e pelo campo em todas as direções; alguma coisa procurava. Ele avistou depois de duas horas a touça de cardos junto da qual se passou a última cena que narramos; examinou-a por todos os lados e sorriu de satisfeito. Trepando à árvore, e escorregando pelo cipó, entraram ele e o selvagem na área que já conhecemos; o sol tinha nascido há pouco.
No dia seguinte, por volta de duas horas da tarde, saiu deste lagar um só homem; não era ele o frade nem o selvagem. Era um aventureiro destemido e audaz, em cuja fisionomia se reconheciam ainda os traços do carmelita Fr. Ângelo di Luca.
Este aventureiro chamou-se Loredano.
Deixava naquele lugar e sepultado no seio da terra um terrível segredo; isto é, um rolo de pergaminho, um burel de frade e um cadáver.
Cinco meses passados, o vigário da ordem participava ao geral em Roma que o irmão Fr. Ângelo di Luca morrera como santo e mártir no zelo de sua fé apostólica.
II IARA!
Dois dias depois da cena do pouso, por uma bela tarde de verão, a família de D. Antônio de Mariz estava reunida na margem do Paquequer.
O lugar em que se achava era uma pequena baixa cavada entre dois outeiros pedregosos que se elevavam naquelas paragens. A relva que tapeçava essas fráguas, as árvores que haviam nascido nas fendas das pedras, e reclinando sobre o vale, teciam um lindo dossel de verdura, tornavam aquele retiro pitoresco.
Não podia haver sitio mais agradável para se passar uma sesta de estio, do que esse caramanchão cheio de sombra e de frescura, onde o canto das aves concertava com o trépido murmúrio das águas.
Por isso, apesar de ficar ele a alguma distancia da casa, a família vinha às vezes quando o tempo estava sereno, gozar algumas horas da frescura deliciosa que ali se respirava.
D. Antônio de Mariz, sentado junto de sua mulher, contemplava por entre uma abertura das folhas o céu azul e aveludado de nossa terra, que os filhos da Europa não se cansam de admirar. Isabel, encostada a uma palmeira nova, olhava a correnteza do rio, murmurando baixinho uma trova de Bernardim Ribeiro.
Cecília corria pelo vale perseguindo um lindo colibri, que no vôo rápido iriava-se de mil cores, cintilando como o prisma de um raio solar. A linda menina, com o rosto animado, rindo-se dos volteios que a avezinha lhe fazia dar, como se brincasse com ela, achava nesse folguedo um vivo prazer.
Mas afinal, sentindo-se fatigada, foi recostar-se em um cômoro de relva, que elevando-se no sopé do rochedo formava uma espécie de divã natural. Descansou a cabeça no declive, e assim ficou com os pezinhos estendidos sobre a grama que os escondia como a lã de um rico tapete; e o seio mimoso a arfar com o anélito da respiração.
Algum tempo se passou sem que o menor incidente perturbasse o suave painel que formava esse grupo de família
De repente, entre o dossel de verdura que cobria esta cena, ouviu-se um grito vibrante e uma palavra de língua estranha:
— Iara!
É um vocábulo guarani: significa a senhora.
D. Antônio levantou-se; volvendo olhos rápidos, viu sobre a eminência que ficava sobranceira ao lagar em que estava Cecília, um quadro original.
De pé, fortemente apoiado sobre a base estreita que formava a rocha, um selvagem coberto com um ligeiro saio de algodão metia o ombro a uma lasca de pedra que se desencravara do seu alvéolo e ia rolar pela encosta.
O índio fazia um esforço supremo para suster o peso da laje prestes a esmagá-lo; e com o braço estendido de encontro a um galho de árvore mantinha por uma tensão violenta dos músculos o equilíbrio do corpo.
A árvore tremia; por momentos parecia que pedra e homem se enrolavam numa mesma volta, e precipitavam sobre a menina sentada na aba da colina.
Cecília ouvindo o grito erguera a cabeça, e olhava seu pai com alguma surpresa, sem adivinhar o perigo que a ameaçava.
Ver, lançar-se para sua filha, tomá-la nos braços, arrancá-la à morte, foi para D. Antônio de Mariz uma só idéia e um só movimento, que realizou com a força e a impetuosidade do sublime amor de pai, que era toda a sua vida.
No momento em que o fidalgo deitava Cecília quase desmaiada sobre o regaço materno, o índio saltava no meio do vale; a pedra girando sobre si, precipitada do alto da colina, enterrava-se profundamente no chão.
Foi então que os outros espectadores desta cena, paralisados pelo choque que haviam sofrido, lançaram um grito de terror, pensando no perigo que já estava passado.
Uma larga esteira que descia da eminência até o lugar onde Cecília estivera recostada, mostrava a linha que descrevera a pedra na passagem, arrancando a relva e ferindo o chão. D. Antônio, ainda pálido e trêmulo do perigo que correra Cecília, volvia os olhos daquela terra que se lhe afigurava uma campa, para o selvagem que surgira, como um gênio benfazejo das florestas do Brasil.
O fidalgo não sabia o que mais admirar, se a força e heroísmo com que ele salvara sua filha, se o milagre de agilidade com que se livrara a si próprio da morte.
Quanto ao sentimento que ditara esse proceder, D. Antônio não se admirava; conhecia o caráter dos nossos selvagens, tão injustamente caluniados pelos historiadores; sabia que fora da guerra e da vingança eram generosos, capazes de uma ação grande, e de um estimulo nobre.
Por muito tempo reinou silêncio expressivo nesse grupo, que se acabava de transformar de modo tão imprevisto.
D. Lauriana e Isabel de joelhos oravam a Deus, rendendo-lhe graças; Cecília ainda assustada apoiava-se ao peito de seu pai e beijava-lhe a mão com ternura; o índio humilde e submisso fitava um olhar profundo de admiração sobre a moça que tinha salvado.
Por fim D. Antônio passando o braço esquerdo pela cintura de sua filha, caminhou para o selvagem e estendeu-lhe a mão com gesto nobre e afável; o índio curvou-se e beijou a mão do fidalgo.
— De que nação és? perguntou-lhe o cavalheiro em guarani.
— Goitacá, respondeu o selvagem erguendo a cabeça com altivez.
— Como te chamas?
— Peri, filho de Ararê, primeiro de sua tribo.
— Eu, sou um fidalgo português, um branco inimigo de tua raça, conquistador de tua terra; mas tu salvaste minha filha; ofereço-te a minha amizade.
— Peri aceita; tu já eras amigo.
— Como assim? perguntou D. Antônio admirado.
— Ouve.
O índio começou, na sua linguagem tão rica e poética, com a doce pronúncia que parecia ter aprendido das auras da sua terra ou das aves das florestas virgens, esta simples narração:
"Era o tempo das árvores de ouro.
"A terra cobriu o corpo de Ararê, e as suas armas; menos o seu arco de guerra.
"Peri chamou os guerreiros de sua nação e disse:
‘Pai morreu; aquele que for o mais forte entre todos, terá o arco de Ararê. Guerra!’
"Assim falou Peri; os guerreiros responderam: ‘Guerra!’
"Enquanto o sol alumiou a terra, caminhamos; quando a lua subiu ao céu, chegamos. Combatemos como Goitacás. Toda a noite foi uma guerra. Houve sangue, houve fogo.
"Quando Peri abaixou o arco de Ararê, não havia na taba dos brancos uma cabana em pé, um homem vivo; tudo era cinza.
"Veio o dia e alumiou o campo; veio o vento e levou a cinza.
"Peri tinha vencido; era o primeiro de sua tribo, e o mais forte de todos os guerreiros.
"Sua mãe chegou e disse:
‘Peri, chefe dos Goitacás, filho de Ararê, tu és grande, tu és forte como teu pai; tua mãe te ama’.
"Os guerreiros chegaram e disseram:
‘Peri, chefe dos Goitacás, filho de Ararê, tu és o mais valente da tribo e o mais temido do inimigo; os guerreiros te obedecem’.
"As mulheres chegaram e disseram:
‘Peri, primeiro de todos, tu és belo como o sol, e flexível como a cana selvagem que te deu o nome; as mulheres são tuas escravas’.
"Peri ouviu e não respondeu; nem a voz de sua mãe, nem o canto dos guerreiros, nem o amor das mulheres, o fez sorrir.
"Na casa da cruz, no meio do fogo, Peri tinha visto a senhora dos brancos; era alva como a filha da lua; era bela como a garça do rio.
"Tinha a cor do céu nos olhos; a cor do sol nos cabelos; estava vestida de nuvens, com um cinto de estrelas e uma pluma de luz.
"O fogo passou; a casa da cruz caiu.
"De noite Peri teve um sonho; a senhora apareceu; estava triste e falou assim:
‘Peri, guerreiro livre, tu és meu escravo; tu me seguirás por toda a parte, como a estrela grande acompanha o dia’.
"A lua tinha voltado o seu arco vermelho, quando tornamos da guerra; todas as noites Peri via a senhora na sua nuvem; ela não tocava a terra, e Peri não podia subir ao céu.
"O cajueiro quando perde a sua folha parece morto; não tem flor, nem sombra; chora umas lágrimas doces como o mel dos seus frutos.
"Assim Peri ficou triste.
"A senhora não apareceu mais; e Peri via sempre a senhora nos seus olhos.
"As árvores ficaram verdes; os passarinhos fizeram seus ninhos; o sabiá cantou; tudo ria: o filho de Ararê lembrou-se de seu pai.
"Veio o tempo da guerra.
"Partimos; andamos; chegamos ao grande rio. Os guerreiros armaram as redes; as mulheres fizeram fogo; Peri olhou o sol.
"Viu passar o gavião.
"Se Peri fosse o gavião, ia ver a senhora no céu.
"Viu passar o vento.
"Se Peri fosse o vento, carregava a senhora no ar.
"Viu passar a sombra.
"Se Peri fosse a sombra, acompanhava a senhora de noite.
"Os passarinhos dormiram três vezes.
"Sua mãe veio e disse:
‘Peri, filho de Ararê, guerreiro branco salvou tua mãe; virgem branca também’.
"Peri tomou suas armas e partiu; ia ver o guerreiro branco para ser amigo; e a filha da senhora para ser escravo.
"O sol chegava ao meio do céu e Peri chegava também ao rio; avistou longe a tua casa grande.
"A virgem branca apareceu.
"Era a senhora que Peri tinha visto; não estava triste como da primeira vez; estava alegre; tinha deixado lá a nuvem e as estrelas.
"Peri disse:
‘A senhora desceu do céu, porque a lua sua mãe deixou; Peri, filho do sol, acompanhará a senhora na terra’.
"Os olhos estavam na senhora; e o ouvido no coração de Peri. A pedra estalou e quis fazer mal à senhora.
"A senhora tinha salvado a mãe de Peri, Peri não quis que a senhora ficasse triste, e voltasse ao céu.
"Guerreiro branco, Peri, primeiro de sua tribo, filho de Ararê, da nação Goitacá, forte na guerra, te oferece o seu arco; tu és amigo."
O índio terminou aqui a sua narração.
Enquanto falava, um assomo de orgulho selvagem da força e da coragem lhe brilhava nos olhos negros, e dava certa nobreza ao seu gesto. Embora ignorante, filho das florestas, era um rei; tinha a realeza da força.
Apenas concluiu, a altivez do guerreiro desapareceu; ficou tímido e modesto; já não era mais do que um bárbaro em face de criaturas civilizadas, cuja superioridade de educação o seu instinto reconhecia.
D. Antônio o ouvia sorrindo-se do seu estilo ora figurado, ora tão singelo como as primeiras frases que balbucia a criança no seio materno. O fidalgo traduzia da melhor maneira que podia essa linguagem poética a Cecília, a qual já livre do susto queria por força, apesar do medo que lhe causava o selvagem, saber o que ele dizia.
Compreenderam da história de Peri, que uma índia salva havia dois dias por D. Antônio das mãos dos aventureiros e a quem Cecília enchera de presentes de velórios azuis e escarlates, era a mãe do selvagem.
— Peri, disse o fidalgo, quando dois homens se encontram e ficam amigos, o que está na casa do outro recebe a hospitalidade.
— É o costume que os velhos transmitiram aos moços da tribo, e os pais aos filhos.
— Tu cearás conosco.
— Peri te obedece.
A tarde declinava; as primeiras estrelas luziam. A família, acompanhada por Peri, dirigiu-se a casa, e subiu a esplanada.
D. Antônio entrou um momento e voltou trazendo uma linda clavina tauxiada com o brasão de armas do fidalgo, a mesma que já vimos nas mãos do índio.
— É a minha companheira fiel, a minha arma de guerra; nunca mentiu fogo, nunca errou o alvo: a sua bala é como a seta do teu arco. Peri, tu me deste minha filha; minha filha te dá a arma de guerra de seu pai.
O índio recebeu o presente com uma efusão de profundo reconhecimento.
— Esta arma que vem da senhora, e Peri, farão um só corpo.
A campa do terreiro tocou anunciando a ceia.
O índio vexado no meio dos usos estranhos, tomado de um santo respeito, não sabia como se ater.
Apesar de todos os esforços do fidalgo, que sentia um prazer indizível em mostrar-lhe quanto apreciava a sua ação e remoçara com a alegria de ver sua filha viva, o selvagem não tocou em um só manjar.
Por fim D. Antônio de Mariz conhecendo que toda a insistência era inútil, encheu duas taças de vinho das Canárias.
— Peri, disse o fidalgo, há um costume entre os brancos, de um homem beber por aquele que é amigo. O vinho é o licor que dá a força, a coragem, a alegria. Beber por um amigo é uma maneira de dizer que o amigo é e será forte, corajoso e feliz. Eu bebo pelo filho de Ararê.
— E Peri bebe por ti, porque és pai da senhora; bebe por ti, porque salvaste sua mãe; bebe por ti, porque és guerreiro.
A cada palavra o índio tocou a taça e bebeu um trago de vinho, sem fazer o menor gesto de desgosto; ele beberia veneno à saúde do pai de Cecília.
III GÊNIO DO MAL
Peri voltou por diferentes vezes à casa de D. Antônio de Mariz.
O velho fidalgo o recebia cordialmente e o tratava como amigo; seu caráter nobre simpatizava com aquela natureza inculta.
Cecília porém, apesar do reconhecimento que lhe inspirava a sua dedicação por ela, não podia vencer o receio que sentia vendo um desses selvagens de quem sua mãe lhe fazia tão feia descrição, e de cujo nome se servia para meter-lhe medo quando criança.
Em Isabel o índio fizera a mesma impressão que lhe causava sempre a presença de um homem daquela cor; lembrara-se de sua mãe infeliz, da raça de que provinha, e da causa do desdém com que era geralmente tratada.
Quanto a D. Lauriana, via em Peri um cão fiel que tinha um momento prestado um serviço à família e a quem se pagava com um naco de pão. Devemos porém dizer que não era por mau coração que ela pensava assim, mas por prejuízos de educação.
Quinze dias depois que Cecília fora salva por Peri, uma manhã Aires Gomes atravessou a esplanada e foi ter com D. Antônio que estava no seu gabinete.
— Sr. D. Antônio, esse estrangeiro a quem destes hospedagem há duas semanas, pede-vos audiência.
— Manda-o vir.
Aires Gomes introduziu o estrangeiro. Era esse mesmo Loredano que em se havia transformado o carmelita Fr. Ângelo di Luca.
— Que desejais, amigo, faltaram-vos em alguma coisa?
— Ao contrário, sr. cavalheiro; acho-me tão bem, que o meu desejo seria ficar.
— E quem vos impede? A nossa hospitalidade assim como não pergunta o nome do que chega, também não lhe inquire o tempo de partida.
— A vossa hospitalidade é de um verdadeiro fidalgo, sr. cavalheiro; mas não é dela que desejo falar.
— Explicai-vos então.
— Um homem da vossa banda vai ao Rio de Janeiro, onde tem mulher e filhos que lhe chegaram do Reino.
— Sim; já ontem me falou disso.
— Falta-vos pois um homem; eu posso ser este homem, se não achais nisso inconveniente.
— Nenhum absolutamente.
— Nesse caso posso considerar-me como admitido?
— Atendei; Aires Gomes vai dizer-vos as condições a que vos sujeitais; se estiverdes por elas, é negócio decidido.
— Creio que já conheço essas condições, disse o italiano sorrindo.
— Ide sempre.
O fidalgo chamou o seu escudeiro e incumbiu-o de pôr o italiano ao fato das condições do bando de aventureiros que tinha ao seu serviço. Era este um dos privilégios de Aires Gomes, que o desempenhava com toda a gravidade de que era suscetível a sua personagem um pouco grotesca.
Chegados à esplanada, o escudeiro perfilou-se e proferiu o seguinte intróito:
— Lei, estatuto, regimento, disciplina ou como melhor nome haja, a que se sujeita todo aquele que entrar à soldada na banda do Sr. cavalheiro D. Antônio de Mariz, fidalgo cota d’armas, do tronco dos Marizes em linha reta.
Aqui o escudeiro molhou a palavra e prosseguiu:
— Primo: Obedecer sem replicar. Quem o contrário fizer, pereça morte natural.
O italiano fez um gesto de aprovação.
— Isto quer dizer, misser italiano, que se um dia o Sr. D. Antônio vos mandar saltar deste rochedo embaixo, fazei a vossa oração e saltai; porque de uma ou outra maneira, pelos pés ou pela cabeça, fé de Aires Gomes, lá ireis.
Loredano sorriu.
— Secundo: Contentar-se com o que há. Quem o contrário...
— Com o vosso respeito, Sr. Aires Gomes, não vos deis a um trabalho inútil; sei tudo o que ides rezar-me, e por isso dispenso-vos de continuar.
— Que quereis dizer?
— Quero dizer que todos os camaradas, cada um por sua vez, já me descreveram a cerimônia que ora pondes em prática.
— Não obstante...
— Escusado é. Sei tudo, aceito tudo, juro tudo que quiserdes.
E dizendo isto o italiano fez uma viravolta, e dirigiu-se para o gabinete de D. Antônio enquanto o escudeiro, zangado por não ter levado ao fim a cena de iniciação a que dava tão grande valor, resmungava:
— Não pode ser boa casta de gente!
Loredano apresentou-se a D. Antônio.
— Então? disse o fidalgo.
— Aceito.
— Bem; agora só falta uma coisa, que Aires Gomes não vos disse naturalmente.
— Qual, sr. cavalheiro?
— É que D. Antônio de Mariz, disse o fidalgo pousando a mão sobre o ombro do italiano, é um chefe rigoroso para seus homens, porém um amigo leal para seus companheiros. Sou aqui o senhor da casa e o pai de toda a família a que atualmente pertenceis.
O italiano curvou-se para agradecer, mas sobretudo para esconder a alteração da fisionomia.
Ouvindo as palavras nobres do fidalgo, sentiu-se perturbado: porque já então lhe fermentava no cérebro o plano da trama que ia urdir, e que vimos revelar-se um ano depois.
Saindo do lugar em que deixara oculto o seu tesouro, o aventureiro caminhou direito à casa de D. Antônio de Mariz e pediu a hospitalidade que a ninguém se recusava: sua intenção era passar-se ao Rio de Janeiro, onde concertaria os meios de aproveitar a fortuna.
Duas idéias se tinham apresentado ao seu espírito no momento em que se vira possuidor do roteiro de Robério Dias.
Iria à Europa vender o segredo a Filipe 11 ou a qualquer outro soberano de uma nação poderosa e inimiga da Espanha?
Exploraria por sua conta com alguns aventureiros que tomasse ao seu serviço esse tesouro fabuloso que devia elevá-lo ao fastígio da grandeza?
Esta última idéia lhe sorria mais; entretanto não tomou nenhuma resolução definitiva; posto o seu segredo em lugar seguro, aliviado desse peso que o fazia estremecer a cada momento, o italiano resolveu, como dissemos, ir pedir hospitalidade a D. Antônio de Mariz.
Aí formularia o seu plano, traçaria o caminho que devia seguir, e então voltaria a procurar o papel que dormia no seio da terra, e com ele marcharia à riqueza, à fortuna, ao poder.
Chegado à casa do fidalgo, o ex-carmelita com o seu espírito de observação estudou o terreno e achou-o favorável à realização de uma idéia que começou logo a germinar no seu espírito até que tomou as proporções de um projeto.
Homens mercenários que vendem a sua liberdade, consciência e vida por um salário, não têm dedicação verdadeira senão a um objeto, o dinheiro; seu senhor, seu chefe e seu amigo é o que mais lhes paga. Fr. Ângelo conhecia o coração humano, e por isso apenas iniciado no regimento da banda, avaliou do caráter dos aventureiros.
— Esses homens me serviriam perfeitamente, disse ele consigo.
No meio dessas reflexões um fato veio produzir completa revolução nas suas idéias.
Viu Cecília.
A imagem dessa bela menina, casta e inocente, produziu naquela organização ardente e por muito tempo comprimida o mesmo efeito da faisca sobre a pólvora.
Toda a continência de sua vida monástica, todos os desejos violentos que o hábito tinha selado como uma crosta de gelo, todo esse sangue vigoroso e forte da mocidade, passada em vigílias e abstinências, refluíram ao coração e o sufocaram um momento.
Depois um êxtase de voluptuosidade imensa embebeu essa alma velha pela corrupção e pelo crime, mas virgem para o amor. O seu coração revelava-se com toda a veemência da vontade audaz, que era o móvel de sua vida.
Sentiu que essa mulher era tão necessária à sua existência, como o tesouro que sonhava; ser rico para ela, possuí-la para gozar a riqueza, foi desde então o seu único pensamento, a sua idéia dominante.
Um dos aventureiros deixava a casa; Loredano solicitou o seu lagar e obteve-o como acabamos de ver; o seu plano estava traçado.
Qual era, já o sabemos pelas cenas passadas; o italiano contava tornar-se senhor da banda, apoderar-se de Cecília, ir às minas encantadas, carregar tanta prata quanta pudesse levar, dirigir-se à Bahia, assaltar uma nau espanhola, tomá-la de abordagem, e fazer-se de vela para a Europa.
Aí armava navios de corso, voltava ao Brasil, explorava o seu tesouro, tirava dele riquezas imensas e... E o mundo abria-se diante de seus olhos, cheio de esperança, de futuro e felicidade.
Durante um ano trabalhou nessa empresa com uma sagacidade e inteligência superior; ganhara os dois homens influentes da banda, Rui Soeiro e Bento Simões; por meio deles preparava o desenlace final.
Ignorado pelos outros ele dirigia essa conspiração que lavrava surdamente; só havia em toda a banda duas pessoas que o podiam perder. Ora, Loredano não era homem que deixasse de prever a eventualidade de uma traição, e que entregasse aos seus dois cúmplices uma arma com que pudessem feri-lo; daí a lembrança desse testamento que entregara a D. Antônio de Mariz.
Somente nesse papel, em vez de ter revelado o seu plano, como o italiano dissera a Rui Soeiro ele havia apenas indicado a traição dos dois aventureiros, declarando-se seduzido por eles; o frade mentia pois até na hora extrema em que o papel devia falar.
A confiança que tinha, e com razão, no caráter de D. Antônio, tranqüilizava-o completamente; sabia que em caso algum o fidalgo abriria um testamento que lhe fora dado em depósito.
Eis como Fr. Ângelo di Luca achava-se sob o seu novo nome de Loredano, pertencendo à casa de D. Antônio de Mariz e preparando-se para realizar afinal o seu pensamento de todos os instantes.
Um ano havia que esperava, e como ele dizia, estava cansado: resolvera dar enfim o golpe; e para isso, depois de haver esmagado os dois cúmplices com a sua ameaça, depois de os haver reduzido a autômatos obedecendo ao seu gesto, entendeu que seria conveniente ao mesmo tempo animar esses manequins com algum sentimento, que lhes desse o atrevimento, a audácia e a força necessária para se lançarem na voragem e não trepidarem diante de nenhum obstáculo.
Este sentimento foi a ambição.
À vista do roteiro era impossível que não sentissem a febre da riqueza, a auri sacra fames que se havia apoderado dele próprio, no momento em que vira abrir-se diante de seus olhos um mar de prata fundida em que os seus lábios podiam matar a sede ardente que o devorava.
O efeito não desmentiu a sua previsão; lendo o rótulo, cada um dos aventureiros ficara eletrizado; para tocar aquele abismo insondável de riquezas, nem um deles hesitaria em passar sobre o corpo de seu amigo, ou mesmo sobre as cinzas de uma casa ou a ruína de uma família.
Infelizmente aquela voz inesperada, saída do seio da terra, viera modificar a situação.
Mas não antecipemos; por ora ainda estamos em 1603, um ano antes daquela cena, e ainda nos falta contar certas circunstâncias que serviram para o seguimento desta verídica história.
IV CECI
Poucas horas depois que Loredano fora admitido na casa de D. Antônio de Mariz, Cecília chegando à janela do seu quarto viu do lado oposto do rochedo Peri, que a olhava com uma admiração ardente.
O pobre índio tímido e esquivo, não se animava a chegar-se à casa, senão quando via de longe a D. Antônio de Mariz passeando sobre a esplanada; adivinhava que naquela habitação só o coração nobre do velho fidalgo sentia por ele alguma estima.
Havia quatro dias que o selvagem não aparecia; D. Antônio supunha já que ele tivesse voltado com sua tribo para os lugares onde vivia, e que só deixara para fazer a guerra aos índios e portugueses.
A nação Goitacá dominava todo o território entre o Cabo de São Tomé e o Cabo Frio; era um povo guerreiro, valente e destemido, que por diversas vezes fizera sentir aos conquistadores a força de suas armas.
Tinha arrasado completamente a colônia da Paraíba fundada por Pero de Góis; e depois de um assédio de seis meses conseguira destruir igualmente a colônia de Vitória, fundada no espírito Santo por Vasco Fernandes Coutinho.
Voltemos dessa pequena digressão histórica ao nosso herói.
O primeiro movimento de Cecília, vendo o índio fora de susto; fugira insensivelmente da janela. Mas o seu bom coração irritou-se contra esse receio, e disse-lhe que ela não tinha que temer do homem que lhe salvara a vida. Lembrou-se que era ser má e ingrata pagar a dedicação que o índio lhe mostrava deixando-lhe ver a repugnância que lhe inspirava.
Venceu pois a timidez, e assentou de fazer um sacrifício ao reconhecimento e gratidão que devia ao selvagem. Chegou à janela; fez com a mão alva e graciosa um gesto dizendo a Peri que se aproximasse.
O índio não se contendo de alegria, correu para a casa, enquanto Cecília ia ter com seu pai, e dizia-lhe:
— Vinde ver Peri, que chega, meu pai.
— Ah! inda bem, respondeu o fidalgo.
E acompanhando sua filha, D. Antônio foi ao encontro do índio que já subia a esplanada.
Peri trazia um pequeno cofo, tecido com extraordinária delicadeza, feito de palha muito alva, todo rendado; por entre o crivo que formavam os fios, ouviam-se uns chilidos fracos e um rumor ligeiro que faziam os pequenos habitantes desse ninho gracioso.
O índio ajoelhou aos pés de Cecília; sem animar-se a levantar os olhos para ela, apresentou-lhe o cabaz de palha: abrindo a tampa, a menina assustou-se, mas sorriu; um enxame de beija-flores esvoaçava dentro; alguns conseguiram escapar-se.
Destes um veio aninhar-se no seu seio, o outro começou a voltejar em torno de sua cabeça loura como se tomasse a sua boquinha rosada por um fruto.
A menina admirava essas avezinhas brilhantes, umas escarlates, outras azuis e verdes; mas todas de reflexos dourados, e formas mimosas e delicadas!
Vendo-se esses íris animados acredita-se que a natureza os criou com um sorriso, para viverem de pólen e de mel, e para brilharem no ar como as flores na terra e as estrelas no céu.
Quando Cecília se cansou de admirá-los, tomou-os um por um, beijou-os, aqueceu-os no seio, e sentiu não ser uma flor bela e perfumada para que eles a beijassem também, e esvoaçassem constantemente em torno dela.
Peri olhava e era feliz; pela primeira vez depois que a salvara, tinha sabido fazer uma coisa, que trouxera um sorriso de prazer aos lábios da senhora. Entretanto, apesar dessa felicidade que sentia interiormente, era fácil de ver que o índio estava triste; ele chegou-se para D. Antônio de Mariz e disse-lhe:
— Peri vai partir.
— Ah! disse o fidalgo, voltas aos teus campos?
— Sim: Peri volta à terra que cobre os ossos de Ararê.
D. Antônio encheu o índio de presentes dados em seu nome e em nome de sua filha.
— Perguntai a ele por que razão parte e nos deixa, meu pai, disse Cecília.
O fidaldo traduziu a pergunta.
— Porque a senhora não precisa de Peri; e Peri deve acompanhar sua mãe e seus irmãos.
— E se a pedra quiser fazer mal à senhora, quem a defenderá? perguntou a menina sorrindo e fazendo alusão à narração do índio.
Ouvindo dos lábios de D. Antônio a pergunta, o selvagem não soube o que responder, porque lhe lembrava um pensamento que já tinha passado por seu espírito; temia que na sua ausência a menina corresse um perigo e ele não estivesse junto dela para salvá-la.
— Se a senhora manda, disse enfim, Peri fica.
Cecília, apenas seu pai lhe traduziu a resposta do índio, riu-se daquela cega obediência; mas era mulher; um átomo de vaidade dormia no fundo do seu coração de moça.
Ver aquela alma selvagem, livre como as aves que planavam no ar ou como os rios que corriam na várzea; aquela natureza forte e vigorosa que fazia prodígios de força e coragem; aquela vontade indomável como a torrente que se precipita do alto da serra; prostrar-se a seus pés submissa, vencida, escrava!...
Era preciso que não fosse mulher para não sentir o orgulho de dominar essa organização e brincar com a força obrigando-a a curvar-se diante do seu olhar.
As mulheres têm isso de particular; reconhecendo-se fracas, a sua maior ambição é reinar pelo imã dessa mesma fraqueza, sobre tudo o que é forte, grande e superior a elas: não amam a inteligência, a coragem, o gênio, o poder, senão para vencê-los e subjugá-los.
Entretanto a mulher deixa-se bastantes vezes dominar; mas e sempre pelo homem que, não lhe excitando a admiração, não irrita a sua vaidade e não provoca por conseguinte essa luta da fraqueza contra a força.
Cecília era uma menina ingênua e inocente, que nem sequer tinha consciência do seu poder, e do encanto de sua casta beleza; mas era filha de Eva, e não podia se eximir de um quase nada de vaidade.
— A senhora não quer que Peri parta, disse ela com um arzinho de rainha, e fazendo um gesto com a cabeça.
O índio compreendeu perfeitamente o gesto.
— Peri fica.
— Vede, Cecília, replicou D. Antônio rindo: ele te obedece!
Cecília sorriu.
— Minha filha te agradece o sacrifício, Peri, continuou o fidalgo; mas nem ela nem eu queremos que abandones a tua tribo.
— A senhora mandou, respondeu o índio.
— Ela queria ver se tu lhe obedecias: conheceu a tua dedicação, está satisfeita; consente que partas.
— Não!
— Mas os teus irmãos, tua mãe, tua vida livre?
— Peri é escravo da senhora.
— Mas Peri é um guerreiro e um chefe.
— A nação Goitacá tem cem guerreiros fortes como Peri; mil arcos ligeiros como o vôo do gavião.
— Assim, decididamente queres ficar?
— Sim; e como tu não queres dar a Peri a tua hospitalidade, uma árvore da floresta lhe servirá de abrigo.
— Tu me ofendes, Peri! exclamou o fidalgo; a minha casa está aberta para todos, e sobretudo para ti que és amigo e salvaste minha filha.
— Não, Peri não te ofende; mas sabe que tem a pele cor de terra.
— E o coração de ouro.
Enquanto D. Antônio continuava a insistir com o índio para que partisse, ouviu-se um canto monótono que saia da floresta.
Peri aplicou o ouvido; descendo à esplanada correu na direção donde partia a voz, que cantava com a cadência triste e melancólica particular aos índios, a seguinte endecha na língua dos Guaranis:
"A estrela brilhou; partimos com a tarde. A brisa soprou; nos leva nas asas.
"A guerra nos trouxe; vencemos. A guerra acabou; voltamos.
"Na guerra os guerreiros combatem; há sangue. Na paz as mulheres trabalham; há vinho.
"A estrela brilhou; é hora de partir. A brisa soprou; é tempo de andar."
A pessoa que modulava esta canção selvagem era uma índia já idosa; encostada a uma árvore da floresta ela vira por entre a folhagem a cena que passava na esplanada.
Chegando-se a ela, Peri ficou triste e vexado.
— Mãe!... exclamou ele.
— Vem! disse a índia seguindo pela mata.
— Não!
— Nós partimos.
— Peri fica.
A índia fitou em seu filho um olhar de profunda admiração.
— Teus irmãos partem!
O selvagem não respondeu.
— Tua mãe parte!
O mesmo silêncio.
— Teu campo te espera!
— Peri fica, mãe! disse ele com a voz comovida.
— Por quê?
— A senhora mandou.
A pobre mãe recebeu esta palavra como uma sentença irrevogável; sabia do império que exercia sobre a alma de Peri a imagem de Nossa Senhora, que ele tinha visto no meio de um combate e havia personificado em Cecília.
Sentiu que ia perder o filho, orgulho de sua velhice, como Ararê tinha sido o orgulho de sua mocidade. Uma lágrima deslizou pela sua face cor de cobre.
— Mãe, toma o arco de Peri; enterra junto dos ossos de seu pai: e queima a cabana de Ararê.
— Não; se algum dia Peri voltar, achará a cabana de seu pai, e sua mãe para amá-lo: tudo vai ficar triste até que a lua das flores leve o filho de Ararê ao campo onde nasceu.
Peri abanou a cabeça com tristeza:
— Peri não voltará!
Sua mãe fez um gesto de espanto e desespero.
— O fruto que cai da árvore, não torna mais a ela; a folha que se despega do ramo, murcha, seca e morre; o vento a leva. Peri é a folha; tu és a árvore, mãe. Peri não voltará ao teu seio.
— A virgem branca salvou tua mãe; devia deixá-la morrer, para não lhe roubar seu filho. Uma mãe sem seu filho é uma terra sem água; queima e mata tudo que se chega a ela.
Estas palavras foram acompanhadas de um olhar de ameaça, em que se revelava a ferocidade do tigre que defende os seus cachorrinhos.
— Mãe, não ofende a senhora; Peri morreria, e na última hora não se lembraria de ti.
Os dois ficaram algum tempo em silêncio.
— Tua mãe fica! disse a índia com um acento de resolução.
— E quem será a mãe da tribo? Quem guardará a cabana de Peri? Quem contará aos pequenos as guerras de Ararê, forte entre os mais fortes? Quem dirá quantas vezes a nação Goitacá levou o fogo à taba dos brancos e venceu os homens do raio? Quem há de preparar os vinhos e as bebidas para os guerreiros, e ensinar aos filhos os costumes dos velhos?
Peri preferiu estas palavras com a exaltação, que despertavam nele as reminiscências de sua vida selvagem; a índia ficou pensativa e respondeu:
— Tua mãe volta; vai te esperar na porta da cabana, à sombra do jambeiro; se a flor do jambo vier sem Peri, tua mãe não verá os frutos da árvore.
A índia pousou as mãos sobre os ombros de seu filho, e encostou a fronte na fronte dele; durante um momento as lágrimas que saltavam dos olhos de ambos, se confundiram.
Depois ela afastou-se lentamente; Peri seguiu-a com os olhos ate que desapareceu na floresta; esteve a correr, chamá-la e partir com ela. Mas o vento lhe trazia a voz argentina de Cecília que falava com seu pai; ficou.
Nessa mesma noite construirá aquela pequena cabana que se via na ponta do rochedo, e que ia ser o seu mundo.
Passaram três meses.
Cecília que um momento conseguira vencer a repugnância que sentia pelo selvagem, quando lhe ordenara que ficasse, não se lembrou da ingratidão que cometia e não disfarçou mais a sua antipatia.
Quando o índio chegava-se a ela, soltava um grito de susto; ou fugia, ou ordenava-lhe que se retirasse; Peri que já falava e entendia o português, afastava-se triste e humilde.
Entretanto a sua dedicação não se desmentia; ele acompanhava a D. Antônio de Mariz nas suas excursões, ajudava-o com a sua experiência, guiava-o aos lugares onde havia terrenos auríferos ou pedras preciosas. De volta destas expedições corria todo o dia os campos para procurar um perfume, uma flor, um pássaro, que entregava ao fidalgo e pedia-lhe desse a Ceci, pois já não se animava a chegar-se para ela, com receio de desgostá-la.
Ceci era o nome que o índio dava à sua senhora, depois que lhe tinham ensinado que ela se chamava Cecília.
Um dia a menina ouvindo chamar-se assim por ele e achando um pretexto para zangar-se contra o escravo humilde que obedecia ao seu menor gesto, repreendeu-o com aspereza:
— Por que me chamas tu Ceci?
O índio sorriu tristemente.
— Não sabes dizer Cecília?
Peri pronunciou claramente o nome da moça com todas as sílabas; isto era tanto mais admirável quanto a sua língua não conhecia quatro letras, das quais uma era o L.
— Mas então, disse a menina com alguma curiosidade, se tu sabes o meu nome, por que não o dizes sempre?
— Porque Ceci é o nome que Peri tem dentro da alma.
— Ah! é um nome de tua língua?
— Sim.
— O que quer dizer?
— O que Peri sente.
— Mas em português?
— Senhora não deve saber.
A menina bateu com a ponta do pé no chão e fez um gesto de impaciência.
D. Antônio passava; Cecília correu ao seu encontro:
— Meu pai, dizei-me o que significa Ceci nessa língua selvagem que falais.
— Ceci?... disse o fidalgo procurando lembrar-se. Sim! É um verbo que significa doer, magoar.
A menina sentiu um remorso; reconheceu a sua ingratidão; e lembrando-se do que devia ao selvagem e da maneira por que o tratava, achou-se má, egoísta e cruel.
— Que doce palavra! disse ela a seu pai; parece um canto de pássaro.
Desde este dia foi boa para Peri; pouco a pouco perdeu o susto; começou a compreender essa alma inculta; viu nele um escravo, depois um amigo fiel e dedicado.
— Chama-me Ceci, dizia às vezes ao índio sorrindo-se; este doce nome me lembrará que fui má para ti; e me ensinará a ser boa.
V VILANIA
E tempo de continuar esta narração interrompida pela necessidade de contar alguns fatos anteriores.
Voltemos pois ao lagar em que se achavam Loredano e seus companheiros tomados de medo pela exclamação inesperada que soara no meio deles.
Os dois cúmplices, supersticiosos, como eram as pessoas de baixa classe naquele tempo, atribuíam o fato a uma causa sobrenatural, e viam nele um aviso do céu. Loredano porém não era homem que cedesse a semelhante fraqueza; tinha ouvido uma voz; e essa voz embora surda e cava devia ser de um homem.
Quem ele era? Seria D. Antônio de Mariz? Seria algum dos aventureiros? Não podia saber; o seu espírito perdia-se num caos de dúvidas e incertezas.
Fez um gesto a Rui Soeiro e a Bento Simões para que o seguissem; e apertando ao seio o fatal pergaminho, causa de tantos crimes, lançou-se pelo campo. Teriam feito umas cinqüenta braças do caminho, quando viram cortar pela vereda que eles seguiam um cavalheiro que o italiano reconheceu imediatamente; era Álvaro.
O moço procurava a solidão para pensar em Cecília, mas sobretudo para refletir num fato que se tinha dado essa manhã e que ele não podia compreender.
Vira de longe a janela de Cecília abrir-se, as duas moças aparecerem, trocarem um olhar; depois Isabel cair de joelhos aos pés de sua prima. Se ele tivesse ouvido o que já sabemos, teria perfeitamente compreendido; mas longe como estava, apenas podia ver, sem ser visto das duas moças.
Loredano, vendo o cavalheiro passar, voltou-se para os seus companheiros.
— Ei-lo!... disse com um olhar que brilhou de alegria. Imbecis! que atribuís ao céu aquilo que não sabeis explicar!...
E acompanhou estas palavras com um sorriso de profundo desprezo.
— Esperai-me aqui.
— O que ides fazer? perguntou Rui Soeiro.
O italiano se voltou surpreso; depois levantou os ombros, como se a pergunta do seu companheiro não merecesse resposta.
Rui Soeiro, que conhecia o caráter desse homem, entendeu o gesto; um resquício de generosidade que ainda havia no seu coração corrompido, o fez segurar o braço do seu companheiro para retê-lo.
— Quereis que fale?... disse Loredano.
— E mais um crime inútil! acudiu Bento Simões.
O italiano fitou nele os olhos, frios como o contato do aço polido:
— Há um mais útil, amigo Simões; cuidaremos dele a seu tempo.
E sem esperar a réplica, meteu-se pelas moitas que cobriam o campo nesse lugar, e seguiu Álvaro que continuava lentamente o seu caminho.
O moço, apesar de preocupado, tinha o hábito da vida arriscada dos nossos caçadores do interior, obrigados a romper as matas virgens
Aí o homem vê-se cercado de perigos por todos os lados; da frente, das costas, à esquerda, à direita, do ar, da terra, pode surgir de repente um inimigo oculto pela folhagem, que se aproxima sem ser visto
A única defesa é a sutileza do ouvido que sabe distinguir entre os rumores vagos da floresta, aquele que é produzido por uma ação mais forte do que a do vento; assim como a rapidez e certeza da vista que vai perscrutar as sombras das moitas e devassar a folhagem espessa das árvores.
Álvaro tinha esse dom dos caçadores hábeis; apenas o vento lhe trouxe um estalido de folhas secas pisadas, levantou a cabeça, e circulou o campo com os olhos; depois por prudência encostou-se ao grosso tronco de uma árvore isolada, e cruzando os braços sobre a clavina, esperou.
Nessa posição o inimigo, qualquer que ele fosse, fera, réptil ou homem, não o podia atacar senão de face; ele o veria aproximar-se e o receberia.
Loredano agachado entre as folhas tinha notado este movimento e hesitara; mas o seu segredo estava comprometido, a suspeita que concebera de que Álvaro fora quem há pouco o ameaçara com a palavra traidores, acabava de confirmar-se no seu espírito, vendo a prudência com que o moço evitava uma surpresa.
O cavalheiro era um inimigo terrível, e jogava todas as armas com uma destreza admirável.
A lâmina de sua espada como uma cobra elástica, flexível, rápida, volteava sibilando e atirava o bote com a velocidade e a certeza da cascavel. O arremesso do seu punhal, vibrado pelo braço ligeiro e auxiliado pela agilidade do corpo, era como raio; listrava no ar uma cruz de fogo, e caia sobre o peito do inimigo e o fulminava.
A bala de sua clavina era uma mensageira fiel que ia buscar a ave que pairava no ar, ou a folha que o vento agitava. Muitas vezes na esplanada da casa, o italiano vira Álvaro, depois de ter feito milagres de pontaria, quebrar no ar as setas que Peri atirava de propósito para lhe servirem de alvo.
Cecília aplaudia batendo as mãos; Peri ficava contente por ver a senhora alegre; e embora para ele que fazia muito mais, aquilo fosse uma coisa vulgar, deixava que o moço conservasse a superioridade, e fosse por todos admirado.
Mas Álvaro sabia que só um homem podia lutar com ele, e levar-lhe vantagem em qualquer arma, e esse era Peri; porque juntava à arte a superioridade do selvagem habituado desde o berço à guerra constante que é a sua vida.
Loredano tinha pois razão de hesitar em atacar de frente um inimigo desta força; mas a necessidade urgia, e o italiano era corajoso e ágil também. Endireitou para o cavalheiro, resolvido a morrer ou a salvar a sua vida e a sua fortuna.
Álvaro vendo-o aproximar-se rugou o sobrolho; depois do que se tinha passado na véspera e nessa manhã, odiava aquele homem ou antes, desprezava-o.
— Aposto que tivestes o mesmo pensamento que eu, sr. cavalheiro? disse o aventureiro, quando chegou a três passos de distancia.
— Não sei o que pretendeis dizer, replicou o moço secamente.
— Pretendo, sr. cavalheiro, que dois homens que se odeiam acham-se melhor num lagar solitário, do que no meio dos companheiros.
— Não é ódio que me inspirais, é deprezo; é mais do que desprezo, é asco. O réptil que se roja pelo chão causa-me menos repugnância do que o vosso aspecto.
— Não disputemos sobre palavras, sr. cavalheiro; tudo vem dar no mesmo; eu vos odeio, vós me desprezais; podia dizer-vos outro tanto.
— Miserável!... exclamou o cavalheiro levando a mão à guarda da espada.
O movimento foi tão rápido, que a palavra soou ao mesmo tempo que a ponta da lamina de aço batendo na face do italiano.
Loredano quis evitar o insulto, mas não era tempo; seus olhos injetaram-se de sangue:
— Sr. cavalheiro, deveis-me satisfação do insulto que me acabais de fazer.
— É justo, respondeu Álvaro com dignidade; mas não à espada que é a arma do cavalheiro; tirai o vosso punhal de bandido, e defendei-vos.
Proferindo estas palavras, o moço embainhou a espada com toda a calma, segurou-a à cinta para não embaraçar-lhe os movimentos e sacou o seu punhal, excelente folha de Damasco.
Os dois inimigos marcharam um para o outro, e lançaram-se; o italiano era ágil e forte, e defendia-se com suma destreza; por duas vezes já, o punhal de Álvaro, roçando-lhe o pescoço, tinha cortado o talho de seu gibão de belbute.
De repente Loredano, fincando os pés, deu um pulo para trás, e ergueu a mão esquerda em sinal de trégua.
— Estais satisfeito? perguntou Álvaro.
— Não, sr. cavalheiro; mas penso que em vez de nos estarmos aqui a fatigar inutilmente, melhor seria tomarmos um meio mais expedito.
— Escolhei o que quiserdes, menos a espada; o mais me é indiferente.
— Outra coisa ainda: se nos batermos aqui, podemos incomodar-nos reciprocamente; porque pretendo matar-vos, e creio que o mesmo desejo tendes a meu respeito. Ora é preciso que desapareça o que ficar e o outro não leve um vestígio que o possa denunciar.
— Que quereis fazer neste caso?
— O rio está aqui perto, tendes a vossa clavina; colocar-nos-emos cada um sobre uma ponta do rochedo; aquele que cair morto ou simplesmente ferido, pertencerá ao rio e à cachoeira; não incomodará o outro.
— Tendes razão, é melhor assim; eu me envergonharia se D. Antônio de Mariz soubesse que me bati com um homem da vossa qualidade.
— Sigamos, sr. cavalheiro; nós nos odiamos bastante para não gastarmos tempo em palavras.
Ambos tomaram na direção do rio, cujo estrépito ouvia-se distintamente.
Álvaro, valente e corajoso, desprezava muito o seu inimigo para ter o menor receio dele; demais a sua alma nobre e leal, incapaz da mais pequena vilania, não pensava na traição. Nunca podia lembrar-lhe que um homem que o viera provocar e ia medir-se com ele num combate franco, levasse a infâmia a ponto de querer feri-lo pelas costas.
Assim, continuou a caminhar, quando o italiano, deixando cair de propósito a cinta da espada, parou um instante para apanhá-la e prendê-la de novo.
O que passava então no seu espírito não estava de acordo com as idéias nobres do cavalheiro; vendo o moço adiantar-se, disse consigo:
— Preciso da vida desse homem, eu a tenho! Seria uma loucura deixá-la escapar, e pôr a minha em risco. Um duelo neste deserto, sem testemunhas, é um combate em que a vitória pertence ao mais esperto.
Dizendo isto o italiano ia armando a sua clavina com toda a cautela, e seguia de longe a Álvaro, a fim de que o ranger do ferro ou o silêncio de suas pisadas não excitassem a atenção do moço.
Álvaro caminhava tranqüilamente; seu pensamento estava bem longe dele, e esvoaçava em torno da imagem de Cecília, junto da qual via os grandes olhos negros e aveludados de Isabel embebidos numa languidez melancólica; era a primeira vez que aquele rosto moreno e aquela beleza ardente e voluptuosa se viera confundir em sonhos com o anjo louro dos seus amores.
Donde provinha isto? O moço não sabia explicar; mas um quer que seja, como um pressentimento, lhe dizia que naquela cena da janela havia entre as duas moças um segredo, uma confidência, uma revelação, e que esse segredo era ele.
Assim, quando a morte se aproximava, quando já o bafejava e ia tocá-lo, ele descuidoso e pensativo repassava no pensamento idéias de amor, e alimentava-se de esperanças. Não se lembrava de morrer; tinha consciência de si e fé em Deus; mas se por acaso uma fatalidade caísse sobre ele, consolava-o a idéia de que Cecília, ofendida, lhe perdoaria um resto de ressentimento que talvez conservasse.
Nisto meteu a mão no seio do gibão e tirou o jasmim que a moça lhe dera, e que já tinha murchado ao contato dos seus lábios ardentes; ia beijá-lo ainda uma vez, quando lembrou-se que o italiano podia vê-lo.
Mas não ouviu os passos do aventureiro; a primeira idéia que lhe veio foi que ele tinha fugido; e como a cobardia para as almas grandes se associa à baixeza, lembrou-se de uma traição.
Quis voltar-se, e entretanto não o fez. Mostrar que tinha medo daquele miserável revoltava os seus brios de cavalheiro; ergueu a cabeça com altivez e seguiu.
Mal sabia ele que nesse momento o fecho da clavina movido por um dedo seguro caia, e que a bala ia partir guiada pelo olhar certeiro do italiano.
VI NOBREZA
Álvaro ouviu um sibilo agudo.
A bala rogando pela aba rebatida de seu chapéu de feltro cortou a ponta da pluma escarlate que se enroscava sobre o ombro.
O moço voltou-se calmo, sereno, impassível; nem um músculo de seu rosto agitou-se; apenas um sorriso de soberano desprezo arqueava o lábio superior, sombreado pelo bigode negro.
O espetáculo que se ofereceu aos seus olhos causou-lhe uma surpresa extraordinária: não esperava decerto ver o que se passava a dez passos dele.
Peri mostrando nos movimentos toda a força muscular de sua organização de aço, com a mão esquerda segura à nuca de Loredano, curvava-o sob a pressão violenta, e obrigava-o a ajoelhar.
O italiano lívido, com o rosto contraído e os olhos imensamente dilatados, tinha ainda entre as mãos hirtas a clavina fumegante.
O índio arrancou-a, e sacando a longa faca, levantou o braço para cravá-la no alto da cabeça do italiano.
Mas Álvaro tinha-se adiantado e aparou o golpe; depois estendeu a mão ao índio
— Solta este miserável, Peri!
— Não!
— A vida deste homem me pertence; atirou sobre mim; é a minha vez de atirar sobre ele.
Álvaro ao mesmo tempo que dizia estas palavras armava a clavina, e apoiava a boca na fronte do italiano.
— Ides morrer. Fazei a vossa oração.
Peri abaixou a faca; recuou um passo, e esperou.
O italiano não respondeu; a sua oração foi uma blasfêmia horrível e satânica; as palpitações violentas do coração batiam de encontro ao pergaminho que tinha no seio, e lembravam-lhe o seu tesouro que ia talvez cair nas mãos de Álvaro e dar-lhe a riqueza de que não pudera gozar.
Entretanto, na baixeza dessa alma havia ainda alguma altivez, o orgulho do crime; não suplicou, não disse uma palavra; sentindo o contato frio do ferro sobre a fronte, fechou os olhos e julgou-se morto.
Álvaro olhou-o um instante, e abaixou a clavina:
— Tu és indigno de morrer à mão de um homem, e por uma arma de guerra; pertences ao pelourinho e ao carrasco. Seria um roubo feito à justiça de Deus.
Loredano abriu os olhos; seu rosto iluminou-se com um raio de esperança.
— Vais jurar que amanhã deixarás a casa de D. Antônio de Mariz, e nunca mais porás o pé neste sertão; por tal preço tens a vida salva.
— Juro! exclamou o italiano.
O moço tirou o colar que deva três voltas sobre os ombros, e apresentou a Loredano a cruz vermelha do Cristo que lhe pendia do peito; o aventureiro estendeu a mão, e repetiu o juramento.
— Ergue-te; e tira-te dos meus olhos.
E com o mesmo desprezo e a mesma nobreza, o cavalheiro desarmou a sua clavina; voltou-se para continuar o seu caminho fazendo um sinal a Peri para que o acompanhasse.
O índio, enquanto se passava a rápida cena que descrevemos, refletia profundamente.
Quando ouvira o que diziam há pouco Loredano e seus dois companheiros, quando pelo resto da conversa compreendera que se tratava de fazer mal à sua senhora e a D. Antônio de Mariz, a sua primeira idéia tinha sido lançar-se aos três inimigos e matá-los.
Foi por isso que soltou aquela palavra que revelava a sua indignação; mas imediatamente lembrou-se que ele podia morrer, e que nesse caso Cecília não teria quem a defendesse. Pela primeira vez na sua vida teve medo; teve medo por sua senhora, e sentiu não possuir mil vidas para sacrificá-las todas à sua salvação.
Fugiu então com bastante rapidez para não ser visto pelo italiano que subia à árvore; afastou-se deles; chegando à beira do rio, lavou a sua túnica de algodão, que ficara manchada de sangue; não queria que soubessem que estava ferido.
Enquanto se entregava a este trabalho, combinava um plano de ação.
Resolveu não dizer nada a quem quer que fosse, nem mesmo a D. Antônio de Mariz: duas razões o levavam a proceder assim; a primeira era o receio de não ser acreditado, pois não tinha provas com que pudesse justificar a acusação, que ele, índio ia fazer contra homens brancos; a segunda era a confiança que tinha de que ele só bastava para desfazer todas as tramas dos aventureiros, e lutar contra o italiano.
Assentado este primeiro ponto, passou à execução do plano; esta reduzia-se para ele em uma punição; aqueles três homens queriam matar, portanto deviam morrer, mas deviam morrer ao mesmo tempo, do mesmo golpe. Peri receava que, combinados como estavam, se um escapasse vendo sucumbir seus companheiros, se deixaria levar pelo desespero e anteciparia a realização do crime antes que ele o pudesse prevenir.
A sua inteligência sem cultura, mas brilhante como o sol de nossa terra, vigorosa como a vegetação deste solo, guiava-o nesse raciocínio com uma lógica e uma prudência, dignas do homem civilizado; previa todas as hipóteses, combinava todas as probabilidades, e preparava-se para realizar o seu plano com a certeza e a energia de ação que ninguém possuía em grau tão elevado.
Assim dirigindo-se para a casa onde o chamava um outro dever, o de avisar a D. Antônio da eventualidade de um ataque dos Aimorés, ele tinha passado junto de Bento Simões e Rui Soeiro, e guiado pelos olhares destes viu ao longe Loredano no momento em que apontava sobre o cavalheiro.
Correr, cair sobre o italiano, desviar a pontaria, e dobrá-lo sobre os joelhos, foi um movimento tão rápido que os dois aventureiros apenas o viram passar, viram ao mesmo tempo o seu companheiro subjugado.
A realização do projeto de Peri apresentava-se naturalmente, sem ser procurada. Tinha o italiano na sua mão; depois dele caminhava aos dois aventureiros para os quais bastava a sua faca; e quando tudo estivesse consumado, iria ter com D. Antônio de Mariz e lhe diria:
— Esses três homens vos traiam, matei-os; se fiz mal, puni-me.
A intervenção de Álvaro, cuja generosidade salvou a vida de Loredano, transtornou completamente esse plano; ignorando o motivo por que Peri ameaçava o aventureiro, julgando que era unicamente para puni-lo da tentativa que acabava de cometer perfidamente contra ele, o cavalheiro a quem repugnava tirar a vida a um homem sem necessidade, satisfez-se com o juramento e a certeza de que deixaria a casa.
Enquanto isto se dava, Peri refletia na possibilidade de fazer as coisas voltarem à mesma posição; mas conheceu que não o conseguiria.
Álvaro tinha recebido de D. Antônio de Mariz todos os princípios daquela antiga lealdade cavalheiresca do século XV, os quais o velho fidalgo conservava como o melhor legado de seus avós; o moço moldava todas as suas ações, todas as suas idéias, por aquele tipo de barões portugueses que haviam combatido em Aljubarrota ao lado do Mestre de Avis, o rei cavalheiro.
Peri conhecia o caráter do moço; e sabia que depois de ter dado a vida a Loredano, embora o desprezasse, não consentiria que em presença dele lhe tocasse num cabelo; e se preciso fosse tiraria a sua espada para defender este homem, que acabava de tentar contra sua existência.
E o índio respeitava a Álvaro, não por sua causa, mas por Cecília a quem ele amava; qualquer desgraça que sucedesse ao cavalheiro tornaria a senhora triste; e isto bastava para que a pessoa do moço fosse sagrada, como tudo o que pertencia à menina, ou que era necessário ao seu descanso, ao seu sossego e felicidade.
O resultado dessa reflexão foi Peri meter a sua faca à cinta; e sem importar-se mais com o italiano, acompanhar o cavalheiro.
Ambos seguiram em direção da casa, caminhando ao longo da margem do rio.
— Obrigado ainda uma vez, Peri; não pela vida que me salvaste, mas pela estima que me tens.
E o moço apertou a mão do selvagem.
— Não agradece; Peri nada te fez; quem te salvou foi a senhora.
Álvaro sorriu-se da franqueza do índio e corou da alusão que havia em suas palavras.
— Se tu morresses, a senhora havia de chorar; e Peri quer ver a senhora contente.
— Tu te enganas; Cecília é boa, e sentiria da mesma maneira o mal que sucedesse a mim, como a ti, ou a qualquer dos que está acostumada a ver
— Peri sabe por que fala assim; tem olhos que vêem, e ouvidos que ouvem; tu és para a senhora o sol que faz o jambo corado, e o sereno que abre a flor da noite.
— Peri!... exclamou Álvaro.
— Não te zanga, disse o índio com doçura; Peri te ama, porque tu fazes a senhora sorrir. A cana quando está à beira d’água, fica verde e alegre; quando o vento passa, as folhas dizem Ce-ci. Tu és o rio; Peri é o vento que passa docemente, para não abafar o murmúrio da corrente; é o vento que curva as folhas até tocarem na água.
Álvaro fitou no índio um olhar admirado. Onde é que este selvagem sem cultura aprendera a poesia simples, mas graciosa; onde bebera a delicadeza de sensibilidade que dificilmente se encontra num coração gasto pelo atrito da sociedade?
A cena que se desenrolava a seus olhos respondeu-lhe; a natureza brasileira, tão rica e brilhante, era a imagem que produzia aquele espírito virgem, como o espelho das águas reflete o azul do céu.
Quem conhece a vegetação de nossa terra desde a parasita mimosa até o cedro gigante; quem no reino animal desce do tigre e do tapir, símbolos da ferocidade e da força, até o lindo beija-flor e o inseto dourado; quem olha este céu que passa do mais puro anil aos reflexos bronzeados que anunciam as grandes borrascas; quem viu, sob a verde pelúcia da relva esmaltada de flores que cobre as nossas várzeas deslizar mil répteis que levam a morte num átomo de veneno, compreende o que Álvaro sentiu.
Com efeito, o que exprime essa cadeia que liga os dois extremos de tudo o que constitui a vida? Que quer dizer a força no ápice do poder aliada à fraqueza em todo o seu mimo; a beleza e a graça sucedendo aos dramas terríveis e aos monstros repulsivos; a morte horrível a par da vida brilhante?
Não é isso a poesia? O homem que nasceu, embalou-se e cresceu nesse berço perfumado; no meio de cenas tão diversas, entre o eterno contraste do sorriso e da lágrima, da flor e do espinho, do mel e do veneno, não é um poeta?
Poeta primitivo, canta a natureza na mesma linguagem da natureza; ignorante do que se passa nele, vai procurar nas imagens que tem diante dos olhos, a expressão do sentimento vago e confuso que lhe agita a alma.
Sua palavra é a que Deus escreveu com as letras que formam o livro da criação; é a flor, o céu, a luz, a cor, o ar, o sol; sublimes coisas que a natureza fez sorrindo.
A sua frase corre como o regato que serpeja, ou salta como o rio que se despenha da cascata; às vezes se eleva ao cimo da montanha, outras desce e rasteja como o inseto, sutil, delicada e mimosa.
Eis o que a decoração da cena majestosa, no meio da qual se achava, à beira do Paquequer, disse a Álvaro, mas rapidamente, por uma dessas impressões que se projetam no espírito como a luz no espaço.
O moço recebeu a confissão ingênua do índio sem o mínimo sentimento hostil; ao contrário apreciava a dedicação que o selvagem tinha por Cecília, e ia ao ponto de amar a tudo quanto sua senhora estimava.
— Assim, disse Álvaro sorrindo, tu só me amas por que pensas que Cecília me quer? disse o moço.
— Peri só ama o que a senhora ama; porque só ama a senhora neste mundo: por ela deixou sua mãe, seus irmãos e a terra onde nasceu.
— Mas se Cecília não me quisesse como julgas?
— Peri faria o mesmo que o dia com a noite; passaria sem te ver.
— E se eu não amasse a Cecília?
— Impossível!
— Quem sabe? disse o moço sorrindo.
— Se a senhora ficasse triste por ti!... exclamou o índio cuja pupila irradiou.
— Sim? o que farias?
— Peri te mataria.
A firmeza com que eram ditas estas palavras não deixava a menor duvida sobre a sua realidade; entretanto Álvaro apertou a mão do índio com efusão.
Peri temeu ofender o moço; para desculpar a sua franqueza, disse-lhe com um tom comovido:
— Escuta, Peri é filho do sol; e renegava o sol se ele queimasse a pele alva de Ceci. Peri ama o vento; e odiava o vento se ele arrancasse um cabelo de ouro de Ceci. Peri gosta de ver o céu; e não levantava a vista, se ele fosse mais azul do que os olhos de Ceci.
— Compreendo-te, amigo; votaste a tua vida inteira à felicidade dessa menina. Não receies que te ofenda nunca na pessoa dela. Sabes se eu a amo; e não te zangues, Peri, se disser que a tua dedicação não é maior do que a minha. Antes que me matasses, creio que me mataria a mim mesmo se tivera a desgraça de fazer Cecília infeliz.
— Tu és bom; Peri quer que a senhora te ame.
O índio contou então a Álvaro o que se tinha passado na noite antecedente; o moço empalideceu de cólera, e quis voltar em busca do italiano; desta vez não lhe perdoara.
— Deixa! disse o índio Ceci teria medo; Peri vai endireitar isto.
Os dois tinham chegado perto da casa e iam entrar a cerca do vale, quando Peri segurou o braço de Álvaro:
— O inimigo da casa quer fazer mal; defende a senhora; se Peri morrer, manda dizer à sua mãe, e veras todos os guerreiros da tribo chegarem para combaterem contigo, e salvarem Ceci.
— Mas quem é o inimigo da casa?
— Queres saber?
— Decerto; como hei de combatê-lo?
— Tu saberás.
Álvaro quis insistir; mas o índio não lhe deu tempo; meteu-se de novo pelo mato; enquanto o moço subia a escada, ele fazia uma volta ao redor da casa e ganhava o lado para onde dava o quarto de Cecília.
Já tinha avistado ao longe a janela, quando debaixo de uma ramagem surdiu a figura magra e esguia de Aires Gomes, coberta de urtigas e ervas-de-passarinho, e deitando os bofes pela boca.
O digno escudeiro, tendo encontrado em cima de sua cabeça um maldito galho desajeitado, foi de narizes ao chão, e estendeu-se maciamente sobre a relva.
Apesar disto ergueu-se um pouco sobre os cotovelos, e gritou com toda a força dos pulmões:
— Olá! mestre bugre!... D. Cacique!... Caçador de onça viva!... Ouve cá!
Peri não se voltou.
VII NO PRECIPÍCIO
Peri tinha parado para ver Cecília de longe.
Aires Gomes ergueu-se, correu para o índio e deitou-lhe a mão ao braço.
— Afinal pilhei-o, dom caboclo! Safa!... Deu-me água pela barba!... disse o escudeiro resfolgando.
— Deixa! respondeu o índio sem se mover.
— Deixar-te! Uma figa! Depois de ter batido esta mataria toda à tua procura! Tinha que ver!
Com efeito, D. Lauriana desejando ver o índio fora de casa quanto antes, havia expedido o escudeiro em busca de Peri, para trazê-lo à presença de D. Antônio de Matiz.
Aires Gomes, fiel executor das ordens de seus amos, corria o mato havia boas duas horas; todos os incidentes cômicos, possíveis ou imagináveis, tinham-se como que de propósito colocado em seu caminho.
Aqui era uma casa de marimbondos, que ele assanhava com o chapéu, e o faziam bater em retirada honrosa, correndo a todo o estirão das pernas; ali era um desses lagartos de longa cauda que pilhado de improviso se enrolara pelas pernas do escudeiro com uma formidável chicotada.
Isto sem falar das urtigas, e das unhas-de-gato, cabeçadas e quedas, que faziam o digno escudeiro arrenegar-se, e maldizer da selvajaria de semelhante terra! Ah! quem o dera nos tojos e charnecas de sua pátria!
Tinha pois Aires Gomes razão de sobra para não querer largar o índio causa de todas as tribulações por que passara; infelizmente Peri não estava de acordo.
— Larga, já te disse! exclamou o índio começando a irritar-se.
— Tem santa paciência, caboclinho de minha alma! Fé de Aires Gomes, não é possível; e tu sabes! Quando eu digo que não é possível, é como se a nossa madre igreja... Que diabo ia rezar-lhe? Ai! que chamei sem querer a madre igreja de diabo! Forte heresia! Quem se mete a tagarelar dos santos com esta casta de pagão... Tagarelar dos santos!... Virgem Santíssima! Estou incapaz! Cala-te, boca! não me pies mais!
Enquanto o escudeiro desfiava esse discurso, meio solilóquio, no qual havia ao menos o mérito da franqueza, Peri não o ouvia, embebido como estava em olhar para a janela; depois, desprendendo-se da mão que segurava-lhe o braço, continuou o seu caminho.
Aires acompanhou-o pisada sobre pisada, com a impassibilidade de um autômato.
— Que vens fazer? perguntou-lhe o índio.
— E esta! Seguir-te e levar-te à casa; é a ordem.
— Peri vai longe!
— Ainda que vás ao fim do mundo, é o mesmo, filho.
O índio voltou-se para ele com um gesto decidido.
— Peri não quer que tu o sigas.
— Lá quanto a isto, mestre bugre, perdes o teu tempo; por força ainda ninguém levou o filho de meu pai, que bom é que saibas, foi homem de faca e calhau.
— Peri não manda duas vezes!
— Nem Aires Gomes olha atrás quando executa uma ordem.
Peri, o homem da cega dedicação, reconheceu no escudeiro o homem da obediência passiva; sentiu que não havia meio de convencer este executor fiel: assim, resolveu livrar-se dele por meio decisivo.
— Quem te deu a ordem?
— D. Lauriana.
— Para quê?
— Para te levar à casa.
— Peri vai só.
— Veremos!
O índio tirou a sua faca.
— Hein!... gritou o escudeiro. A conversa vai agora nesse tom? Se o Sr. D. Antônio não me tivesse proibido expressamente, eu te mostraria! Mas... Podes matar-me, que eu não arredo pé.
— Peri só mata o seu inimigo, e tu não és; tu teimas, Peri te amarra.
— Como?... Como é lá isso?
O índio começou a cortar com a maior calma um longo cipó que se engranzava pelos galhos das árvores; o escudeiro meio espantado sentia a mostarda subir-lhe ao nariz, esteve quase não quase, atirando-se ao selvagem.
Mas a ordem de D. Antônio era formal; via-se pois obrigado a respeitar o índio; o mais que o digno escudeiro podia fazer era defender-se valentemente.
Quando Peri cortou umas dez braças do cipó que ia enrolando ao pescoço, embainhou a faca, e voltou-se para o escudeiro sorrindo. Aires Gomes sem trepidar puxou a espada e pôs-se em guarda, segundo as regras da nobre e liberal arte do jogo de espadão, que professava desde a mais tenra idade.
Era um duelo original e curioso, como talvez não tenha havido segundo, combate em que as armas lutavam contra a agilidade, e o ferro contra um vime delgado.
— Mestre Cacique, disse o escudeiro rugando o sobrolho; deixa-te de partes: porque, palavra de Aires Gomes, se te encostas, espeto-te na durindana!
Peri estendeu o lábio inferior, em sinal de pouco caso; e começou a voltear rapidamente em torno do escudeiro, num círculo de seis passos de diâmetro que o punha fora do alcance da espada; a sua tenção era assaltar o adversário pelas costas.
Aires Gomes apoiado a um tronco, e obrigado a girar sobre si mesmo para defender as costas, sentiu a cabeça tontear e vacilou. O índio aproveitou o momento, atirou-se a ele, pilhou-o de costas, agarrou-o pelos dois braços, e passou a amarrá-lo ao mesmo tronco da árvore em que estava encostado.
Quando o escudeiro voltou a si da vertigem, uma rodilha de cipós ligava-o ao tronco desde o joelho até os ombros; o índio seguira seu caminho placidamente.
— Bugre de um demo! Perro infernal! gritava o digno escudeiro, tu me pagarás com língua de palmo!...
Sem prestar a menor atenção à ladainha de nomes injuriosos com que o mimoseava Aires Gomes, Peri aproximou-se da casa.
Via Cecília, com a face apoiada na mão, a olhar tristemente o fosso profundo que passava embaixo de sua janela.
A menina, depois do primeiro momento de surpresa em que adivinhou o ciúme de Isabel e o seu amor por Álvaro, conseguiu dominar-se. Tinha a nobre altivez da castidade; não quis deixar ver à sua prima o que sentia nesse momento; era boa também, amava Isabel, e não desejava magoá-la.
Não lhe disse pois uma só palavra de exprobração nem de queixa: ao contrário ergueu-a, beijou-a com carinho, e pediu-lhe que a deixasse só.
— Pobre Isabel! murmurou ela; como deve ter sofrido!
Esquecia-se de si para pensar em sua prima; mas as lágrimas que saltaram de seus olhos, e o soluço que fez arfar os seios mimosos a chamaram ao seu próprio sofrimento.
Ela, a menina alegre e feiticeira que só aprendera a sorrir, ela, o anjinho do prazer que bafejava tudo quanto a rodeava, achou um gozo inefável em chorar. Quando enxugou as lágrimas, sofria menos; sentiu-se aliviada; pôde então refletir sobre o que havia passado.
O amor revelava-se para ela sob uma nova forma; até aquele dia a afeição que sentia por Álvaro era apenas um enleio que a fazia corar, e um prazer que a fazia sorrir.
Nunca se lembrara que esta afeição pudesse passar daquilo que era, e produzir outras emoções que não fossem o rubor e o sorriso; o exclusivismo do amor, a ambição de tornar seu e unicamente seu o objeto da paixão, acabava de ser-lhe revelado por sua prima.
Ficou por muito tempo pensativa; consultou o seu coração e conheceu que não amava assim; nunca a afeição que tinha a Álvaro podia obrigá-la a odiar sua prima, a quem queria como irmã.
Cecília não compreendia essa lata do amor com os outros sentimentos do coração, luta terrível em que quase sempre a paixão vitoriosa subjuga o dever, e a razão. Na sua ingênua simplicidade acreditava que podia ligar perfeitamente a veneração que tinha por seu pai, o respeito que votava à sua mãe, o afeto que sentia por Álvaro, o amor fraternal que consagrava a seu irmão e a Isabel, e a amizade que tinha a Peri.
Estes sentimentos eram toda a sua vida; no meio deles sentia-se feliz; nada lhe faltava: também nada mais ambicionava. Enquanto pudesse beijar a mão de seu pai e de sua mãe, receber uma carícia de seu irmão e de sua prima, sorrir a seu cavalheiro e brincar com o seu escravo, a existência para ela seria de flores.
Assustou-se pois com a necessidade de quebrar um dos fios de ouro que teciam os seus dias inocentes e felizes; sofreu com a idéia de ver em luta duas das afeições calmas e serenas de sua vida.
Teria menos um encanto na sua vida, menos uma imagem nos seus sonhos, menos uma flor na sua alma; porém não faria a ninguém desgraçado, e sobretudo à sua prima Isabel, que às vezes se mostrava tão melancólica.
Restavam-lhe suas outras afeições; com elas pensava Cecília que a existência ainda podia sorrir-lhe; não devia tornar-se egoísta.
Para assim pensar era preciso ser uma menina pura e isenta como ela; era preciso ter o coração como recente botão, que ainda não começou a desatar-se com o primeiro raio do sol.
Estes pensamentos adejavam ainda na mente de Cecília enquanto ela olhava pensativa o fosso, onde tinha caldo o objeto que viera modificar a sua existência.
— Se eu pudesse obter essa prenda? dizia consigo. Mostraria a Isabel como eu a amo e quanto a desejo feliz.
Vendo sua senhora olhar tristemente o fundo do precipício, Peri compreendeu parte do que passava no seu espírito; sem poder adivinhar como Cecília soubera que o objeto tinha caldo ali, percebeu que a moça sentia por isso um pesar.
Nem tanto bastava para que o índio fizesse tudo a fim de trazer a alegria ao rostinho de Cecília; além de que já tinha prometido a Álvaro endireitar isto, como ele dizia na sua linguagem simples.
Chegou-se ao fosso.
Uma cortina de musgos e trepadeiras lastrando pelas bordas do profundo precipício cobria as fendas da pedra; por cima era um tapete de verde risonho sobre o qual adejavam as borboletas de cores vivas; embaixo uma cava cheia de limo onde a luz não penetrava.
Às vezes ouviam-se partir do fundo do balseiro os silvos das serpentes, os pios tristes de algum pássaro, que magnetizado ia entregar-se à morte; ou o tanger de um pequeno chocalho sobre a pedra.
Quando o sol estava a pino, como então, via-se entre a relva, sobre o cálice das campânulas roxas, os olhos verdes de alguma serpente, ou uma linda fita de escamas pretas e vermelhas enlaçando a haste de um arbusto.
Peri pouco se importava com estes habitantes do fosso e com o acolhimento que lhe fariam na sua morada; o que o inquietava era o receio de que não tivesse luz bastante no fundo para descobrir o objeto que ia procurar.
Cortou o galho de uma árvore, que pela sua propriedade, os colonizadores chamaram candeia; tirou o fogo, e começou a descer com o facho aceso. Foi só nessa ocasião que Cecília embebida nos seus pensamentos, viu defronte de sua janela o índio a descer pela encosta.
A menina assustou-se; porque a presença de Peri lembrou-lhe de repente o que se passara pela manhã; era mais uma afeição perdida.
Dois laços quebrados ao mesmo tempo, dois hábitos rompidos um sobre o outro, era muito; duas lágrimas correram pelas suas faces, como se cada uma fosse vertida pelas cordas do coração que acabavam de ser vibradas.
— Peri!
O índio levantou os olhos para ela.
— Tu choras, senhora? disse ele estremecendo.
A menina sorriu-lhe; mas com um sorriso tão triste que partia a alma.
— Não chora, senhora, disse o índio suplicante; Peri vai te dar o que desejas.
— O que eu desejo?
— Sim; Peri sabe.
A moça abanou a cabeça.
— Está ali; e apontou para o fundo do precipício.
— Quem te disse? perguntou a menina admirada.
— Os olhos de Peri.
— Tu viste?
— Sim.
O índio continuou a descer.
— Que vais fazer? exclamou Cecília assustada.
— Buscar o que é teu.
— Meu!... murmurou melancolicamente.
— Ele te deu.
— Ele quem?
— Álvaro.
A moça corou; mas o susto reprimiu o pejo; abaixando os olhos sobre o precipício, tinha visto um réptil deslizando pela folhagem e ouvido o murmúrio confuso e sinistro que vinha do fundo do abismo.
— Peri, disse empalidecendo, não desças; volta!
— Não; Peri não volta sem trazer o que te fez chorar.
— Mas tu vais morrer!
— Não tem medo.
— Peri, disse Cecília com severidade, tua senhora manda que não desças.
O índio parou indeciso; uma ordem de sua senhora era uma fatalidade para ele; cumpria-se irremissivelmente.
Fitou na moça um olhar tímido; nesse momento Cecília, vendo Álvaro na ponta da esplanada junto da cabana do selvagem, retirava-se para dentro da janela corando.
O índio sorriu.
— Peri desobedecer à tua voz, senhora, para obedecer ao teu coração. E o índio desapareceu sob as trepadeiras que cobriam o precipício. Cecília soltou um grito, e debruçou-se no parapeito à janela.
VIII O BRACELETE
O que Cecília viu, debruçando-se à janela, gelou-a de espanto e horror.
De todos os lados surgiam répteis enormes que, fugindo pelos alcantis, lançavam-se na floresta; as víboras escapavam das fendas dos rochedos, e aranhas venenosas suspendiam-se aos ramos das árvores pelos fios da teia.
No meio do concerto horrível que formava o sibilar das cobras e o estrídulo dos grilos, ouvia-se o canto monótono e tristonho da cauã no fundo do abismo.
O índio tinha desaparecido; apenas se via o reflexo da luz do facho.
Cecília, pálida e trêmula julgava impossível que Peri não estivesse morto e já quase devorado por esses monstros de mil formas; chorava o seu amigo perdido, e balbuciava preces pedindo a Deus um milagre para salvá-lo.
Às vezes fechava os olhos para não ver o quadro terrível que se desenrolava diante dela, e abria-os logo para perscrutar o abismo e descobrir o índio
Em um desses momentos um dos insetos que pululavam no meio da folhagem agitada esvoaçou, e veio pousar no seu ombro; era uma esperança, um desses lindos coleópteros verdes que a poesia popular chama lavandeira-de-deus.
A alma nos momentos supremos de aflição suspende-se ao fio o mais tênue da esperança; Cecília sorriu-se entre as lágrimas, tomou a lavandeira entre os seus dedos rosados e acariciou-a.
Precisava esperar; esperou, reanimou-se, e pôde preferir uma palavra ainda com a voz trêmula e fraca:
— Peri!
No curto instante que sucedeu a este chamado, sofreu uma ansiedade cruel; se o índio não respondesse, estava morto; mas Peri falou:
— Espera, senhora!
Entretanto, apesar da alegria que lhe causaram estas palavras, pareceu à menina que eram pronunciadas por um homem que sofria: a voz chegou-lhe ao ouvido surda e rouca.
— Estás ferido? perguntou inquieta.
Não houve resposta; um grito agudo partiu do fundo do abismo, e ecoou pelas fráguas; depois a cauã cantou de novo, e uma cascavel silvando bravia passou seguida por uma ninhada de filhos.
Cecília vacilou; soltando um gemido plangente caiu desmaiada de encontro à almofada da janela.
Quando, passado um quarto de hora, a menina abriu os olhos, viu diante dela Peri que chegava naquele momento, e lhe apresentava sorrindo uma bolsa de malha de retrós, dentro da qual havia uma caixinha de velado escarlate.
Sem se importar com a jóia, Cecília ainda impressionada pelo quadro horrível que presenciara, tomou as mãos do índio e perguntou-lhe com sofreguidão:
— Não estás mordido, Peri?... Não sofres?... Dize!
O índio olhou-a admirado do susto que via no seu semblante.
— Tiveste medo, senhora?
— Muito! exclamou a menina.
O índio sorriu.
— Peri é um selvagem, filho das florestas; nasceu no deserto, no meio das cobras; elas conhecem Peri e o respeitam.
O índio dizia a verdade; o que acabava de fazer era a sua vida de todos os dias no meio dos campos: não havia nisto o menor perigo.
Tinha-lhe bastado a luz do seu facho e o canto da cauã que ele imitava perfeitamente para evitar os répteis venenosos que são devorados por essa ave. Com este simples expediente de que os selvagens ordinariamente se serviam quando atravessavam as matas de noite, Peri descera e tivera a felicidade de encontrar presa aos ramos de uma trepadeira a bolsa de seda, que adivinhou ser o objeto dado por Álvaro.
Soltou então um grito de prazer que Cecília tomou por grito de dor: assim como antes tinha tomado o eco do precipício por uma voz cava e surda.
Entretanto Cecília que não podia compreender como um homem passava assim no meio de tantos animais venenosos sem ser ofendido por eles, atribuía a salvação do índio a um milagre, e considerava a ação simples e natural que acabava de praticar como um heroísmo admirável. A sua alegria por ver Peri livre de perigo, e por ter nas suas mãos a prenda de Álvaro foi tal, que esqueceu tudo o que se tinha passado.
A caixinha continha um simples bracelete de pérolas; mas estas eram do mais paro esmalte e lindas como pérolas que eram; bem mostravam que tinham sido escolhidas pelos olhos de Álvaro, e destinadas ao braço de Cecília.
A menina admirou-as um momento com o sentimento de faceirice que é inato na mulher, e lhe serve de sétimo sentido; pensou que devia ir-lhe bem esse bracelete; levada por esta idéia cingiu-o ao braço, e mostrou a Peri que a contemplava satisfeito de si mesmo.
— Peri sente uma coisa.
— O quê?
— Não ter contas mais bonitas do que estas para dar-te.
— E por que sentes isso?
— Porque te acompanhariam sempre.
Cecília sorriu; ia fazer uma travessura.
— Assim, tu ficarias contente se tua senhora em vez de trazer este bracelete, trouxesse um presente dado por ti?
— Muito.
— E o que me dás tu para que eu me faça bonita? perguntou a menina gracejando.
O índio correu os olhos ao redor de si e ficou triste; podia dar a sua vida, que de nada valia; mas onde iria ele, pobre selvagem, buscar um adorno digno de sua senhora!
Cecília teve pena do seu embaraço.
— Vai buscar uma flor que tua senhora deitará nos seus cabelos, em vez deste bracelete que ela nunca deitará no seu braço.
Estas últimas palavras foram ditas com um tom de energia, que revelava a firmeza do caráter desta menina; ela fechou outra vez o bracelete na caixa e ficou um momento melancólica e pensativa.
Peri voltou trazendo uma linda flor silvestre que encontrara no jardim; era uma parasita aveludada, de lindo escarlate. A menina prendeu a flor nos cabelos, satisfeita por ter cumprido um inocente desejo de Peri, que só vivia para cumprir os seus; e dirigiu-se ao quarto de sua prima, ocultando no seio a caixinha de veludo.
Isabel pretextara uma indisposição; não saíra do seu quarto depois que voltara do aposento de Cecília, tendo traído o segredo de seu amor.
As lágrimas que derramou não foram como as de sua prima, de alivio e consolo; foram lágrimas ardentes, que em vez de refrescarem o coração, o queimam como o rescaldo da paixão.
Às vezes, ainda umedecidos de pranto, seus olhos negros brilhavam com um fulgor extraordinário; parecia que um pensamento delirante passava rapidamente no seu espírito desvairado. Então ajoelhava-se, e fazia uma oração, no meio da qual suas lágrimas vinham de novo orvalhar-lhe as faces.
Quando Cecília entrou, ela estava sentada à beira do leito, com os olhos fitos na janela, por entre a qual se via uma nesga do céu.
Estava bela da melancolia e languidez que prostrava o seu corpo num enlevo sedutor, fazendo realçar as linhas harmoniosas de seu talhe gracioso.
Cecília aproximou-se sem ser vista, e estalou um beijo na face morena de sua prima.
— Já te disse que não te quero ver triste.
— Cecília!... exclamou Isabel sobressaltando-se.
— Que é isto? Faço-te medo?
— Não... mas...
— Mas, o quê?
— Nada...
— Sei o que queres dizer, Isabel, julgaste que conservava uma queixa de ti. Confessa!
— Julguei, disse a moca balbuciando, que me tinha tornado indigna de tua amizade.
— E por quê? Fizeste-me tu algum mal? Não somos nós duas irmãs, que nos devemos amar sempre?
— Cecília, o que tu dizes não é o que tu sentes! exclamou Isabel admirada.
— Algum dia te enganei? replicou Cecília magoada.
— Não; perdoa; porém é que...
A moça não continuou; o olhar terminou o seu pensamento, e exprimiu o espanto que lhe causava o procedimento de Cecília. Mas de repente uma idéia assaltou-lhe o espírito.
Cuidou que Cecília não tinha ciúmes dela, porque a julgava indigna de merecer um só olhar de Álvaro; esta lembrança a fez sorrir amargamente.
— Assim, está entendido, disse Cecília com volubilidade, nada se passou entre nós; não é verdade?
— Tu o queres!
— Quero, sim; nada se passou; somos as mesmas, com uma diferença, acrescentou Cecília corando, que de hoje em diante tu não deves ter segredos para comigo.
— Segredos! Tinha um que já te pertence! murmurou Isabel.
— Porque o adivinhei! Não é assim que desejo; prefiro ouvir de tua boca; quero consolar-te quando estiveres toda tristezinha como agora, e rir-me contigo quando ficares contente. Sim?
— Ah! nunca! Não me peças uma coisa impossível, Cecília! Já sabes demais; não me obrigues a morrer a teus pés de vergonha.
— E por que te causaria isto vergonha? Assim como tu me amas, não podes amar uma outra pessoa?
Isabel escondeu o rosto nas mãos para disfarçar o rubor que subia-lhe às faces; Cecília um pouco comovida olhava sua prima e compreendia nesse momento a causa por que ela própria corava quando sentia os olhos de Álvaro fitos nos seus.
— Cecília, disse Isabel fazendo um esforço supremo, não me iludas, minha prima; tu és boa, tu me amas, e não queres magoar-me; mas não zombes da minha fraqueza. Se soubesses como sofro!
— Não te iludo, já te disse; não desejo que sofras, e menos que sofras por minha causa; entendes?
— Entendo, e juro-te que saberei fazer calar meu coração; se for preciso ele morrerá antes do que dar-te uma sombra de tristeza.
— Não, exclamou Cecília, tu não me compreendes: não é isto que eu te peço, bem ao contrário quero que... sejas feliz!
— Que eu seja feliz? perguntou Isabel arrebatadamente.
— Sim, respondeu a menina abraçando-a e falando-lhe baixinho ao ouvido; que o ames a ele e a mim também.
Isabel ergueu-se pálida, e duvidando do que ouvia; Cecília teve bastante força para sorrir-lhe com um dos seus divinos sorrisos.
— Não, é impossível Tu me queres tornar louca, Cecília?
— Quero tornar-te alegre, respondeu a menina acariciando-a; quero que deixes esse rostinho melancólico, e me abraces como tua irmã. Não o mereço?
— Oh! sim, minha irmã; tu és um anjo de bondade, mas o teu sacrifício é perdido; eu não posso ser feliz, Cecília.
— Por quê?
— Porque ele te ama! murmurou Isabel.
A menina corou.
— Não digas isto, é falso.
— E bem verdade.
— Ele te disse?
— Não, mas adivinhei-o antes de ti mesma.
— Pois te enganaste; e sabes que mais, não me fales nisto. Que me importa o que ele sente a meu respeito?
E a menina conhecendo que a emoção se apoderava dela, fugiu mas voltou da porta.
— Ah! esqueci-me de dar-te uma coisa que trouxe para ti.
Tirou a caixinha de veludo, e abrindo-a, atou o bracelete de pérolas ao braço de Isabel.
— Como te vão bem! Como assentam no teu moreno tão lindo! Ele te achará bonita!
— Este bracelete!...
Isabel teve de repente uma suspeita.
A menina percebeu; ia mentir pela primeira vez na sua vida.
— Foi meu pai que mo deu ontem; mandou vir dois irmãos: um para mim, e outro que eu lhe pedi para ti. Assim, não tens que recusar senão agasto-me contigo.
Isabel abaixou a cabeça.
— Não o tires; eu vou deitar o meu e ficaremos irmãs. Adeus, até logo.
E apinhando os dedos atirou um beijo à prima e saiu correndo.
A travessura e jovialidade do seu gênio já tinham dissipado as impressões tristes da manhã.
IX TESTAMENTO
No momento em que Cecília deixou Isabel, D. Antônio de Mariz subia a esplanada, preocupado por algum objeto importante, que dava à sua fisionomia expressão ainda mais grave que a habitual.
O velho fidalgo avistou de longe seu filho D. Diogo e Álvaro passeando ao longo da cerca que passava no fundo da casa; fez-lhes sinal de que se aproximassem.
Os moços obedeceram prontamente, e acompanharam D. Antônio de Mariz até o seu gabinete d’armas, pequena saleta que ficava ao lado do oratório, e que nada tinha de notável, a não ser a portinha de uma escada que descia para uma espécie de cava ou adega servindo de paiol.
Na ocasião em que se abriram os alicerces da casa, os obreiros descobriram um socavão profundo talhado na pedra; D. Antônio como homem previdente, lembrando-se da necessidade que teria para o futuro de não contar senão com os seus próprios recursos, mandou aproveitar essa abóbada natural, e fazer dela um depósito que pudesse conter algumas arrobas de pólvora.
O fidalgo achara ainda uma outra grande vantagem na sua lembrança; era a tranqüilidade de sua família, cuja vida não estaria sujeita a um descuido de qualquer doméstico ou aventureiro; porque no seu gabinete d’armas ninguém entrava, senão estando ele presente.
D. Antônio sentou-se junto da mesa coberta com um couro de moscóvia e fez sinal aos dois moços para que se sentassem a seu lado.
— Tenho que falar-vos de objeto muito sério, de objeto de família, disse o fidalgo. Chamei-vos para me ouvirdes como em uma coisa que vos interessa e a mim antes do que a todos.
D. Diogo inclinou-se diante de seu pai; Álvaro imitou-o, sentindo um sobressalto ao ouvir aquelas palavras graves e pausadas do velho fidalgo.
— Tenho sessenta anos, continuou D. Antônio; estou velho. O contato deste solo virgem do Brasil, o ar paro destes desertos, remoçou-me durante os últimos anos; mas a natureza reassume os seus direitos; e sinto que o antigo vigor cede a lei da criação que manda voltar à terra aquilo que veio da terra.
Os dois moços iam dizer alguma doce palavra como quando procuramos iludir a verdade àqueles a quem prezamos, esforçando por nos iludirmos a nós próprios.
D. Antônio conteve-os com um gesto nobre:
— Não me interrompais. Não é uma queixa que vos faço; é sim uma declaração que deveis receber, pois é necessária para que possais compreender o que tenho de dizer-vos ainda. Quando durante quarenta anos jogamos nossa vida quase todos os dias, quando vimos a morte cem vezes sobre nossa cabeça, ou debaixo de nossos pés, podemos olhar tranqüilos o termo da viagem que fazemos neste vale de lágrimas.
— Oh! nunca duvidamos de vós, meu pai! exclamou D. Diogo; mas é a segunda vez em dois dias que me falais da possibilidade de uma tal desgraça; e esta só idéia me assusta! Estais forte e vigoroso ainda!
— Decerto, retrucou Álvaro; dizíeis há pouco que o Brasil vos tinha remoçado; e eu afirmo-vos que ainda estais na juventude da segunda vida que vos deu o novo mundo.
— Obrigado, Álvaro, obrigado, meu filho, disse D. Antônio sorrindo; quero acreditar nas vossas palavras. Contudo julgareis que é prudente da parte de um homem que chega ao último quartel da vida, dispor a sua última vontade, e fazer o seu testamento.
— O vosso testamento, meu pai! disse D. Diogo pálido.
— Sim: a vida pertence a Deus, e o homem que pensa no futuro, deve preveni-lo. E costume encarregar-se isto a um escriba; nem o tenho aqui, nem o julgo necessário. Um fidalgo não pode confiar melhor a sua última vontade do que a duas almas nobres e leais como as vossas. Perde-se um papel, rompe-se, queima-se; o coração de um cavalheiro que tem sua espada para defendê-lo, e seu dever para guiá-lo, é um documento vivo e um executor fiel. Este será pois o meu testamento. Ouvi-me.
Os dois cavalheiros conheceram pela firmeza com que falava D. Antônio, que sua resolução era inabalável; se dispuseram a ouvi-lo com uma emoção de tristeza e respeito.
— Não trato de vós, D. Diogo; a minha fortuna pertence-vos como chefe da família que sereis; não trato de vossa mãe, porque perdendo um esposo restar-lhe-á um filho devotado: amo-vos a ambos, e vos bendirei na última hora. Há porém duas coisas que mais prezo neste mundo, duas coisas sagradas que devo zelar como um tesouro ainda mesmo depois que me partir desta vida. É a felicidade de minha filha, e a nobreza do meu nome; uma foi presente que recebi do céu, o outro legado que me deixou meu pai.
O fidalgo fez pausa, e volveu um olhar do rosto triste de D. Diogo para G semblante de Álvaro, que estava em extraordinária agitação.
— A vós, D. Diogo, transmito o legado de meu pai; estou convencido que conservareis o seu nome tão puro como a vossa alma, e os esforçareis por elevá-lo, servindo uma causa santa e justa. A vós, Álvaro, confio a felicidade de minha Cecília; e creio que Deus enviando-vos a mim, fazem já dez anos, não quis senão completar o dom que me havia concedido.
Os dois moços tinham deitado um joelho em terra, e beijavam cada uma das mãos do velho fidalgo, que colocado no meio deles envolvia-os num mesmo olhar de amor paternal.
— Erguei-vos, meus filhos, abraçai-vos como irmãos, e ouvide-me ainda.
D. Diogo abriu os braços, e apertou Álvaro ao peito; um instante os dois corações nobres bateram um de encontro ao outro.
— O que me resta a dizer-vos é difícil; custa sempre confessar uma falta, ainda mesmo quando se fala a almas generosas. Tenho uma filha natural: a estima que voto a minha mulher e o receio de fazer essa pobre menina corar de seu nascimento, obrigaram-me a dar-lhe em vida o titulo de sobrinha.
— Isabel?... exclamou D. Diogo.
— Sim, Isabel é minha filha. Peço-vos a ambos que a trateis sempre como tal; que a ameis como irmã, e a rodeeis de tanto afeto e carinho, que ela possa ser feliz, e perdoar-me a indiferença que lhe mostrei e a infelicidade involuntária que causei à sua mãe.
A voz do velho fidalgo tornou-se um tanto trêmula e comovida; sentia-se que uma recordação dolorosa, adormecida no fundo do coração, havia despertado.
— Pobre mulher!... murmurou ele.
Levantou-se, passeou pelo aposento, e conseguindo dominar a sua emoção, voltou ao dois moços.
— Eis a minha última disposição; sei que a cumprireis; não vos peço um juramento; basta-me a vossa palavra.
D. Diogo estendeu a mão, Álvaro levou a sua ao coração: D. Antônio, que compreendeu tudo quanto dizia essa muda promessa, abraçou-os.
— Agora deixai a tristeza; quero-vos risonhos; eu o estou, vede! A tranqüilidade sobre o futuro vai remoçar-me de novo; e esperareis muito tempo talvez, antes que tenhais de executar a minha vontade, que até lá fica sepultada no vosso coração, como testamento que é.
— Assim o tinha entendido, disse Álvaro.
— Pois então, replicou o fidalgo sorrindo, deveis ficar entendendo também um ponto; é que talvez me incumba eu mesmo de realizar uma das partes do meu testamento. Sabeis qual?
— A da minha felicidade!... respondeu o moço corando.
D. Antônio apertou-lhe a mão.
— Estou contente e satisfeito, disse o fidalgo; pena é que tenha um triste dever a cumprir. Sabeis de Peri, Álvaro?
— Vi-o há pouco.
— Ide e mandai-o a mim.
O moço retirou-se.
— Fazei chamar vossa mãe e vossa irmã, meu filho.
D. Diogo obedeceu.
O fidalgo sentou-se à mesa e escreveu numa tira de pergaminho, que fechou com um retrós e selou com as suas armas.
D. Lauriana e Cecília entraram acompanhadas por D. Diogo.
— Sentai-vos, minha mulher.
D. Antônio reunia sua família para dar uma certa solenidade ao ato que ia praticar.
Quando Cecília entrou, ele perguntou-lhe ao ouvido:
— Que queres tu dar-lhe?
A menina compreendeu imediatamente; a afeição pouco comum que tinham a Peri, a gratidão que lhe votavam, era uma espécie de segredo entre esses dois corações; era uma planta delicada que não queriam expor ao reparo que causaria aos outros amizade tão sincera por um selvagem.
Ouvindo a pergunta de seu pai, Cecília, que neste dia tinha sofrido tantas emoções diversas, lembrou-se do que se tratava.
— Como! sempre pretendeis mandá-lo embora! exclamou ela.
— É necessário; eu te disse.
— Sim; mas pensei que depois houvésseis resolvido o contrário.
— Impossível!
— Que mal faz ele aqui?
— Sabes quanto eu o estimo; quando digo que é impossível, deves crer-me.
— Não vos agasteis!...
— Assim não te opões?
Cecília calou-se.
— Se não queres absolutamente, não se fará; mas tua mãe sofrerá, e eu, porque lhe prometi.
— Não; a vossa palavra antes de tudo, meu pai.
Peri apareceu na porta da sala; uma vaga inquietação ressumbrava no seu rosto, quando viu-se no meio da família reunida.
A atitude era respeitosa, mas o seu porte tinha a altivez inata das organizações superiores; seus olhos grandes, negros e límpidos, percorreram o aposento e fixaram-se na fisionomia venerável do cavalheiro.
Cecília prevendo o que se ia passar tinha-se escondido por detrás de seu irmão D. Diogo.
— Peri, acreditas que D. Antônio de Mariz é teu amigo? perguntou o fidalgo.
— Tanto quanto um homem branco pode ser de um homem de outra cor.
— Acreditas que D. Antônio de Mariz te estima?
— Sim; porque o disse e mostrou.
— Acreditas que D. Antônio de Mariz deseja poder pagar-te o que fizeste por ele, salvando sua filha?
— Se fosse preciso, sim.
— Pois bem, Peri; D. Antônio de Mariz, teu amigo, te pede que voltes à tua tribo.
O índio estremeceu.
— Por que pedes isto?
— Porque assim é preciso, amigo.
— Peri entende; estás cansado de dar-lhe hospitalidade!
— Não!
— Quando Peri te disse que ficava não te pediu nada; sua casa é feita de palha em cima de uma pedra; as árvores do mato lhe dão o sustento; sua roupa foi tecida por sua mãe que veio trazê-la na outra lua. Peri não te custa nada.
Cecília chorava; D. Antônio e seu filho estavam comovidos; D. Lauriana mesma parecia enternecida.
— Não digas isto, Peri! Nunca na minha casa te faltaria a menor coisa, se tu não recusasses tudo e não quisesses viver isolado na tua cabana. Mesmo agora dize o que desejas, o que te agrada, e é teu.
— Por que então mandas Peri embora?
D. Antônio não sabia o que responder; e foi obrigado a procurar um pretexto para explicar ao índio o seu procedimento: a idéia da religião, que todos os povos compreendem, pareceu-lhe a mais própria.
— Tu sabes que nós os brancos temos um Deus, que mora lá em cima, a quem amamos, respeitamos e obedecemos.
— Sim
— Esse Deus não quer que viva no meio de nós um homem que não o adora, e não o conhece; até hoje lhe desobedecemos; agora ele manda.
— O Deus de Peri também mandava que ele ficasse com sua mãe, na sua tribo, junto dos ossos de seu pai; e Peri abandonou tudo para seguir-te.
Houve um momento de silêncio; D. Antônio não sabia o que replicar.
— Peri não te quer aborrecer; só espera a ordem da senhora. Tu mandas que Peri vá, senhora?
D. Lauriana que apenas se tinha falado em religião, voltara às suas prevenções contra o índio, fez um gesto imperioso à sua filha.
— Sim! balbuciou Cecília.
O índio abaixou a cabeça; uma lágrima deslizou-lhe pela face.
O que ele sofria é impossível dizer: a palavra não sabe o segredo das tormentas profundas de uma alma forte e vigorosa, que pela primeira vez sente-se vencida pela dor.
X DESPEDIDA
D Antônio aproximou-se de Peri e apertou-lhe a mão:
— O que eu te devo, Peri, não se paga; mas sei o que devo a mim mesmo. Tu voltas à tua tribo: apesar da tua coragem e esforço, pode a sorte da guerra não te ser favorável, e caíres em poder de algum dos nossos. Este papel te salvará a vida e a liberdade; aceita-o em nome de tua senhora e no meu.
O fidalgo entregou ao índio o pergaminho que há pouco tinha escrito e voltou-se para seu filho:
— Este papel, D. Diogo, assegura a qualquer português de quem Peri possa ser prisioneiro, que D. Antônio de Mariz e seus herdeiros respondem por ele e pelo seu resgate, qualquer que for. É mais um legado que vos deixo a cumprir, meu filho.
— Ficai certo, meu pai, replicou o moço, que saberei responder a essa divida de honra, não só em respeito à vossa memória, como em satisfação dos meus próprios sentimentos.
— Toda a minha família aqui presente, disse o fidalgo dirigindo-se ao índio, te agradece ainda uma vez o que fizestes por ela; reunimo-nos todos para te desejarmos a boa volta ao seio dos teus irmãos e ao campo onde nasceste.
Peri fitou o olhar brilhante no rosto de cada uma das pessoas presentes, como para dizer-lhes o adeus que seus lábios naquela ocasião não podiam exprimir.
Apenas seus olhos se fitaram em Cecília, impelido por uma força invencível atravessou o aposento e foi ajoelhar-se aos pés de sua senhora.
A menina tirou do peito uma pequena cruz de ouro presa a uma fita preta, e deitou-a no pescoço do índio:
— Quando tu souberes o que diz esta cruz, volta, Peri.
— Não, senhora; de onde Peri vai, ninguém voltou.
Cecília estremeceu.
O selvagem ergueu-se, e caminhou para D. Antônio de Mariz, que não podia dominar a sua emoção.
— Peri vai partir; tu mandas, ele obedece; antes que o sol deixe a terra, Peri deixará tua casa; o sol voltará amanhã, Peri não voltará nunca. Leva a morte no seio porque parte hoje; levaria a alegria se partisse no fim da lua.
— Por que razão? perguntou D. Antônio; desde que é necessário que nos separemos, tanto deves sentir hoje como daqui a três dias.
— Não, replicou o índio; tu vais ser atacado amanhã talvez, e Peri estaria contigo para defender-te.
— Vou ser atacado? exclamou D. Antônio pensativo.
— Sim: podes contar.
— E por quem?
— Pelo Aimoré.
— E como sabes isto? perguntou D. Antônio fitando nele um olhar desconfiado.
O índio hesitou durante um momento; estudava a resposta.
— Peri sabe porque viu o pai e o irmão da índia, que teu filho matou sem querer, olharem tua casa de longe, soltarem o grito da vingança, e caminharem para sua tribo.
— E tu o que fizeste?
— Peri viu-os passar; e vem te avisar para que te prepares.
O fidalgo fez com a cabeça um movimento de incredulidade.
— É preciso não te conhecer, Peri, para acreditar no que dizes; tu não podias olhar com indiferença para os inimigos de tua senhora e meus.
O índio sorriu tristemente.
— Eram mais fortes; Peri deixou que passassem.
D. Antônio começou a refletir; parecia evocar as suas reminiscências, e combinar certas circunstâncias que tinha impressas na memória.
Seu olhar abaixando-se do rosto de Peri, caíra sobre os ombros; a princípio vago e distraído como o de um homem que medita, começou a fixar-se e a distinguir um ponto vermelho quase imperceptível, que aparecia no saio de algodão do índio.
À proporção que a vista se firmava, e que o objeto se desenhava mais distinto, o semblante do fidalgo se esclarecia, como se tivesse achado a solução de um difícil problema.
— Estás ferido? exclamou o fidalgo de repente.
Peri recuou um passo; mas D. Antônio lançando-se para ele entreabriu o talho de sua camisa: e tirou-lhe as duas pistolas da cinta, examinou-as, e viu que estavam descarregadas.
O cavalheiro depois deste exame cruzou os braços e contemplou o índio com admiração profunda.
— Peri, disse ele, o que fizeste é digno de ti; o que fazes agora é de um fidalgo. Teu nobre coração pode bater sem envergonhar-se sobre o coração de um cavalheiro português. Tomo-vos a todos por testemunhas, que vistes um dia D. Antônio de Mariz apertar ao seu peito um inimigo de sua raça e de sua religião, como a seu igual em nobreza e sentimentos.
O fidalgo abriu os braços e deu em Peri o abraço fraternal consagrado pelos estilos da antiga cavalaria, da qual já naquele tempo apenas restavam vagas tradições. O índio, de olhos baixos, comovido e confuso, parecia um criminoso em face do juiz.
— Vamos, Peri, disse D. Antônio, um homem não deve mentir, nem mesmo para esconder as suas boas ações. Responde-me a verdade.
— Fala.
— Quem disparou dois tiros junto ao rio, quando tua senhora estava no banho?
— Foi Peri.
— Quem atirou uma flecha que caiu junto de Cecília?
— Um Aimoré, respondeu o índio estremecendo.
— Por que a outra flecha ficou sobre o lugar onde estão os corpos dos selvagens?
Peri não respondeu.
— É escusado negares; tua ferida o diz. Para salvar tua senhora, te ofereceste aos tiros dos inimigos; depois os mataste.
— Tu sabes tudo; Peri não é mais preciso; volta à sua tribo.
O índio lançou um último olhar à sua senhora, e caminhou para a porta
— Peri! exclamou Cecília, fica; tua senhora manda.
Depois correndo para seu pai, e sorrindo-lhe entre as lágrimas, disse com um tom suplicante:
— Não é verdade? Ele não deve partir mais. Vós não podeis mandá-lo embora, depois do que fez por mim?
— Sim! A casa onde habita um amigo dedicado como este, tem um anjo da guarda que vela sobre a salvação de todos. Ele ficará conosco, e para sempre.
Peri, trêmulo e palpitando de alegria e esperança, estava suspenso dos lábios de D. Antônio.
— Minha mulher, disse o fidalgo dirigindo-se a D. Lauriana com uma expressão solene, julgais que um homem que acaba de salvar pela segunda vez vossa filha pondo em risco a sua vida; que, despedido por nós, apesar da nossa ingratidão, a sua última palavra é uma dedicação por aqueles que o desconhecem; julgais que este homem deva sair da casa onde tantas vezes a desgraça teria entrado, se ele ai não estivera?
D. Lauriana, tirados os seus prejuízos, era uma boa senhora: e quando o seu coração se comovia, sabia compreender os sentimentos generosos. As palavras de seu marido acharam eco em sua alma.
— Não, disse ela levantando-se e dando alguns passos; Peri deve ficar, sou eu que vos peço agora esta graça, Sr. D. Antônio de Mariz; tenho também a minha dívida a pagar.
O índio beijou com respeito a mão que a mulher do fidalgo lhe estendera.
Cecília batia as mãos de contente; os dois cavalheiros sorriam, um para o outro, e compreendiam-se. O filho sentia um certo orgulho, vendo seu pai nobre, grande e generoso. O pai conhecia que seu filho o aprovava, e seguiria o exemplo que lhe dava.
Neste momento Aires Gomes apareceu no vão da porta e ficou estupefato.
O que passava era para ele uma coisa incompreensível, um enigma indecifrável para quem ignorava o que sucedera anteriormente.
Pela manhã, depois do almoço, D. Antônio de Mariz, chegando a uma janela da sala, vira uma grande nuvem negra abater-se sobre a margem do Paquequer. A quantidade dos abutres que formavam essa nuvem, indicava que o pasto era abundante; devia ser um ou muitos animais de grande corpulência.
Levado pela curiosidade natural em uma existência sempre igual e monótona, o fidalgo desceu ao rio; encontrou junto da latada de jasmineiros que servia de casa de banho a Cecília, uma pequena canoa em que atravessou para a margem oposta.
Aí descobriu os corpos dos dois selvagens que imediatamente reconheceu pertencerem à raça dos Aimorés; viu que tinham sido mortos com arma de fogo. Nesse momento não se lembrou de coisa alguma senão de que os selvagens iam talvez atacar a sua casa, e um terrível pressentimento cerrou-lhe o coração.
D. Antônio não era supersticioso; mas não pudera eximir-se de um receio vago quando soube da morte que D. Diogo tinha feito involuntariamente e por falta de prudência; fora este o motivo por que se tinha mostrado tão severo com seu filho.
Vendo agora o começo da realização de suas sinistras previsões, aquele receio vago que a princípio sentira, redobrou; auxiliado pela disposição de espírito em que se achava, tornou-se em forte pressentimento.
Uma voz interior parecia dizer-lhe que uma grande desgraça pesava sobre sua casa, e a existência tranqüila e feliz que até então vivera naquele ermo, ia transformar-se numa aflição que ele não sabia definir. Sob a influência desse movimento involuntário da alma, que às vezes sem motivo nos mostra a esperança ou a dor, o fidalgo voltou à casa.
Perto viu dois aventureiros a quem ordenou que fossem imediatamente enterrar os selvagens, e guardassem o maior silêncio sobre isto: não queria assustar sua mulher.
O mais já sabemos.
Pensou que podia a desgraça, que ele temia, recair sobre sua pessoa, e quis dispor a sua última vontade, assegurando o sossego de sua família.
Depois, o aviso de Peri lembrou-lhe de repente o que tinha visto; recordou-se das menores circunstâncias, combinou-as com o que Isabel havia contado a sua tia, e conheceu o que se tinha passado como se o houvesse presenciado.
A ferida do índio que se abrira com as emoções por que passou durante o momento cruel em que sua senhora o mandava partir, tinha manchado o saio de algodão com um ponto quase imperceptível; este ponto foi um raio de luz para D. Antônio.
O escudeiro, o digno Aires Comes, que depois de esforços inauditos conseguira arrastar com o pé a sua espada, levantá-la e com ela cortar os laços que o prendiam, tinha pois razão de ficar pasmado diante do que se passava.
Peri, beijando a mão de D. Lauriana, Cecília contente e risonha, D. Antônio de Mariz e D. Diogo contemplando o índio com um olhar de gratidão; tudo isto ao mesmo tempo, era para fazer enlouquecer ao escudeiro.
Sobretudo para quem souber que apenas livre correra à casa unicamente com o fim de contar o ocorrido e pedir a D. Antônio de Mariz licença para esquartejar o índio; resolvido se o fidalgo lha negasse, a despedir-se do seu serviço, no qual se conservava havia trinta anos; mas tinha uma injúria a vingar, e bem que lhe custasse deixar a casa, Aires Gomes não hesitava.
D. Antônio vendo a figura espantada do escudeiro, riu-se; sabia que ele não gostava do índio, e quis neste dia reconciliar todos com Peri.
— Vem cá, meu velho Aires, meu companheiro de trinta anos. Estou certo que tu, a fidelidade em pessoa, estimarás apertar a mão de um amigo dedicado de toda a minha família.
Aires Gomes não ficou pasmado só; ficou uma estátua. Como desobedecer a D. Antônio que lhe falava com tanta amizade? Mas como apertar a mão que o havia injuriado?
Se já se tivesse despedido do serviço, seria livre; mas a ordem o pilhara de surpresa; não podia sofismá-la.
— Vamos, Aires!
O escudeiro estendeu o braço hirto; o índio apertou-lhe a mão sorrindo.
— Tu és amigo; Peri não te amarrará outra vez.
Por estas palavras todos adivinharam confusamente o que se tinha passado, e ninguém pôde deixar de rir-se.
— Maldito bugre! murmurava o escudeiro entredentes; hás de sempre mostrar o que és.
Era hora do jantar: o toque soou.
XI TRAVESSURA
Na tarde desse mesmo domingo em que tantos acontecimentos se tinham passado, Cecília e Isabel saiam do jardim com o braço na cintura uma da outra.
Estavam vestidas branco; lindas ambas, mas tinha cada uma diversa beleza; Cecília era a graça; Isabel era a paixão; os olhos azuis de uma brincavam; os olhos negros da outra brilhavam.
O sorriso de Cecília, parecia uma gota de mel e perfume que destilavam os seus lábios mimosos; o sorriso de Isabel era como um beijo ideal, que fugia-lhe da boca e ia rogar com as suas asas a alma daqueles que a contemplavam.
Vendo aquela menina loura, tão graciosa e gentil, o pensamento elevava-se naturalmente ao céu, despia-se do invólucro material e lembrava-se dos anjinhos de Deus.
Admirando aquela moça morena, lânguida e voluptuosa, o espírito apegava-se à terra; esquecia o anjo pela mulher; em vez do paraíso, lembrava-lhe algum retiro encantador, onde a vida fosse um breve sonho.
No momento em que saiam do jardim, Cecília, olhava sua prima com um certo arzinho malicioso, que fazia prever alguma travessura das que costumava praticar.
Isabel, ainda impressionada pela cena da manhã, tinha os olhos baixos; parecia-lhe, depois do que se havia passado, que todos, e principalmente Álvaro, iam ler o seu segredo guardado por tanto tempo no fundo de sua alma.
Entretanto sentia-se feliz; uma esperança vaga e indefinida dilatava-lhe o coração e dava à sua fisionomia a expressão de júbilo, expansão da criatura quando acredita ser amada, auréola brilhante que bem se podia chamar a alma do amor.
O que esperava ela? Não sabia; mas o ar lhe parecia mais perfumado, a luz mais brilhante, o olhar via os objetos cor-de-rosa, e o leve roçar da espiguilha do vestido no seu colo aveludado causava-lhe sensações voluptuosas.
Cecília com o misterioso instinto da mulher adivinhava, sem compreender, que alguma coisa de extraordinário se passava em sua prima; e admirava a irradiação de beleza que brilhava no seu moreno semblante.
— Como estás bonita! disse a menina de repente.
E conchegando a face de Isabel aos lábios, imprimiu nela um beijo suave; a moça respondeu afetuosamente à carícia de sua prima.
— Não trouxeste o teu bracelete? exclamou ela reparando no braço de Cecília.
— É verdade! replicou a menina com um gesto de enfado.
Isabel julgou que este gesto era produzido pelo esquecimento; mas a verdadeira causa foi o receio que teve Cecília de se trair.
— Vamos buscá-lo?
— Oh! não! ficaria tarde, e perderíamos o nosso passeio.
— Então devo tirar o meu; já não estamos irmãs.
— Não importa; quando voltarmos prometo-te que ficaremos bem irmãs.
Dizendo isto Cecília sorria maliciosamente.
Tinham chegado à frente da casa. D. Lauriana conversava com seu filho D. Diogo, enquanto D. Antônio de Mariz e Álvaro passeavam pela esplanada conversando.
Cecília se dirigiu ao pai, levando Isabel, que ao aproximar-se do jovem cavalheiro sentiu fugir-lhe a vida.
— Meu pai, disse a menina, nós queremos dar um passeio. A tarde está tão linda! Se eu vos pedisse e ao Sr. Álvaro para que nos acompanhassem?
— Nós faríamos como sempre que tu pedes, respondeu o fidalgo galanteando; cumpriríamos a tua ordem.
— Oh! ordem não, meu pai! Desejo apenas!
— E o que são os desejos de um lindo anjinho como tu?
— Assim, nos acompanhais?
— Decerto.
— E vós, Sr. Álvaro?
— Eu... obedeço.
Cecília falando ao moço não pôde deixar de corar; mas venceu a perturbação e seguiu com sua prima para a escada que descia ao vale.
Álvaro estava triste; depois da conversa que tivera com Cecília, vira-a durante o jantar; a menina evitava os seus olhares, e nem uma só vez lhe dirigira a palavra. O moço supunha que tudo isto era resultado de sua imprudência da véspera; mas Cecília mostrava-se tão alegre e satisfeita que parecia impossível ter conservado a lembrança da ofensa de que ele se acusava.
A maneira por que a menina o tratava tinha mais de indiferença do que de ressentimento: dir-se-ia que esquecera tudo que havia passado; nem guardava já a mínima lembrança da manhã. Era isto o que tornara Álvaro triste, apesar da felicidade que sentira quando D. Antônio o chamara seu filho; felicidade que às vezes parecia-lhe um sonho encantador que ia esvaecer-se.
As duas moças haviam chegado ao vale, e seguiam por entre as moitas de arvoredo que bordavam o campo formando um gracioso labirinto. Às vezes Cecília desprendia-se do braço de sua prima, e correndo pela vereda sinuosa que recortava as moitas de arbustos, escondia-se por detrás da folhagem e fazia com que Isabel a procurasse debalde por algum tempo. Quando sua prima por fim conseguia descobri-la, riam-se ambas, abraçavam-se e continuavam o inocente folguedo.
Uma ocasião porém Cecília, deixou que D. Antônio e Álvaro se aproximassem; a menina tinha um olhar tão travesso e um sorriso tão brejeiro, que Isabel ficou inquieta.
— Esqueci-me dizer-vos uma coisa, meu pai.
— Sim! E o que é?
— Um segredo.
— Pois vem contar-mo.
Cecília separou-se de Isabel; chegando-se para o fidalgo, tomou-lhe o braço.
— Tende paciência por um instante, Sr. Álvaro, disse ela voltando-se; conversai com Isabel; dizei-lhe vossa opinião sobre aquele lindo bracelete... Ainda não o vistes?
E sorrindo afastou-se ligeiramente com seu pai; o segredo que ela tinha, era a travessura que acabava de praticar, deixando Álvaro e Isabel sós, depois de lhes ter lançado uma palavra, que devia produzir o seu efeito.
A emoção que sentiram os dois moços ouvindo o que dissera Cecília é impossível de descrever.
Isabel suspeitou o que se tinha passado; conheceu que Cecília, a enganara para obrigá-la a aceitar o presente de Álvaro; o olhar que sua prima lhe lançara afastando-se com seu pai, lho tinha revelado.
Quanto a Álvaro, não compreendia coisa alguma, senão que Cecília tinha-lhe dado a maior prova de seu desprezo e indiferença; mas não podia adivinhar a razão por que ela associara Isabel a esse ato que devia ser um segredo entre ambos.
Ficando sós em face um do outro, não ousavam levantar os olhos; a vista de Álvaro estava cravada no bracelete; Isabel, trêmula, sentia o olhar do moço, e sofria como se um anel de ferro cingisse o seu braço mimoso.
Assim estiveram tempo esquecido; por fim Álvaro desejoso de ter uma explicação, animou-se a romper o silêncio:
— Que significa tudo isto, D. Isabel? perguntou ele suplicante.
— Não sei!... Fui escarnecida! respondeu Isabel balbuciando.
— Como?
— Cecília fez-me acreditar que este bracelete vinha de seu pai para me fazer aceitá-lo; pois se eu soubesse...
— Que vinha de minha mão? Não aceitaríeis?
— Nunca!... exclamou a moça com fogo.
Álvaro admirou-se do tom com que Isabel proferiu aquela palavra; parecia dar um juramento.
— Qual o motivo? perguntou depois de um momento.
A moça fitou nele os seus grandes olhos negros; havia tanto amor e tanto sentimento nesse olhar profundo, que se Álvaro o compreendesse, teria a resposta à sua pergunta. Mas o cavalheiro não compreendeu nem o olhar nem o silêncio de Isabel: adivinhava que havia nisto um mistério, e desejava esclarecê-lo.
Aproximou-se da moça e disse-lhe com a vez doce e triste:
— Perdoai-me. D. Isabel; sei que vou cometer uma indiscrição; mas o que se passa exige uma explicação entre nós. Dizeis que fostes escarnecida; também eu o fui. Não achais que o melhor meio de acabar com isso, seja o falarmos francamente um ao outro?
Isabel estremeceu.
— Falai: eu vos escuto, Sr. Álvaro.
— Escuso confessar-vos o que já adivinhastes; sabeis a historia deste bracelete, não é verdade?
— Sim! balbuciou a moça.
— Dizei-me pois como ele passou do lugar onde estava, ao vosso braço. Não penseis que vos censuro por isso, não; desejo apenas conhecer até que ponto zombam de mim.
— Já vos confessei o que sabia. Cecília enganou-me.
— E a razão que teve ela para enganar-vos não atinais?
— Oh! se atino... exclamou Isabel reprimindo as palpitações do coração.
— Dizei-ma então. Eu vo-lo peço e suplico!
Álvaro tinha deitado um joelho em terra, e tomando a mão da moça implorava dela a palavra que devia explicar-lhe o ato de Cecília, e revelar-lhe a razão que tivera a menina para rejeitar a prenda que ele havia dado.
Conhecendo esta razão talvez pudesse desculpar-se, talvez pudesse merecer o perdão da menina; e por isso pedia com instância a Isabel que lhe declarasse o motivo por que Cecília a havia enganado.
A moça vendo Álvaro a seus pés, suplicante, tinha-se tornado lívida; seu coração batia com tanta violência que via-se o peito de seu vestido elevar-se com as palpitações fortes e apressadas: o seu olhar ardente caia sobre o moço e o fascinava.
— Falai! dizia Álvaro; falai! Sois boa; e não me deixeis sofrer assim, quando uma palavra vossa pode dar-me a calma e o sossego.
— E se essa palavra vos fizesse odiar-me? balbuciou a moça.
— Não tenhais esse receio; qualquer que seja a desgraça que me anunciardes, será bem-vinda pelos vossos lábios; é sempre um consolo receber-se a má nova da voz amiga!
Isabel ia falar, mas parou estremecendo:
— Ah! não posso! seria preciso confessar-vos tudo!
— E por que não confessais? Não vos mereço confiança? Tendes em mim um amigo.
— Se fôsseis!...
E os olhos de Isabel cintilaram.
— Acabai!
— Se me fôsseis amigo, me havíeis de perdoar.
— Perdoar-vos, D. Isabel! Que me fizeste vós para que vos eu perdoe? disse Álvaro admirado.
A moca teve medo do que havia dito; cobriu o rosto com as mãos.
Todo este diálogo, vivo, animado, cheio de reticências e hesitações da parte de Isabel, tinha excitado a curiosidade do cavalheiro; seu espírito perdia-se num dédalo de dúvidas e incertezas.
Cada vez o mistério se obscurecia mais; a princípio Isabel dizia que tinham escarnecido dela; agora dava a entender que era culpada: o cavalheiro resolveu a todo transe penetrar o que para ele era um enigma.
— D. Isabel!
A moça tirou as mãos do rosto; tinha as faces inundadas de lágrimas.
— Por que chorais? perguntou Álvaro surpreso.
— Não mo pergunteis!...
— Escondeis-me tudo! Deixais-me na mesma dúvida! O que me fizestes vós? Dizei!
— Quereis saber? perguntou a moça com exaltação.
— Tanto tempo há que suplico-vos!
Álvaro tomara as duas mãos da moça, e com os olhos fitos nos dela esperava enfim uma resposta.
Isabel estava branca como a cambraia do seu vestido; sentia a pressão das mãos do moço nas suas e o seu hálito que vinha bafejar-lhe as faces.
— Me perdoareis?
— Sim! Mas por quê?
— Porque...
Isabel pronunciou esta palavra numa espécie de delírio; uma revolução súbita se tinha operado em toda a sua organização.
O amor profundo, veemente, que dormia no intimo de sua alma, a paixão abafada e reprimida, por tanto tempo, acordara, e quebrando as cadeias que a retinham, erguia-se impetuosa e indomável.
O simples contato das mãos do moço tinha causado essa revolução; a menina tímida ia transformar-se na mulher apaixonada: o amor ia transbordar do coração como a torrente caudalosa do leito profundo.
As faces se abrasaram; o seio dilatou-se: o olhar envolveu o moço, ajoelhado a seus pés, em fluidos luminosos; a boca entreaberta parecia esperar, para pronunciá-la, a palavra que sua alma devia trazer aos lábios.
Álvaro fascinado a admirava; nunca a vira tão bela; o moreno suave do rosto e do colo da moça iluminava-se de reflexos doces e tinha ondulações tão suaves, que o pensamento ia, sem querer, enlear-se nas curvas graciosas como para sentir-lhe o contato, espreguiçar-se pelas formas palpitantes.
Tudo isto passara rapidamente enquanto Isabel hesitava ao preferir -a primeira palavra.
Por fim vacilou: reclinando sobre o ombro de Álvaro, como uma flor desfalecida sobre a haste, murmurou:
— Porque... vos amo!
XII PELO AR
Álvaro ergueu-se como se os lábios da moça tivessem lançado nas suas veias uma gota do veneno sutil dos selvagens que matava com um átomo.
Pálido, atônito, fitava na menina um olhar frio e severo; seu coração leal exagerava a afeição pura que votava a Cecília a tal ponto, que o amor de Isabel lhe parecia quase uma injúria; era ao menos uma profanação.
A moça com as lágrimas nos olhos, sorria amargamente; o movimento rápido de Álvaro tinha trocado as posições; agora era ela que estava ajoelhada aos pés do cavalheiro.
Sofria horrivelmente; mas a paixão a dominava; o silêncio de tanto tempo queimava-lhe os lábios; seu amor precisava respirar, expandir-se, embora depois o desprezo e mesmo o ódio o viessem recalcar no coração.
— Prometestes perdoar-me!... disse ela suplicante.
— Não tenho que perdoar-vos, D. Isabel, respondeu o moço erguendo-a; peço-vos unicamente que não falemos mais de semelhante coisa.
— Pois bem! Escutai-me um momento, um instante só, e juro-vos por minha mãe, que não ouvireis nunca mais uma palavra minha! Se quereis, nem mesmo vos olharei! Não preciso olhar para ver-vos!
E acompanhou estas palavras com um gesto sublime de resignação.
— Que desejais de mim? perguntou o moço.
— Desejo que sejais meu juiz. Condenai-me depois; a pena vindo de vos será para mim um consolo. Mo negareis?
Álvaro sentiu-se comovido por essas palavras soltas com o grito de um desespero surdo e concentrado.
— Não cometestes um crime, nem precisais de juiz; mas se quereis um irmão para consolar-vos, tendes em mim um dedicado e sincero.
— Um irmão!... exclamou a moça. Seria ao menos uma afeição.
— E uma afeição calma e serena que vale bem outras, D. Isabel.
A moca não respondeu; sentiu a doce exprobração que havia naquelas palavras; mas sentia também o amor ardente que enchia sua alma e a sufocava.
Álvaro tinha-se lembrado da recomendação de D. Antônio de Mariz; o que a princípio fora uma simples compaixão tornou-se simpatia. Isabel era desgraçada desde a infância; devia pois consolá-la e desde já cumprir a última vontade do velho fidalgo, a quem amava e respeitava como pai.
— Não recuseis o que vos peço, disse ele afetuosamente, aceitai-me por vosso irmão.
— Assim deve ser, respondeu Isabel tristemente. Cecília me chama sua irmã; vós deveis ser meu irmão. Aceito! Sereis bom para mim?
— Sim, D. Isabel.
— Um irmão não deve tratar sua irmã pelo seu nome simplesmente? perguntou ela com timidez.
Álvaro hesitou.
— Sim, Isabel.
A moça recebeu essa palavra como um gozo supremo; parecia-lhe que os lábios do cavalheiro, pronunciando assim familiarmente o seu nome, a acariciavam.
— Obrigada! Não sabeis que bem me faz ouvir-vos chamar-me assim. É preciso ter sofrido muito para que a felicidade esteja em tão pouco.
— Contai-me as vossas mágoas.
— Não; deixai-as comigo; talvez depois as conte; agora só quero mostrar-vos que não sou tão culpada como pensais.
— Culpada! Em quê?
— Em querer-vos, disse Isabel corando.
Álvaro tornou-se frio e reservado.
— Sei que vos incomodo; mas é a primeira e a última vez; ouvi-me, depois ralhareis comigo, como um irmão com sua irmã.
A voz de Isabel era tão doce, seu olhar tão suplicante, que Álvaro não pôde resistir.
— Falai, minha irmã.
— Sabeis o que eu sou; uma pobre órfã que perdeu sua mãe muito cedo, e não conheceu seu pai. Tenho vivido da compaixão alheia; não me queixo, mas sofro. Filha de duas raças inimigas devia amar a ambas; entretanto minha mãe desgraçada fez-me odiar a uma, o desdém com que me tratam fez-me desprezar a outra.
— Pobre moça! murmurou Álvaro lembrando-se segunda vez das palavras de D. Antônio de Mariz.
— Assim isolada no meio de todos, alimentando apenas o sentimento amargo que minha mãe deixara no meu coração, sentia a necessidade de amar alguma coisa. Não se pode viver somente de ódio e desprezo!...
— Tendes razão, Isabel.
— Inda bem que me aprovais. Precisava amar; precisava de uma afeição que me prendesse à vida. Não sei como, não sei quando, comecei a amar-vos; mas em silêncio, no fundo de minha alma.
A moça embebeu um olhar nos olhos de Álvaro.
— Isto me bastava. Quando vos tinha olhado horas e horas, sem que o percebêsseis, julgava-me feliz; recolhia-me com a minha doce imagem, e conversava com ela, ou adormecia sonhando bem lindos sonhos.
O cavalheiro sentia-se perturbado; mas não ousava interromper a Isabel.
— Não sabeis que segredos tem esse amor que vive só de suas ilusões, sem que um olhar, uma palavra o alimente. A mais pequenina coisa é um prazer, uma ventura suprema. Quantas vezes não acompanhava o raio de lua que entrava pela minha janela e que vinha a pouco e pouco se aproximando de mim; julgava ver naquela doce claridade o vosso semblante, e esperava trêmula de prazer como se vos esperasse. Quando o raio se chegava, quando a sua luz acetinada cala sobre mim, sentia um gozo imenso; acreditava que me sorríeis, que vossas mãos apertavam as minhas, que vosso rosto se reclinava para mim, e vossos lábios me falavam...
Isabel pendeu a cabeça lânguida sobre o ombro de Álvaro; o cavalheiro palpitando de emoção passou o braço pela cintura da moça e apertou-a ao coração; mas de repente afastou-se com um movimento brusco.
— Não vos arreceeis de mim, disse ela com melancolia, sei que não me deveis amar. Sois nobre e generoso; o vosso primeiro amor será o último. Podeis-me ouvir sem temor.
— Que vos resta dizer-me ainda? perguntou Álvaro.
— Resta a explicação que há pouco me pedíeis.
— Ah! enfim!
Isabel contou então como apesar de toda a força de vontade com que guardava o seu segredo, se havia traído; contou a conversa de Cecília e o modo por que a menina lhe fizera aceitar o bracelete.
— Agora sabeis tudo; o meu afeto vai de novo entrar no meu coração, donde nunca sairia se não fosse a fatalidade que fez com que vos aproximásseis de mim, e me dirigisse algumas palavras doces. A esperança para as almas que não a conheceram ainda, ilude tanto e fascina, que devo merecer-vos desculpa. Esquecei-me, meu irmão, antes que lembrar-vos de mim para odiar-me!
— Fazei-me uma injustiça, Isabel; não posso é verdade ser para vós senão um irmão, mas esse titulo sinto que o mereço pela estima e pela afeição que me inspirais. Adeus, minha boa irmã.
O moço pronunciou estas últimas palavras com uma terna efusão, e apertando a mão de Isabel, desapareceu: precisava estar só para refletir sobre o que lhe acontecia.
Estava agora convencido que Cecília não o amava, e nunca o havia amado; e esta descoberta tinha lugar no mesmo dia em que D. Antônio de Mariz lhe dava a mão de sua filha!
Sob o peso da mágoa dolorosa, como é sempre a primeira mágoa do coração, o cavalheiro afastou-se distraído, com a cabeça baixa; caminhou sem direção, seguindo a linha que lhe traçavam os grupos de árvores, destacados aqui e ali sobre a campina.
Estava quase a anoitecer: a sombra pálida e descorada do crepúsculo estendia-se como um manto de gaza sobre a natureza; os objetos iam perdendo a forma, a cor, e ondulavam no espaço vagos e indecisos.
A primeira estrela engolfada no azul do céu luzia a furto como os olhos de uma menina que se abrem ao acordar, e cerram-se outra vez temendo a claridade do dia: um grilo escondido no toco de uma árvore começava a sua canção; era o trovador inseto saudando a aproximação da noite.
Álvaro continuava o seu passeio, sempre pensativo, quando de repente sentiu um sopro vivo bafejar-lhe o rosto; erguendo os olhos viu diante de si uma longa flecha fincada no chão, e que ainda oscilava com o movimento que lhe tinha imprimido o arco.
O moço recuou um passo e levou a mão à cinta; logo refletindo aproximou-se da seta e examinou a plumagem de que estava ornada; eram de um lado penas de azulão e do outro penas de garça.
Azul e branco eram as cores de Peri; eram as cores dos olhos e do rosto de Cecília.
Um dia a menina, semelhante a uma gentil castelã da idade Média, tinha se divertido em explicar ao índio, como os guerreiros que serviam uma dama, costumavam usar nas armas de suas cores.
— Tu dás a Peri as tuas cores, senhora? disse o índio.
— Não tenho, respondeu a menina; mas vou tomar umas para te dar; queres?
— Peri te pede.
— Quais achas mais bonitas?
— A de teu rosto, e a de teus olhos.
Cecília sorriu.
— Toma-as eu tas dou.
Desde este dia, Peri enramou todas as suas setas de penas azuis e brancas; seus ornatos, além de uma faixa de plumas escarlates que fora tecida por sua mãe, eram ordinariamente das mesmas cores.
Foi por esta razão que Álvaro, vendo a plumagem da seta, tranqüilizou-se; conheceu que era de Peri, e compreendeu o sentido da frase simbólica que o índio lhe mandava pelos ares.
Com efeito aquela flecha na linguagem de Peri não era mais do que um aviso dado em silêncio e de uma grande distancia; uma carta ou mensageira muda, uma simples interjeição: Alto!
O moço esqueceu os seus pensamentos e lembrou-se do que Peri lhe havia dito pela manhã; naturalmente o que acabava de fazer tinha relação com esse mistério que apenas deixara entrever.
Correu os olhos pelo espaço que se estendia diante dele, e sondou com o olhar as moitas que o cercavam, não viu nada que merecesse atenção, não percebeu um sinal que lhe indicasse a presença do índio.
Álvaro resolveu pois esperar; e parando junto da flecha, cruzou os braços, e com os olhos fitos na linha escura da mata que se recortava no fundo azul do horizonte, esperou.
Um instante depois uma pequena seta açoitando o ar veio cravar-se no tope da primeira, e abalou-a com tal força que a haste inclinou-se; Álvaro compreendeu que o índio queria arrancar a flecha, e obedeceu à ordem.
Imediatamente terceira seta caiu dois passos à direita do cavalheiro, e outras foram-se sucedendo na mesma direção de duas em duas braças até que uma mergulhou-se num arvoredo basto que ficava a trinta passos do lugar onde parara a princípio.
Não era difícil desta vez compreender a vontade de Peri; Álvaro, que acompanhava as setas a proporção que caiam, e que sabia indicarem elas o lugar onde devia parar, apenas viu a última sumir-se no arvoredo, escondeu-se por entre a folhagem.
Daí, com pequeno intervalo, viu três vultos que passavam pouco mais ou menos pelo lagar que há pouco havia deixado; Álvaro não os pôde conhecer por causa da ramagem das árvores, mas viu que caminhavam cautelosamente, e pareceu-lhe que tinham as pistolas em punho.
Os vultos afastaram-se dirigindo-se à casa; o cavalheiro ia segui-los, quando as folhas se abriram, e Peri resvalando como uma sombra, sem fazer o menor rumor, aproximou-se dele, e disse-lhe ao ouvido uma palavra:
— São eles.
— Eles quem?
— Os inimigos brancos.
— Não te entendo.
— Espera: Peri volta.
E o índio despareceu de novo nas sombras da noite que avançava rapidamente.
XIII TRAMA
Tornemos ao lugar onde deixamos Loredano e seus dois companheiros.
O italiano depois que Álvaro e Peri se afastaram, levantou-se; passada a primeira emoção, sentira um acesso de raiva e desespero por lhe escaparem os seus inimigos.
Um instante lembrou-se de chamar os cúmplices para atacar o cavalheiro e o índio; mas essa idéia desvaneceu-se logo; o aventureiro conhecia os homens que o seguiam; sabia que podia fazer deles assassinos, mas nunca homens de energia e resolução.
Ora, os dois inimigos que tinha a combater, eram respeitáveis; e Loredano temeu comprometer ainda mais a sua causa, já muito mal parada. Devorou pois em silêncio a sua raiva, e começou a refletir nos meios de sair da posição difícil em que se achava.
Neste meio tempo Rui Soeiro e Bento Simões vinham-se aproximando receosos do que tinham visto, e temendo o menor incidente que complicasse a situação.
Loredano e seus companheiros olharam-se em silêncio um momento; havia nos olhos destes últimos uma interrogação muda e inquieta, a que respondia perfeitamente o rosto pálido e contraído do italiano.
— Não era ele!... murmurou o aventureiro com a voz surda.
— Como sabeis?
— Se fosse, acreditais que me deixasse a vida?
— É verdade; mas quem foi então?
— Não sei; porém agora pouco importa. Quem quer que fosse, é um homem que sabe o nosso segredo e pode denunciá-lo, se já não o fez.
— Um homem?... murmurou Bento Simões que até então se conservava silencioso.
— Sim; um homem. Quereis que fosse uma sombra?
— Uma sombra não, mas um espírito! acudiu o aventureiro.
O italiano sorriu de escárnio.
— Os espíritos têm mais que fazer para se ocuparem com o que vai por este mundo; guardai as vossas abusões, e pensemos seriamente no partido que devemos tomar.
— Lá quanto a isso, Loredano, é escusado; ninguém me tira que anda em tudo isto uma coisa sobrenatural.
— Quereis calar-vos, estúpido carola! replicou o italiano com impaciência.
— Estúpido!... Estúpido sois vós que não vistes que não há ouvido de criatura que pudesse ouvir as nossas palavras, nem voz humana que saia da terra. Vinde! E vou mostrar-vos se o que digo é ou não é verdade.
Os dois acompanharam Bento Simões e voltaram à touça de cardos, onde tivera lugar a sua entrevista.
— Ide, Rui e falai à goela despregada para ver se Loredano ouve uma palavra sequer.
Com efeito a experiência mostrou-lhes o que Peri tinha conhecido; que o som da voz entaipado dentro daquela espécie de tubo, se elevava e perdia no ar, sem que dos lados se pudesse perceber a menor frase. Se porém o italiano se tivesse colocado sobre o formigueiro que penetrava até ao chão onde há pouco estavam sentados, teria tido a explicação da cena anterior.
— Agora, disse Bento Simões, entrai; eu gritarei e vereis que a palavra vos passará pela cabeça e não sairá da terra.
— Quanto a isso pouco se me dá, respondeu o italiano. A outra observação, sim, tranqüiliza-me. O homem que nos ameaçou não ouviu; desconfia apenas.
— Ainda insistis em que fosse um homem?
— Escutai, amigo Bento Simões; há uma coisa de que tenho mais medo do que de uma cobra; é de um homem visionário.
— Visionário! dizei crente!
— Um vale outro. Visionário ou crente, se me falais outra vez em espíritos e milagres, prometo-vos que ficareis neste lugar onde servireis de carniça aos urubus.
O aventureiro tornou-se esverdinhado; não era a idéia da morte e sim da pena eterna que segundo uma crença religiosa, sofrem as almas cujos corpos ficam insepultos, o que mais o horrorizava.
— Pensastes?
— Sim.
— Admitis que fosse um homem?
— Admito tudo.
— Jurais.
— Juro.
— Sobre...
— Sobre a minha salvação.
O italiano soltou o braço do miserável, que caiu de joelhos pedindo ao Deus que ofendia perdão para o perjúrio que acabava de cometer.
Rui Soeiro voltou: os três seguiram calados o caminho que tinham feito, Loredano pensativo, seus companheiros cabisbaixos.
Sentaram-se à sombra de uma árvore; ai permaneceram quase uma hora, sem saber o que deviam fazer, nem o que podiam esperar. A posição era critica, reconheciam que se achavam num desses lances da vida, em que um passo, um movimento, precipita o homem no fundo do abismo, ou o salva da morte que vai cair sobre ele.
Loredano media a situação com a audácia e energia que nunca o abandonava nas ocasiões extremas; uma lata violenta se travara neste homem; só tinha agora um sentimento, uma fibra; era a sede ardente do gozo, sensualidade exacerbada pelo ascetismo do claustro e o isolamento do deserto. Comprimida desde a infância, a sua organização se expandira com veemência no meio deste pais vigoroso, aos raios do sol ardente que fazia borbulhar o sangue.
Então, no delírio dos instintos materiais, surgiram duas paixões violentas.
Uma era a paixão do ouro; a esperança de poder um dia deleitar-se na contemplação do tesouro fabuloso que como Tântalo ele ia tocar e fugia-lhe.
A outra era paixão do amor; a febre que lhe requeimava o sangue quando via aquela menina inocente e cândida, que parecia não dever inspirar senão afeições castas.
A lata que naquele momento o agitava, dava-se entre essas duas paixões. Devia fugir e salvar o seu tesouro, perdendo Cecília? Devia ficar e arriscar a vida para saciar o seu desejo infrene?
As vezes dizia consigo que bastava-lhe a riqueza para poder escolher no mundo uma mulher que amasse; outras parecia-lhe que o universo inteiro sem Cecília ficaria deserto, e inútil lhe seria todo o ouro que ia conquistar.
Por fim ergueu a cabeça. Seus companheiros esperavam uma palavra sua como o oráculo do seu destino; prepararam-se para ouvi-lo.
— Só há duas coisas a fazer, ou entrarmos na casa, ou fugirmos daqui mesmo; é preciso resolver. Que pensais vós?
— Eu penso, disse Bento Simões trêmulo ainda, que devemos fugir quanto antes, e andar dia e noite sem parar.
— E vós, Rui, sois do mesmo aviso?
— Não; fugir é nos denunciar e perder. Três homens sós neste sertão, obrigados a evitar o povoado, não podem viver; temos inimigos por toda a parte.
— Que propondes então?
— Que entremos em casa como se nada tivesse passado; ou estamos descobertos, e neste caso ainda faltam as provas para nos condenarem; ou ignoram tudo e não corremos o menor risco.
— Tendes razão, disse o italiano, devemos voltar; nessa casa está a nossa fortuna, ou a nossa ruína. Achamo-nos numa posição em que devemos ganhar tudo ou perder tudo.
Houve longa pausa durante que o italiano refletia.
— Com quantos homens contais, Rui? perguntou ele.
— Com oito.
— E vós, Bento?
— Sete.
— Decididos?
— Prontos ao menor sinal.
— Bem, disse o italiano com o desempeno de um chefe dispondo o plano da batalha; trazei cada um os vossos homens amanhã a esta hora; é preciso que à noite tudo esteja concluído.
— E agora o que vamos fazer? perguntou Bento Simões.
— Vamos esperar que escureça; à boca da noite nos achegaremos da casa. Um de nós à sorte entrará primeiro; se nada houver, dará sinal aos outros. Assim, quando um se perca, dois ao menos terão ainda esperança de salvar-se.
Os aventureiros resolveram passar o dia no mato; uma caça, algumas frutas silvestres deram-lhes simples mas abundante refeição.
Por volta de cinco horas da tarde se encaminharam à casa, a fim de sondarem o que passava, e realizarem o seu projeto.
Antes de partirem, Loredano carregou a clavina, mandou seus companheiros carregar as suas, e disse-lhes:
— Assentai bem nisto. Na posição difícil em que estamos, quem não é nosso amigo é nosso inimigo. Pode ser um espião, um denunciante; em todo o caso será depois menos um que teremos contra nós.
Os dois compreenderam a justeza dessa observação, e seguiram com as armas engatilhadas, olho vivo e ouvido alerta.
Apesar porém da sua atenção, não viram agitar-se as folhas a dois passos deles e estender-se pelos arbustos uma ondulação que parecia produzida pela correnteza do vento.
Era Peri; havia um quarto de hora que ele acompanhava os aventureiros como a sua sombra; o índio deixando D. Antônio dera pela sua ausência e conjeturando que eles tramavam alguma coisa, lançou-se em sua procura.
O italiano e seus companheiros caminhavam já havia pedaço, quando Bento Simões parou:
— Quem entrará primeiro?
— A sorte decidirá, respondeu Rui.
— Como?
— Desta maneira, disse o italiano. Vedes aquela árvore? O que primeiro chegar a ela será o último a entrar; o último será o primeiro.
— Está dito!
Os três meteram as armas à cinta e prepararam-se para a corrida.
Peri ouvindo-os teve uma inspiração: os aventureiros iam separar-se; como Loredano, ele também disse consigo:
— O último será o primeiro.
E tomando três flechas, esticou a corda do arco; mataria os aventureiros sem que um percebesse a morte dos outros.
Os três partiram; mas não tinham feito uma braça de caminho quando Bento Simões tropeçando, foi de encontro a Loredano, e estendeu-se no chão, ao fio comprido do lombo.
Loredano soltou uma blasfêmia, Bento gritou misericórdia; Rui que já ia adiante, voltou julgando que alguma coisa sucedia.
O plano de Peri tinha gorado.
— Sabeis, disse Loredano, que no páreo perde aquele que se deixou cair. Sereis o primeiro, amigo Bento.
O aventureiro não tugiu.
Peri não perdera a esperança de lhe deparar a fortuna outra ocasião favorável para realizar o seu projeto; seguiu-os. Foi então que de longe por baixo das árvores avistou Álvaro na mesma direção em que iam os aventureiros; despedindo uma seta por elevação dera ao cavalheiro o primeiro sinal, e os outros que o fizeram afastar-se.
Deixando Álvaro, a intenção do índio era atalhar os aventureiros, esperá-los junto à cerca; e quando eles se separassem para entrar um a um, matá-los.
Mas uma fatalidade parecia perseguir o índio, e proteger seus inimigos.
Quando Bento Simões, destacando-se dos companheiros, entrou a cerca, Peri ouviu naquela direção a voz de Cecília que voltava do passeio com seu pai e sua prima.
A mão do índio, que nunca tremera no meio do combate, caiu inerte; escapou-lhe o arco, só com a idéia de que a seta que ia atirar pudesse assustar a menina, quanto mais ofendê-la.
Bento Simões passou incólume.
XIV A XÁCARA
Peri viu passar pouco depois Loredano e Rui Soeiro.
Era a terceira vez que os aventureiros depois de estarem na sua mão lhe escapavam por uma espécie de fatalidade.
O índio refletiu alguns momentos e tomou uma resolução definitiva; modificou inteiramente o seu plano. A princípio decidira não atacar os três inimigos de frente, não porque os temesse, mas sim porque receava que morrendo pudessem realizar a salvo o projeto, cujo segredo só ele sabia.
Conheceu porém que não havia remédio senão recorrer a este expediente; o tempo corria; de um momento para outro podia o italiano executar a sua trama.
O que precisava era achar um meio para, no caso de sucumbir, prevenir a D. Antônio de Mariz do perigo que o ameaçava; este meio havia já acudido ao pensamento do índio.
Foi ter com Álvaro que o esperava.
O moço já o tinha esquecido; pensava em Cecília, na sua afeição quebrada, na sua mais doce esperança marcha, e talvez perdida para sempre.
Às vezes também apresentava-se ao seu espírito a imagem melancólica de Isabel; lembrava-se que ela também amava, e não era amada. Esta lembrança criava certo laço entre ele e a moca; ambos sofriam pela mesma causa, ambos sentiam o mesmo pesar, e curtiam igual desengano.
Depois vinha a idéia de que era a ele que Isabel amava; sem querer repassava na memória as ternas palavras; revia o sorriso triste e os olhares de fogo que se aveludavam com a languidez do amor.
Parecia-lhe que sentia ainda o hálito perfumado da moça, a pressão da cabeça desfalecida em seu ombro, o contato das mãos trêmulas, e o eco das queixas murmuradas pela voz maviosa.
O coração lhe palpitava com violência; esquecia-se revendo a bela imagem, de um moreno suave, a que o amor dava reflexos e uma auréola esplêndida.
Mas de repente estremecia, como se a moça ainda estivesse perto dele; passava a mão pela fronte para arrancar as reminiscências que o incomodavam; e tornava à indiferença de Cecília e ao desengano de suas esperanças.
Quando Peri se aproximou, Álvaro estava num dos momentos de tédio e desapego da vida, que sucedem às dores profundas.
— Dize-me, Peri. Falaste de inimigos?
— Sim; respondeu o índio.
— Quero conhecê-los.
— Para quê?
— Para atacá-los.
— Mas são três.
— Melhor.
O índio hesitou:
— Não; Peri quer combater só os inimigos de sua senhora; se ele morrer, tu saberás tudo; acaba então o que Peri tiver começado.
— Para que este mistério? Não podes dizer já quem são esses inimigos?
— Peri pode; mas não quer dizer.
— Por quê?
— Porque tu és bom e pensas que os outros também são; tu defenderás os maus.
— Oh! que não. Fala!
— Ouve. Se Peri não aparecer amanhã, tu não tornarás a vê-lo; mas a alma de Peri voltará para te dizer os nomes deles.
— Como?
— Tu verás. São três; querem ofender a senhora, matar seu pai, a ti, a todos da casa. Têm outros que os seguem.
— Uma revolta!... exclamou Álvaro.
— O primeiro deles quer fugir e levar Ceci, que tu amas; mas Peri não deixará.
— É impossível! disse o moço surpreendido.
— Peri te diz a verdade.
— Não creio!...
Com efeito o cavalheiro atribuindo as desconfianças do índio a uma exageração filha da sua dedicação extrema pela filha de D. Antônio, não podia acreditar no horrível atentado: sua direitura de sentimentos repelia a possibilidade de um crime tal!
O fidalgo era amado e respeitado por todos os aventureiros; nunca durante dez anos que o moço o acompanhava, se tinha dado na banda um só ato de insubordinação contra a pessoa do chefe; havia faltas de disciplina, rixas entres os companheiros, tentativas de deserção; mas não passava disto.
O índio sabia que Álvaro duvidaria do que se passava; e por isso se obstinava em guardar parte do segredo, receando que o moço com seu cavalheirismo não tomasse o partido dos três aventureiros.
— Tu duvidas de Peri?
— Quem faz uma acusação tal, precisa prová-la. Tu és um amigo, Peri; mas os outros também o são, e têm o direito de se defenderem.
— Quando um homem vai morrer, tu julgas que ele mente? perguntou o índio com firmeza.
— Que queres dizer com isso?
— Peri vai vingar sua senhora; vai se separar de tudo quanto ama; se ele perder a vida, dirás ainda que se engana?
Álvaro foi abalado pelas palavras do índio.
— Melhor é que fales a D. Antônio de Mariz.
— Não; ele e tu servem para combater homens que atacam pela frente; Peri sabe caçar o tigre na floresta, e esmagar a cobra que vai lançar o bote.
— Mas então o que queres de mim?
— Que se Peri morrer, acredites no que ele te diz e faças o que ele fez; que salves a senhora!
— Assassinar?... Nunca, Peri; nunca o meu braço brandirá o ferro senão contra o ferro!
O índio lançou ao moço um olhar que brilhou nas trevas.
— Tu não amas Ceci!
Álvaro estremeceu.
— Se tu a amasses, matarias teu irmão para livrá-la de um perigo.
— Peri, talvez não compreendas o que vou dizer-te. Daria a minha vida sem hesitar por Cecília; mas a minha honra pertence a Deus e à memória de meu pai.
Os dois homens olharam-se um momento em silêncio; ambos tinham a mesma grandeza de alma e a mesma nobreza de sentimentos; entretanto as circunstâncias da vida haviam criado neles um contraste.
Em Álvaro, a honra e um espírito de lealdade cavalheiresca dominavam todas as suas ações; não havia afeição ou interesse que pudesse quebrar a linha invariável, que ele havia traçado, e era a linha do dever.
Em Peri a dedicação sobrepujava tudo; viver para sua senhora, criar em torno dela uma espécie de providência humana, era a sua vida; sacrificaria o mundo se possível fosse, contanto que pudesse, como o Noé dos índios, salvar uma palmeira onde abrigar Cecília.
Entretanto essas duas naturezas, uma filha da civilização, a outra filha da liberdade selvagem, embora separadas por distancia imensa, compreendiam-se: a sorte lhes traçara um caminho diferente; mas Deus vazara em suas almas o mesmo germe do heroísmo que nutre os grandes sentimentos.
Peri conheceu que Álvaro não cederia; Álvaro sabia que Peri apesar de sua recusa, cumpriria exatamente o que tinha resolvido.
O índio a princípio parecia impressionado pela obstinação do cavalheiro; porém ergueu a cabeça com um gesto altivo, e batendo com a mão no peito largo e vitorioso, disse em tom de energia:
— Peri só, defenderá sua senhora: não precisa de ninguém. É forte; tem como a andorinha as asas de suas flechas; como a cascavel o veneno das setas; como o tigre a força do seu braço; como a ema a velocidade de sua carreira. Só pode morrer uma vez; mas uma vida lhe basta.
— Pois bem, amigo, respondeu o cavalheiro com nobreza, vais realizar o teu sacrifício; eu cumprirei o meu dever. Tenho uma vida também, e a minha espada. Farei de uma a sombra de Cecília; com a outra traçarei em torno dela um circulo de ferro. Podes ficar certo que os inimigos que passarem por cima de teu corpo, acharão o meu antes de chegarem à tua senhora.
— Tu és grande; podias ter nascido no deserto, e ser o rei das florestas; Peri te chamaria irmão.
Apertaram as mãos e dirigiram-se a casa; em caminho Álvaro lembrou-se que ainda não conhecia os homens contra os quais tinha de defender Cecília: perguntou seus nomes; Peri recusou formalmente e prometeu que o cavalheiro saberia, quando fosse tempo.
O índio tinha a sua idéia.
Chegando à casa os dois separaram-se; Álvaro ganhou o aposento que ocupava; Peri encaminhou-se para o jardim de Cecília.
Eram então oito horas da noite; toda a família se achava reunida na ceia; o quarto da menina estava às escuras. Peri examinou os arredores para ver se tudo estava tranqüilo e em sossego; e sentou-se num banco do jardim.
Meia hora depois uma luz esclareceu a janela do quarto, e a porta abrindo-se deixou ver o corpinho gracioso de Cecília que destacava no vão esclarecido.
A menina avistando o índio correu para ele.
— Meu pobre Peri, disse ela; tu sofreste hoje muito, não é verdade? E achaste tua senhora bem má e bem ingrata, porque te mandou partir! Mas agora, meu pai disse: Ficarás conosco para sempre.
— Tu és boa, senhora: tu choravas quando Peri ia partir; pediste para ele ficar.
— Então não tens queixa de Ceci? disse a menina sorrindo.
— O escravo pode ter queixa de sua senhora? tornou o índio simplesmente.
— Mas tu não és escravo!... respondeu Cecília com um gesto de contrariedade; tu és um amigo sincero e dedicado. Duas vezes me salvaste a vida; fazes impossíveis para me veres contente e satisfeita; todos os dias te arriscas a morrer por minha causa.
O índio sorriu.
— Que queres que Peri faça de sua vida, senhora?
— Quero que estime sua senhora e lhe obedeça, e aprenda o que ela lhe ensinar, para ser um cavalheiro como meu irmão D. Diogo e o Sr. Álvaro.
Peri abanou a cabeça.
— Olha, continuou a menina; Ceci vai te ensinar a conhecer o Senhor do Céu, e a rezar também e ler bonitas historias. Quando souberes tudo isto, ela bordará um manto de seda para ti; terá uma espada, e uma cruz no peito. Sim?
— A planta precisa de sol para crescer; a flor precisa de água para abrir; Peri precisa de liberdade para viver.
— Mas tu serás livres; e nobre como meu pai!
— Não!... O pássaro que voa nos ares cai, se lhe quebram as asas; o peixe que nada no rio morre, se o deitam em terra; Peri será como o pássaro e como o peixe, se tu cortas as suas asas e o tiras da vida em que nasceu.
Cecília bateu com o pé em sinal de impaciência.
— Não te zanga, senhora.
— Não fazes o que Ceci pede?... Pois Ceci não te quer mais bem; nem te chamará mais seu amigo. Vê; já não guardo a flor que me deste.
E a linda menina, machucando a flor que arrancou dos cabelos, correu para o seu quarto e bateu a porta com violência.
O índio voltou pesaroso à sua cabana.
De repente cortou o silêncio da noite voz argentina, que cantava uma antiga xácara portuguesa, com sentimento e expressão arrebatadora. Os sons doces de uma guitarra espanhola faziam o acompanhamento da música.
A xácara dizia assim:
"Foi um dia. — Infanção mouro Deixou Alcáçar de prata e ouro. Montado no seu corcel. Partiu Sem pajem, sem anadel. Do castelo à barbacã Chegou; Viu formosa castelã. Aos pés daquela a quem ama Jurou Ser fiel à sua dama. A gentil dona e senhora Sorriu; Ai! que isenta ela não fora! ‘Tu és mouro; eu sou cristã’: Falou A formosa castelã. ‘Mouro, tens o meu amor; Cristão, Serás meu nobre senhor.’ Sua voz era um encanto, O olhar Quebrado, pedia tanto! ‘Antes de ver-te, senhora, Fui rei; Serei teu escravo agora. Por ti deixo meu alcáçar Fiel; Meus paços d’ouro e de nácar. Por ti deixo o paraíso, Meu céu É teu mimoso sorriso.’ A dona em um doce enleio Tirou Seu lindo colar do seio. As duas almas cristãs, Na cruz Um beijo tornou irmãs."
A voz suave e meiga perdeu-se no silêncio do ermo; o eco repetiu um momento as suas doces modulações.
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa